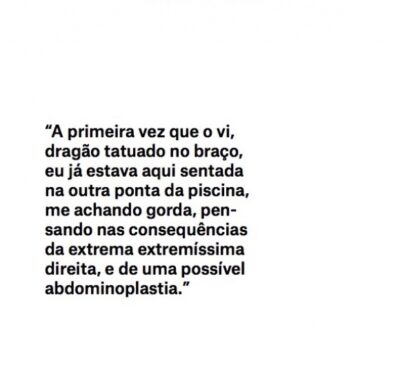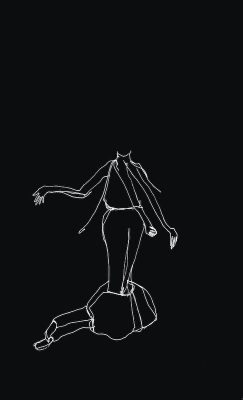Um palacete e sua história
A campainha da porta de entrada talvez seja a única coisa que lembre o passado… Chega a dar arrepio de tão igual que era seu timbre, nos tempos de minha avó! Época em que o Palacete era, digamos, a porta da frente das casas do meu pai e do meu tio… Todas davam pra alguma parte dos jardins. A nossa dava para a horta, e a do tio, para a garagem e lavanderia. De qualquer maneira, a entrada/saída de todos os carros era pelo seu grande portão de ferro.
Sempre ouvi dizer que “é o dono quem faz a casa”. Não importa o tamanho, estilo, local etc. Nesse caso, todo o manejo e protocolo do palacete era ditado por minha avó, que ficou viúva antes de meu pai se casar e que comandava o batalhão de empregados, fornecedores e mantenedores com disciplina, porém com amizade.
Sua personalidade se espalhava pelo enorme casarão, em todos os vasos de flores, sempre vindos de seu jardim ou da casa de Petrópolis, da arrumação da casa em si, da mesa de jantar, dos menus que todas as manhãs ela ditava para a cozinheira-chefe que aguardava ser chamada no hall do segundo andar, que dava para o quarto de vestir e escritório. Depois fazia as contas com o mordomo e estava livre de seus afazeres “burocráticos”.
Outro detalhe que chamava atenção de todos de fora, menos de mim, pois nasci vendo aquilo como “fato feito”: ela abria os jardins da frente, que davam para a rua principal, para todas as crianças do bairro, onde haviam balanços e outros brinquedos. Achava um absurdo que crianças morassem em “apartamentos”.
Ah… Como me lembro de detalhes…
Dos jardineiros colocando estrume, que vinha das nossas cocheiras do Jóquei Clube, para adubar os canteiros de flores e os gramados.
Da minha avó, pequena de estatura, mas sempre muito magra e elegante, agachada nos canteiros da horta, arrancando tiririca e nos dizendo da importância de se trabalhar com as mãos na terra.
Da estufa, com os vasos de antúrios, avencas e orquídeas para serem trocados semanalmente nas salas e na capela da casa, com aquele cheiro de húmus inesquecível.
O galinheiro onde, no Natal, os perus engordavam. A diversão era ver os funcionários darem cachaça para os bichos se embebedarem e depois serem mortos com um corte certeiro no pescoço, colocados na água fervendo, depenados e levados em tabuleiros à cozinha para os preparos da ceia.
Na enorme garagem ficava parada eternamente a Rolls Royce de meu avô, que nunca vi circular, mas que se tornou palco para inúmeras brincadeiras e fantasias.
Minha avó era muito religiosa, de modo que ia à missa todos os dias na Igreja do outro lado da rua, nos jesuítas de Sto. Inácio, colégio onde meu pai, tios e nós todos, netos, estudamos. Era só atravessar a rua, facilidade que dava margem a muitas “fugas” na hora do recreio, assim como matanças das aulas chatas como Latim e Canto!
Tinha entre seus hábitos rezar um rosário em seu oratório particular, atrás do quarto de dormir, onde haviam centenas de escapulários, imagens de santos, terços de todos os materiais, medalhas, água benta, e uma coisa que me impressionava muito: uma “farpa da cruz de Cristo”, que meus avós receberam do Papa por alguma obra realizada para a Igreja, e que depois de sua morte doamos à PUC no Rio. Aliás, foi em seus salões que um grupo de intelectuais e novos cristãos, com o apoio financeiro dela, criaram a Pontifícia Universidade Católica do RJ.
Nos dias de seu aniversário, nas primeiras quintas-feiras do mês e em algumas ocasiões especiais, às 8h tinha missa na capela do segundo andar, aí sim, com a presença dos filhos, netos e funcionários, depois seguido de um lauto café da manhã.
Poderia ter sido uma beata chata, mas não. Era ativa em todos os sentidos.
Sabia temperar sua fé com o dia a dia do mundo à sua volta, principalmente sua família. E fazia tudo para agradá-los.
Apesar de sua vida social se restringir muito após a viuvez, e mais ainda depois da morte de sua única filha, a mais velha e adorada por todos — foi um câncer fulminante —, assim mesmo era de lei: todos os domingos, às 20h, reunia para jantar filhos, netos (depois dos 11 anos) e seus irmãos, com suas famílias, na enorme sala de jantar, numa longa mesa, onde ela sentava na cabeceira da esquerda, e seu irmão solteirão, meu tio-avô — que foi morar com ela depois da morte do meu avô num acidente aéreo —, na da direita.
Ai de quem faltasse sem uma boa razão. Havia sempre presente alguma autoridade do clero, literatura ou da política, quando o assunto invariavelmente era se o Brasil viraria comunista e nós todos iríamos para o “paredon a la Cuba”.
Às vezes algum artista protegido/afilhado, após o jantar, tocava suas músicas preferidas no piano do salão ao lado. Ela, abanando seu inseparável leque, olhava sorrindo para o além.
Os jantares de domingo e aniversários de família eram complementados com os chás de toda quinta-feira, quando ela recebia as amigas. Não havia convites, já era um costume: aquele bando de senhoras de cabelos grisalhos, roxo ou branco, que ela apelidava de “meninas” e que ao longo do tempo foram diminuindo pela evolução natural da raça. Mas era o dia que eu mais gostava. Mal chegava em casa do colégio, largava a pasta e corria pra cozinha do casarão para devorar as sobras dos doces e sanduíches.
Quanto a seus hábitos pessoais, ela tinha enorme apego aos netos, a quem reservava todas as manhãs. E a cerimônia de sua preparação era um teatro, sempre igual, mas fascinante para nós, crianças. Ela como protagonista, enquanto a camareira escovava os longos cabelos que depois iam se transformar num coque, presos por um grampo de tartaruga, contava histórias e passava água de colônia, pó de arroz e depois fazia em cada face uma bola de rouge, espalhando no rosto, dizendo que tinha ido à praia. Aquilo para mim era mágica!
Depois ouvíamos discos, dançávamos com ela, brincávamos, tudo nesse quarto de vestir onde os espelhos multiplicavam todos nós, fazendo ser uma festa.
Depois do despacho com o mordomo e a cozinheira, descia no elevador e ia esperar o carro na porta da frente (essa mesma da campainha).
Independentemente do tempo, levava um guarda-chuva que ficava batendo no mármore do piso, impaciente com a demora do motorista que sempre tinha uma dor de barriga na hora de sair.
Era uma visita a um convento de freiras, uma obra social ou a Copacabana para um passeio pela praia e depois nas mesmas lojas: Sloper, Bicho da Seda, Pernambucanas, onde comprava muitos cortes de tecidos para enviar aos necessitados, ou então, para mim, a melhor: uma ida à confeitaria Colombo no Centro. Na época das festas eram centenas de bolos, panetones, ovos de páscoa e outras guloseimas que seriam enviadas às obras que ela ajudava. Ficávamos na sala do gerente, que mandava me servir um bom lanche para eu sossegar e deixar ela fazer os cartões com sua caneta Parker preta e ouro, com uma letra firme e elegante.
Na Páscoa, depois da missa e do café da manhã, a caça aos ovos no imenso jardim; em junho a Festa de São João, em que um tio se encarregava dos fogos. A fogueira era enorme, assava milho, batata doce, pipoca, e nós, netos, fazíamos as bandeirinhas com metros e metros de papel de seda — era a nossa contribuição. Ela decorava tudo com lanternas japonesas embaixo das mangueiras. Era uma excitação ficar acordado “até tarde”. Em outubro, no Dia das Crianças, armava um circo no gramado e chamava o Fred e o Carequinha, a dupla mais famosa de palhaços daqueles tempos. Era uma alegria! No Natal fazíamos “presépio vivo” e o amigo oculto dos “mais velhos”.
Realmente era um feudo, no meio do trânsito da cidade que cada vez mais crescia, onde não havia lugar para esnobismos, tudo era normal e incrivelmente envolto de carinho e amor, afastando assim qualquer pretensão de show off.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista