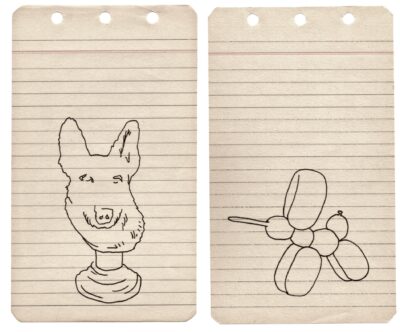De algum modo, a ópera é o mais inverossímil dos gêneros dramáticos. A ideia mesma de pessoas que cantam em vez de falar, muito antes da revolução brechtiana, já realizaria o “efeito de estranhamento”, tão estimulante quanto mal entendido entre os tantos seguidores do dramaturgo alemão. O fato é que, desde seus primórdios, em finais do século XVI, a ópera existe a partir de um pacto absolutamente fantástico. E o pacto se dá em dois níveis: na criação, entre o compositor e a narrativa, e na performance, entre o palco e a plateia.
E o que reza o pacto? “Deixai fora toda vossa inteligência, vós que entrais”; pois, a partir da premissa de que nada daquilo que será produzido diante de seus olhos é possível – e da ilusão de que não pode sequer pretender sê-lo –, o libretista e o público precisam resignar-se ao papel eventualmente secundário que todas as artimanhas de sua inteligência podem eventualmente fazê-los construir – ou desfrutar. Como na máxima de Jep Gambardella, protagonista do filme A Grande Beleza, é importante, no universo da ópera, reconhecer que “é tudo um truque”.
Mas qual a natureza deste truque? A ilusão a partir da qual funciona a ópera é muito diferente daquela realizada pelo circo, por exemplo. Primeiro pois não há enigma a ser desvendado – o encanto da ópera não se dá a partir daquele maravilhamento da adivinhação e do quebra-cabeça que temos pelos mágicos e suas cartolas, os coelhos desaparecidos ou pessoas cortadas ao meio. A ilusão da ópera tampouco se dá pelo fascínio acerca do sobre-humano, aquele que, em alguma medida, as vozes em toda sua projeção e agilidade podem sugerir, tais como nos sugerem contorcionistas ou corredores de olímpicos. Não: o tipo de encanto que Usain Bolt nos faz ter, embora um elemento inequivocamente presente, é sempre tangencial numa boa performance operística.
A ópera tem suas raízes numa ruptura: a de tentar fazer com que a música deixe de pintar o significado das palavras e passe a ilustrar a emoção do texto no qual as palavras se inserem. Como diz um dos importantes colaboradores na inquieta produção teórica que antecedeu o advento da ópera, o compositor e teórico Vincenzo Galilei (1533-1591), pai do famoso astrofísico Galileu Galilei, a música deve passar a “expressar os conceitos da alma”. Desde lá, até aqui, com todas as suas transformações de estilos e propostas, é nisso que fundamenta-se o gênero. E é nestes termos que deve ser lida uma passagem preferida do livro “Altos voos e quedas livres”, do escritor britânico Julian Barnes:
“Durante a maior parte da minha vida, essa tinha me parecido ser a forma menos compreensível de arte. Eu não compreendia realmente o que estava acontecendo (apesar de ler atentamente os resumos da história) (…) Óperas parecem peças inteiramente implausíveis e mal construídas, com personagens berrando ao mesmo tempo na cara uns dos outros. (…) Mas agora, na escuridão de um auditório e na escuridão do luto, a implausibilidade do gênero, de repente, desapareceu. Agora parecia natural que as pessoas entrassem no palco e cantassem umas para as outras (…) Em ‘Don Carlo’, de Verdi, o herói acabou de conhecer sua princesa francesa na floresta de Fontainebleau e já está de joelhos cantando: ‘Meu nome é Carlo e eu te amo’. Sim, pensei, está certo, é assim que a vida é e deveria ser, vamos nos concentrar no que é essencial. É claro que a ópera tem um enredo (…), mas sua função principal é levar os personagens o mais rápido possível ao ponto em que eles possam cantar a respeito de suas emoções mais profundas. A ópera vai direto ao ponto, assim como a morte (…). Aqui estava meu novo realismo social.”
Não é nossa inteligência que trabalha a todo vapor num espetáculo operístico. Devemos, ao contrário, estar abertos ao arrebatamento de uma espécie de contra inteligência, as emoções que nos levam pelo peito, nos colocam sob vertigem. Um bom espetáculo de ópera é sempre realista, no sentido mais objetivo da palavra.
Mas isso não é uma contradição? Claro que não. Todos que em algum momento da vida estudamos roteiros e narrativas – sejam elas novelescas, cinematográficas ou teatrais – sabemos da importância da eleição dos elementos da trama, das menores às maiores, com fins de construção de um todo coerente e orgânico; numa boa trama, tudo deve concentrar-se ao redor dos “problemas” dos protagonistas e tudo – antagonistas, coadjuvantes, cenários, figurinos, objetos de cena e quetais – deve funcionar para dar sentido à história.
Mas apenas a ficção tem esse compromisso com o sentido. A realidade, não. A realidade é a soma de todas as exigências feitas pelas casualidades, as forças intempestivas, as escolhas estultas e maquiavélicas que as pessoas fazem. Uma trama profundamente realista é, de fato, aquela onde tudo escapa, nada pode ser planejado, cada incidente é decorrência de uma cadeia infindável de incidentes cuja participação não é nem pode ser prevista.
E a ópera segue essa máxima. Ela “vai direto ao ponto, assim como a morte”. Os amores acontecem à primeira vista, pois todos sabemos que, na realidade, os outros amores inexistem; os personagens morrem cantando por horas a fio, pois é assim a vida: morremos não de uma hora para outra, mas a cada segundo, até o suspiro final. A ópera organiza-se a partir da ilusão aparentemente mais ordinária, a de que aquilo que vemos e ouvimos é falso – se os cantores cantam, claro, nada daquilo pode ser de verdade. Mas, em algum lugar, sabemos que não é assim: e ali, todo aquele nonsense, aqueles personagens movidos pela intensidade e verve, a construir e destruir sonhos e relacionamentos, a tramar planos inexequíveis e julgar por valores impensáveis quem deve ou não deve viver, é ali, naquele caldeirão de som e fúria, que podemos de fato ver por que a vida é mesmo uma história contada por um idiota, sempre vazia de significado.
Na ópera, como na vida, sentimos intensamente. Sua ilusão é a de se fazer passar por impossível. Mas, como nos diz Julian Barnes, ela trata “de como a vida é” – e deveria ser.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista