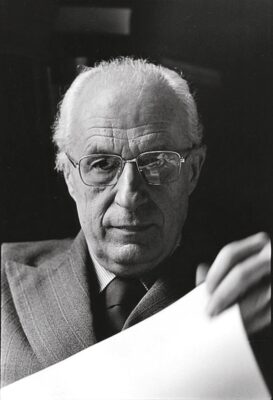Schrödinger
Acordei descoberta, o corpo inteiro molhado de suor, o imã gigante me sugando junto com Erwin, o gato, pra dentro do buraco negro que, então, explode em milhões de caquinhos, uma gosma brilhante e transparente, o fim da ilusão. Meu coração batendo afoito ao som de mil betoneiras lá fora. Depois da covid-19, nunca mais a sensação de despertar renovada. Sonhos exaustivos envolvendo a limpeza de espaços imensos, enlameados e repletos de objetos sem utilidade, quebrados, eletrodomésticos ridículos, como uma máquina de fazer muffins, e eu me vendo de fora, narradora e protagonista, munida de pano, esfregão e produtos que prometem eliminar todo o lodo, de quatro no chão. Era no clímax, quase sempre catastrófico e que definia o clima emocional do dia, que eu acordava, sem fôlego, o ar condicionado esgoelando.
É provável que seja um efeito colateral passageiro, mas difícil dizer quanto tempo pode durar ou se vai perdurar, disseram vários médicos, sem constrangimento, já que um dos grandes legados da covid foi ajudar a expor o tamanho da nossa ignorância. Antes de deitar, me brindei com um pequeno coquetel de alprazolam, florais de Bach e três quartos da garrafa de um chardonnay razoável que encontrei na geladeira, mas nada mais parecia fazer efeito.
Procurei os meus óculos — outro legado da covid: a vista cansada, muito natural começar na sua idade. Claro, eu sei, respondi, com preguiça de explicar pra oftalmologista que minha visão era, até então, invejável, 20/10, a tal da acuidade visual de excelência, e depois de me recuperar da infecção pelo SARS-CoV-2 foi para 20/67, subnormal, péssima. Me ocorreu que só vi fotos da minha mãe usando óculos escuros, nunca de grau, e que minha mãe não chegou à minha idade. Tateei os objetos no criado mudo e paft, o estardalhaço do copo d’água contra o chão de tacos. Se eu acreditasse em presságios, diria que desastres maiores se anunciavam, mas a verdade é que o desastre já havia se instalado.
Cega como uma toupeira e sem muito senso olfativo. Unfit for living, dizia papai, em seus bons momentos, quando brindava o mundo com seu sorriso sedutor, quase infantil, e aquele sotaque britânico meio falso lapidado nos anos em Oxford. Meus melhores anos, ele gostava de repetir, e acrescentava: antes de conhecer sua mãe. Notei, preocupada, a ausência de Erwin, que costumava dormir no outro lado da cama. Revirei os travesseiros e encontrei os óculos debaixo de um; o celular, embaixo de outro Eram 3h47.
Grogue e chamando o gato por seus vários apelidos — bóson de Hggs, Schrödinger, papi, levantei, me arrastando, e coletei os caquinhos de vidro. Circulei pelo apartamento de quarenta e dois metros quadrados, racionalizando a situação. Erwin era um animal sensível, que tinha o hábito meio esotérico de sumir nas luas cheias. E eu, o de buscar, cambaleante, a reconstituição dos meus passos da noite anterior, stalker de mim mesma. Nenhum dos dois estava feliz na caixinha sem ar pra onde nos mudamos de última hora. Um relance da minha imagem no reflexo do armário revelou uma figura tragicômica, cabelos desgrenhados, os óculos sujos e o roupão branco felpudo manchado de Activia de frutas vermelhas.
Arranquei os óculos da cara para lavá-los na pia com detergente e, contra o piso cerâmico frio cor de âmbar, detectei uma mancha preta. Como num dos sonhos então recorrentes, o tempo desacelerou. Sentei sobre os joelhos, diante da mancha, inescapável. Enfiei os óculos sujos de volta na cara e, trêmula, vi, com todos os seus contornos, o gato, estatelado, os olhos verde-água muito abertos. E, assim, um par de lentes sujas selam o destino de Erwin, o gato. Antes superposto, uma probabilidade. Agora morto. O mundo quântico é bizarro, mas a realidade clássica é cruel.
Circundei o gato, confusa, até me deixar tombar pela gravidade e deitar ao seu lado no chão frio. Encostei minha orelha no seu peito peludo e as lágrimas desceram. Herr Schrödinger. Alisei suas patinhas, o pequeno rosto manchado de marrom chocolate molhado pelas lágrimas quentes. O interfone tocou, mas não me movi. Em alguns instantes, sabe-se lá quantos, o tempo suspenso, a campainha.
Me arrastei até a porta e, pelo olho mágico, vi Iandara, vestida em seu poncho de dormir. Do seu apartamentinho de zeladora, diretamente sobre o meu, ouvia-se tudo. Abri apenas uma fresta. Dona Stella, aconteceu alguma coisa? O gato, eu disse, sem conseguir articular o resto, aos soluços. Seu rosto quadrado e amassado de sono tensionou, e ela olhou sobre os meus ombros, talvez em busca de vestígios de um crime. É verdade que meu consumo de álcool havia aumentado bastante durante a pandemia, e muitas vezes me preocupei com o que Iandara pensava das muitas garrafas vazias no meu lixo reciclável. Suas expressões eram difíceis de interpretar. Ela disse que já voltava. Fechei a porta e, em alguns instantes, Iandara estava na minha cozinha com um lençol branco, no qual embalou Herr Schroedinger e, diante do meu desamparo, corroborado pelas manchas de iogurte rosa no roupão, ofereceu ajuda com o enterro. Eu, que sempre me gabei de conseguir lidar sozinha com as situações mais difíceis, que fui sozinha pra clínica quando não podia mais olhar na cara do Edu nem queria contar pra amiga nenhuma que a relação de seis anos seria abortada junto com um feto; que fui trabalhar normalmente no dia seguinte e combinei comigo mesma que não pensaria mais no assunto; que reconheci o corpo do meu pai, aos 21 anos, um dia antes da entrevista pro estágio, que eu tanto queria no colisor de partículas e pra onde fui alguns dias depois. Eu fui incapaz de me despedir de um gato.
Posso te oferecer um café? A água já está no fogo.
Mas, sem dizer palavra, Iandara saiu do apartamento, levando com ela o meu gato morto.
Trecho de Supernova, romance em progresso de Ananda Rubinstein.
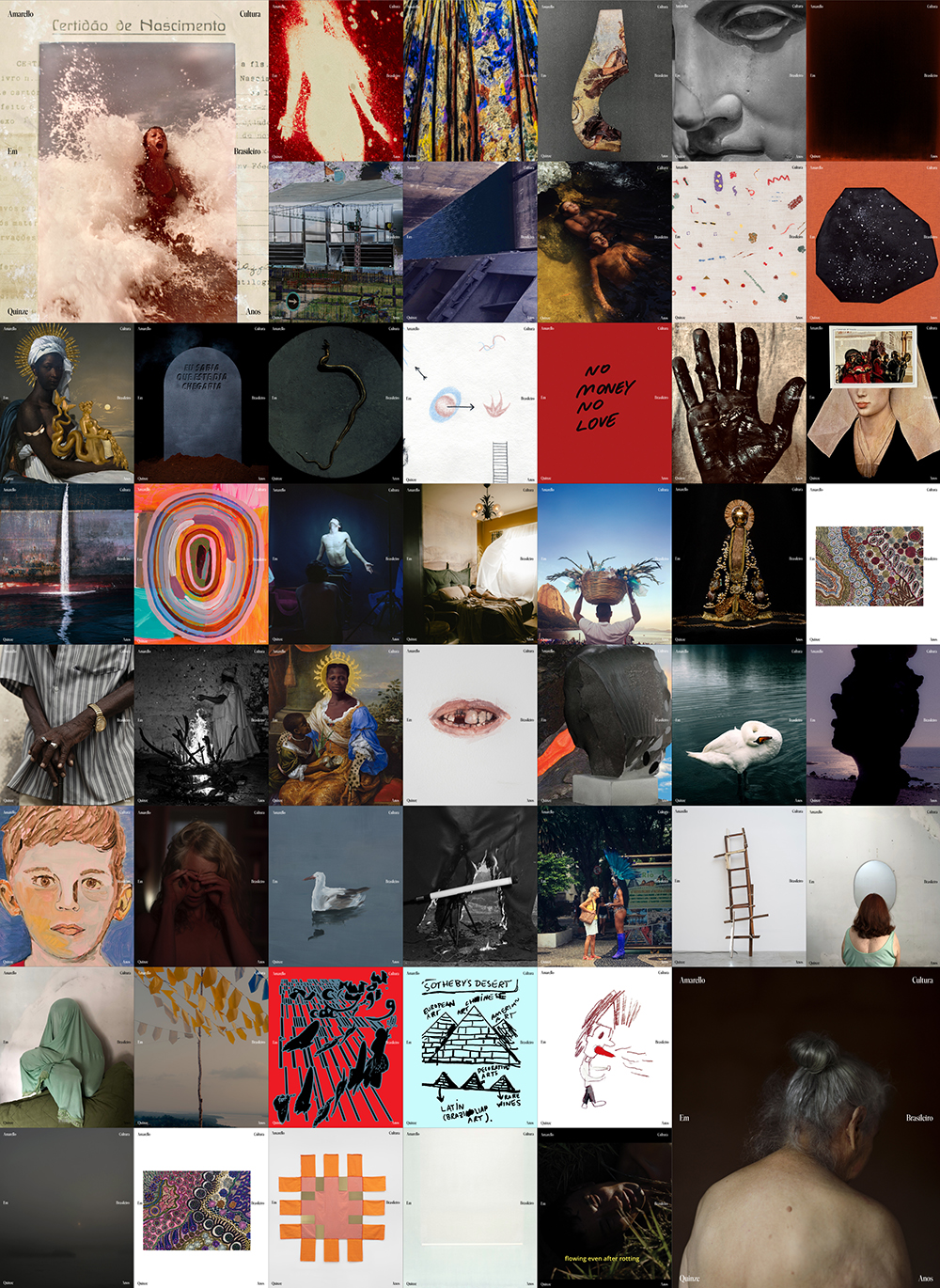
Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista