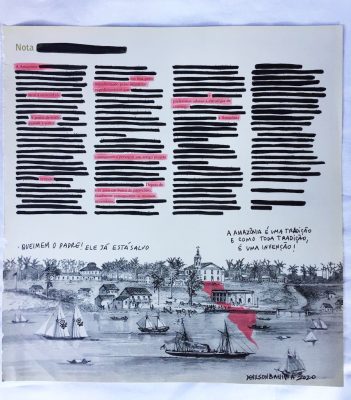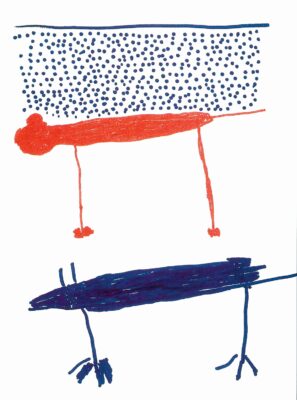A carreira da cineasta Laís Bodanzky é recheada de incursões bem-sucedidaspor diferentes gêneros e matizes — do comentário social e antimanicomial de “O Bicho de Sete Cabeças” (2000), passou pelo conto de amadurecimento de “As Melhores Coisas do Mundo” (2010) e chegou ao complexo estudo da mulher moderna de “Como Nossos Pais” (2017). Isso para não citar o envolvimento com diversas outras produções, entre elas a animação “Uma História de Amor e Fúria” (2013) e o documentário “Ex-Pajé” (2018), ambas assinadas por Luiz Bolognesi.

Agora, explorando a famigerada lacuna de registros acerca dos meses em que se deram o regresso de Dom Pedro I à Europa, pouco depois de abdicar ao trono do Brasil, a realizadora toma a liberdade de, por meio do olhar contemporâneo, falar retroativamente sobre o apagamento histórico da mulher, a masculinidade tóxica e o racismo — problemas que perduram até hoje. Em ritmo de bicentenário da Independência, “A Viagem de Pedro” chega aos cinemas para explicitar as contradições daquele Brasil incipiente de 1831 e refletir sobre este de agora, tão incoerente quanto.
Não por acaso, encontrando nos paradoxos a sua espinha dorsal, o drama histórico de Bodanzky se passa quase que totalmente dentro de um navio, enquanto o imperador é assombrado pelas memórias do passado. A “viagem” conclamada no título, para além do literal itinerário marítimo, também faz referência às alucinações pelas quais o personagem interpretado por Cauã Reymond passa ao longo do período de confinamento na embarcação. Para que a deterioração do imperador se faça gritante e se manifeste não apenas com recursos superficiais (roupas puídas, olhos esbugalhados, cabelo e barba desgrenhados), os personagens que o circundam representam valores e problemáticas que asfixiam sua imponência e probidade.

Maria Leopoldina (Luise Heyer), primeira esposa de Dom Pedro, morta em 1826, aparece em forma de lembrança para realçar a perspectiva feminina do roteiro. Amélia (Victória Guerra), a segunda esposa — essa, no entanto, totalmente viva na fragata —, joga luz sobre a insegurança do marido, que a trata com rispidez e violência por não conseguir engravidá-la. Lars (Welket Bunguê), o contra-almirante da tripulação, evoca a temática da escravidão a partir da perspectiva de seus “privilégios”, sendo a única pessoa negra que senta à mesa com Pedro. E Dira (Isabél Zuaa), trabalhadora livre e negra da embarcação, faz respingar comentários sobre a mulher e a escravatura, oferecendo com sua forte presença as melhores pinceladas de todo o quadro que é o filme. O elenco também conta com Sergio Laurentino e Francis Magee, além da participação especial de Sofia Marques, filha de Reymond.
Muito embora tenhamos personagens importantes pelos arrabaldes, a personalidade central ainda é a de Dom Pedro I. Por mais que se fuja do ufanismo típico das biopics norte-americanas, evitando a todo custo aquilo que hoje entendemos como “passação de pano”, a perspectiva da história contada é, acima de qualquer outra, a do imperador hegemônico. Mas, às inevitáveis e compreensíveis críticas que surgirão à tal característica, pode-se argumentar que o propósito do longa-metragem é justamente traçar um paralelo entre aquele homem branco europeu e os cacos provenientes de sua figura despedaçada, estilhaços que fustigam o Brasil de hoje.

Vemos em “A Viagem de Pedro” uma pessoa que perdeu o controle, inundado em contradições, presa entre duas nações que não possuem o seu coração (o que é irônico, tendo em vista a atual exposição do órgão torácico do imperador, conservado em formol). Bodanzky e Reymond derrubam o herói da Independência de cima do seu cavalo para construir a imagem de um imperador indefeso e sem trono, de alguém que segue à deriva por suas imperfeições e comportamentos erráticos. Todos — de Dom Pedro e Maria Leopoldina à população brasileira, de então e de agora — estão a bordo de uma jornada que, na realidade, nada tem de heróica. O navio se encaminha para uma grande tragédia.
Em dado momento do filme, o imperador se questiona “Como vou ganhar uma guerra de pau mole?“. Da pior maneira possível, a frase faz coro à esdrúxula reivindicação de Jair Bolsonaro ao título de “imbrochável”, esbravejada em pleno bicentenário da Independência, evidenciando a falência de muito do que foi imaginado para o país. O Brasil contraditório, nem lá nem cá, é tropical mas continental, servil mas opressivo, plural mas desigual. E, ao que tudo indica, também é impotente — mesmo no auge de sua imbrochabilidade.
Brasil, 2022: os grilhões reluzem à luz do sol e Dom Pedro segue de mãos dadas com a nação que libertou há 200 anos.