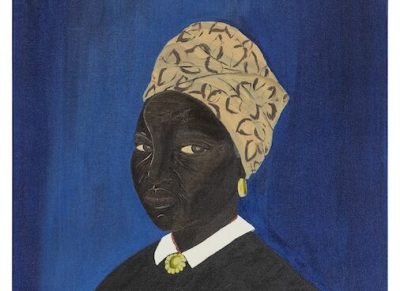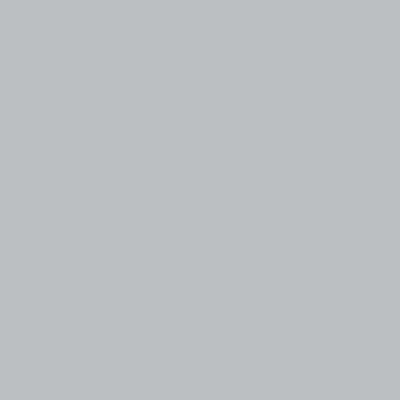Minha vida é uma novela
por Hermés Galvão
Subestimemos de tudo um pouco da nossa quase nada pop cultura, mas jamais sejamos injustos com as nossas novelas. Esqueçamos de ontem em diante e voltemos no tempo para lembrar de como éramos felizes, e sabíamos, diante da televisão de tubo sem controle remoto. Não cometamos a injustiça de