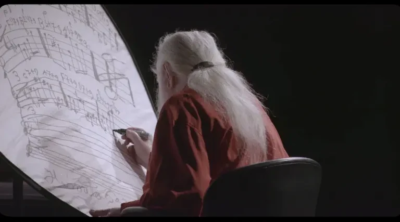1. Espelho
Minha avó era semianalfabeta, mas sabia ler a borra do café. Agasalhava os santos de barro no inverno e discutia questões práticas e aflições familiares com o Sagrado Coração de Jesus que tinha na parede da sala. Pé de pano, chegava nas casas de mansinho, sempre na hora crítica, para trazer sua benção e acalmar os ânimos da nossa alcateia. Maria o nome dela, e tinha o dom das certezas. Eu não. Supuseram-me sempre uma boa leitora. Uma vida entre livros, mansa aprendizagem, mas não sei ler os sinais que, todas as manhãs, vejo no fundo da xícara. E todas as manhãs eu penso nisso tomando café para acordar. Suspeito muito e cada vez mais do que tenho alcançado com o letramento. Quanto mais leio, mais respeito o que permanece estranho. E se essa avó que descrevo for tomada como um ser alienado em fantasias e vítima de seu próprio ilusionismo, eu lançaria a dúvida sobre se existe alguém nesse mundo de palavras que também não o seja. Por hábito e por profissão, tenho as paredes abarrotadas de livros, instrumentos que me levariam, se eu realmente o quisesse, à mais absoluta descrença. Mas mesmo o que não é ficção e que faz pensar não ameaça, antes confirma o mistério que procuro preservar, das pessoas, dos bichos e do mundo. Cultivo, por conta disso, um altar dentro de mim onde pus a imagem daquela avó acendendo velas na escuridão. Ergo esse altar ao mistério, às coisas que não têm nome nem narrativa. E o inominável, fora da linguagem, se me responde, eu nunca percebi. É bom assim. Enquanto houver mistério, a avó estará dentro, sempre por perto.2. Fantasmas
A sensação que dava era que minha avó já nascera velha, que viera ao mundo assim, já avó. Tanto quanto ficava evidente que a criança que um dia tivera sido, estava nela intacta, como um motor de atitudes e gestos, para o bem e para o mal. Tinha uma caixa de papelão onde guardava, misturados, fotos de família, pedaços de bijuterias quebradas, orações de santinhos e receitas manuscritas em folhas que retirava dos meus cadernos velhos. Eu gostava de sentar com ela na cama, futricar naquelas coisinhas e ler a sua ortografia de criança (sua alfabetização fora precária porque, no tempo propício, ela fugia todos os dias para um acampamento cigano onde ia brincar de circo e regressava no fim da tarde, na mesma hora em que todas as crianças da vila retornavam da escola, só ela que não). Um dia encontrei na caixa uma receita de frango de panela: os ingredientes em forma de lista, sem nenhuma medida e, em vez de indicar o modo de preparo, ela simplesmente anotara: “colocar uma peçinha de prata no meio para o frango ficar macio”, assim com o cê-cedilha mesmo. Era também curioso o tratamento que ela dava às fotos de família: quando nas imagens de grupos houvesse um desafeto seu, ela simplesmente recortava a silhueta da pessoa, e a foto ficava amputada, com um fantasma no meio. Aquilo metia um horror que parecia assombrar a figura desaparecida, de modo que os velórios ficavam povoados desses seres sinistros, parentes estranhados que apareciam para dar os pêsames, mas também para provar (eu concluía, com os meus botões) que estavam vivos e presentes. Por outro lado, mesmo os desafetos (sempre perdoáveis) tinham por ela senão ternura, ao menos respeito; todos, no fundo, o que desejavam era a sua benção. E nisso ela era dadivosa: como uma espécie de emissária, ela desenhava cruzes no ar, rebatizando os seres com seu amor. Sempre tão autêntica e sincera a minha avó em seus juízos. Era afinal uma santa, uma criança danada.3. Nuvens
Hoje, sei e sinto que nossas leituras do mundo não eram assim tão díspares. Não tenho suas competências, mas fui sendo educada pela poesia, e isso quer dizer que tudo que parece ser a pele do real tem sempre outras camadas, tudo o que conhecemos é sempre outra coisa. O investimento no estado de poesia cria em nós uma vidência libertadora. E a sustentação dos véus do real depende dessa atenção às ausências que a palavra cria – da borra do café aos astros, todos os nomes e narrativas são pactos entre cifras e sentidos. Mesmo a linguagem científico-filosófica é, numa perspectiva que nunca deixa de ser antropológica, igualmente frágil e delirante. Levanto-me, vou à estante e trago para aqui um livro: O Novo Espírito Científico, de Gaston Bachelard (esse título é meu salvo-conduto). Abro-o e deparo com um trecho sublinhado: “Assim, o vento arrasta durante muito tempo, sem arrancá-lo, o animal fabuloso desenhado na nuvem por uma intuição primeira, mas basta que a nossa fantasia se interrompa para que a forma imprevista se apresente como irreconhecível.” Atente-se para isto: não é o vento que faz desaparecer o animal que vemos na nuvem, mas a nossa fantasia que se distrai e vai cuidar de novos ilusionismos. Ausente a fantasia, as nuvens são enigmas à espera de nova forma, nova formulação. Pensava em tudo isso – nessa vidência que a arte propicia aos grandes distraídos que sobrevivem num mundo cansado das promessas da ciência e da tecnologia – e, por uma sincronicidade que sempre acontece quando se está a criar um texto, colhi, na visita que fiz à 33º Bienal de São Paulo, este fragmento de texto ou feixe de luz do artista e curador Waltercio Caldas: “(…) acredito que a arte pode melhorar a qualidade do desconhecido. E nos resta a questão: como alterar as regras em benefício do que ainda não sabemos?” Penso que o novo espírito científico deva estar afinado com essa proposta, que não é propriamente a de decifrar enigmas em favor de um mundo dominado, mas de torná-los mais sugestivos na interação com a nossa capacidade de magicar.
Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista