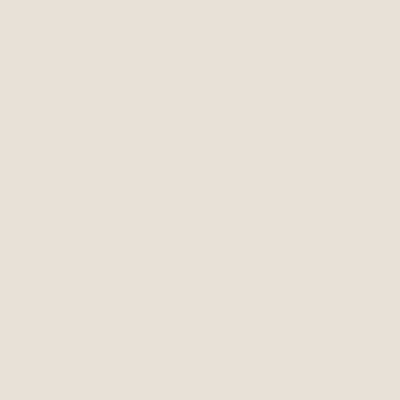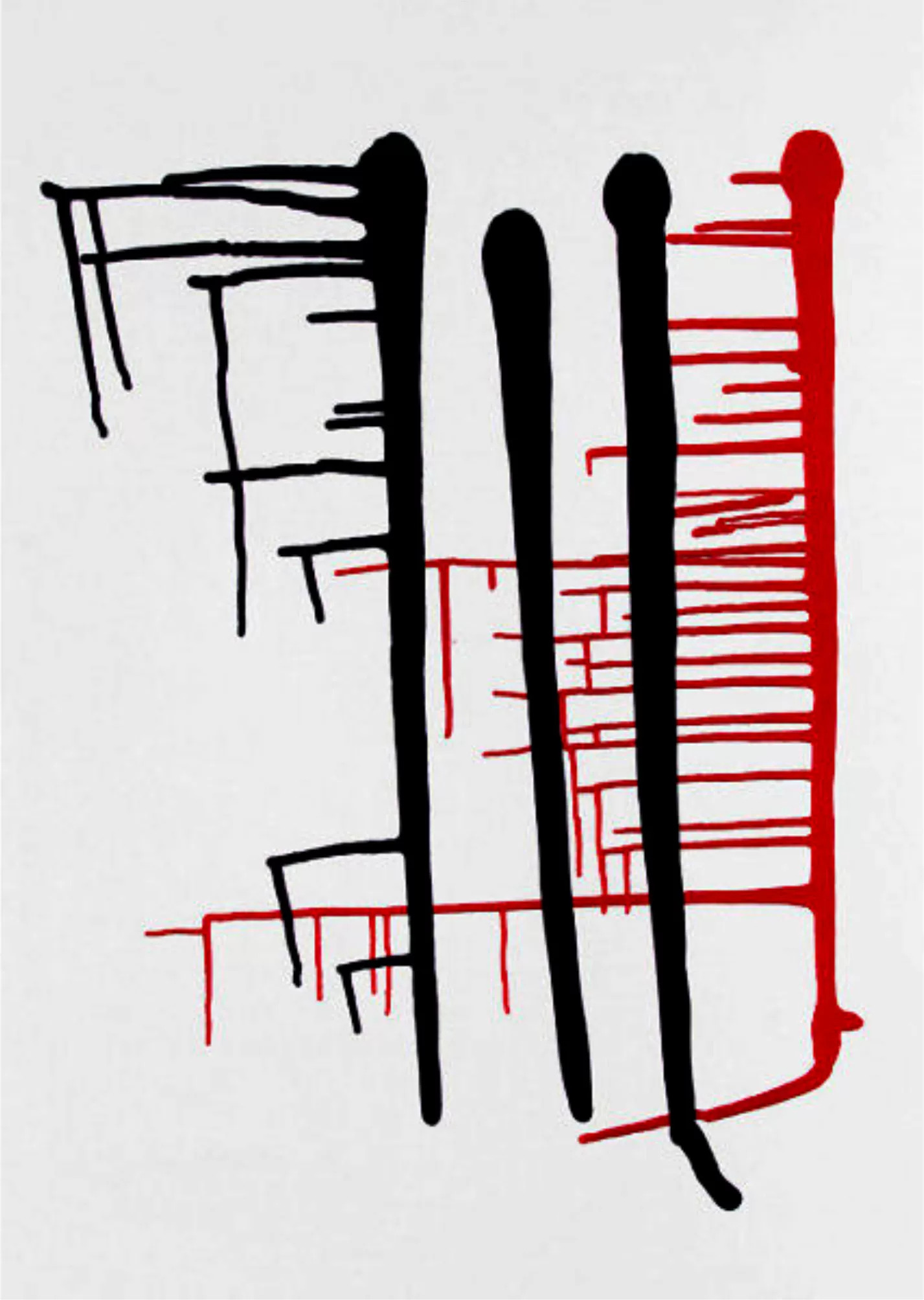NotUrna, dez anos depois
Onde estaria o sujeito mesmo, “em sua verdade e efetividade”, pergunta Nancy1. Em nenhum lugar mais do que em seu retrato, responde ele. Desse modo, não haveria mais sujeito que na representação do retrato. Isso que vem à superfície e se põe sobre a face – surface – é onde podemos conhecer o mais próximo do que somos, fomos e/ou podemos ser? No nosso retrato, onde nos lemos, a imagem que vemos ou lembramos se movimenta ou está parada? Concedemos à imagem outra possibilidade de existência que não a que escolhemos vestir, diferente daquela narrativa que retorna sempre que pensamos em quem somos – uma extensão que talvez se encurte com o passar dos anos, e vai reduzindo pouco a pouco os comandos da memória de nosso rosto: tivemos olhos assim?, temos um olhar assado?, é rosto moço?, a boca antiga?, carrega que profissão, filiação, caprichos?, tinha voz estranha?, etc. E não sabermos mais. Talvez reste pouco da amplitude do sujeito nas resmas do retrato. Ou talvez seja essa a sua grande fidelidade: conduzindo nossa imagem ao fugidio, revela ali mesmo o negativo da superfície, uma zona incomensurável onde muitas narrativas e quase-biografias podem se entrelaçar. O fascínio da imagem carrega essa ambiguidade, ao evidenciar o que não está por meio de sua ideia, sentimento, representação. A sensibilidade da imagem de um rosto, então, não só o conserva, como o arremessa para a ficção – leito de rio – da identidade.
Pois então morremos e fica-nos lá um retrato no túmulo: encerado, envidraçado, pintado em cerâmica, sempre oval, a imagem do morto, efígie, feita quando estava vivo. Se podemos definir, de modo geral, o “retrato” como a representação de uma pessoa em que ela se reconheça, sabemos que essa exigência de semelhança está longe de exigir o apuro mimético ou a fidelidade da cópia, cujo sentido utópico seria a excelência da perfeição platônica, só possível ao mundo das ideias, ou mundo ideal. A semelhança é muitas vezes buscada apenas com inúmeros desvios do próprio rosto. Isso quer dizer que, onde eu vejo o meu retrato, talvez você não veja o meu, nem o seu, mas o de outro alguém, outra coisa. O mistério das analogias abre-nos a essa caminhada obscura, íntima, por sua vez, da experiência artística: tocar a “correspondência” das coisas é tarefa de profanações.
Então morremos e lá está nosso retrato, escolhido por alguém que necessariamente sobrevive a nós e tem algum respaldo para tal função. Nós que estamos vivos podemos passar ou passear pelas alamedas calmas e felinas dos grandes cemitérios como quem folheia um álbum de retratos. Data, nome e rosto – seria o suficiente para resumir um sujeito, será a superfície final de nossa biografia? E se, por acaso, notarmos como são semelhantes as imagens que identificam o morto com aquelas que fomos obrigados a portar em nossas cédulas de identidade? A foto 3×4 que nos serviu de rosto durante a vida é a mesma que nos servirá à morte? E pensando na obrigatoriedade radical dessa imagem (não podemos sorrir no retrato da identidade, não podemos nos afastar demais da câmera, não podemos cobrir parte do rosto com os cabelos, temos que ser o mais neutro possível, o menos biográfico) chegamos à máscara. À persona. E já estamos no terreno da ficção, do qual quiçá jamais saímos.
Quando foi criado, em 2011, o projeto NotUrna mobilizou parte de nossos interesses relacionados à fotografia/retrato e morte, levando-nos a conduzir à feitura dos 10 exemplares de um livro de artista, de mesmo nome, por meio de um processo necessariamente coletivo. A partir de imagens fotográficas de retratos tumulares, experimentamos exercícios de escrita de biografias inventadas para cada rosto, contando com a participação ritual de mais de 50 convidados. A construção fragmentária (em objetos móveis, rearticuláveis) dos dez livros-urnas, partindo da fotografia dos rostos, levou-nos à reflexão dos limites abissais do que pode um rosto e quão ficcional pode ser o apelo biográfico de uma imagem ao querer representar um morto, alguém que não mais conta sua própria história, que agora só pode ser contada por outros. A semente dessa potencialidade fictícia estaria já no rosto ou na imagem do rosto?
Naquela ocasião, conhecíamos pouco da pesquisa de Didi-Huberman e Aby Warburg. Nosso interesse “antropológico” era provido de uma vontade também noturna de pensarmos, com pessoas amigas e conhecidas, a extensão fúnebre da imagem de nosso próprio rosto e, por sua vez, a condição plural de rasura da identidade do retrato, uma vez que a superfície do papel suporta qualquer história e qualquer olhar. Hoje, repensando essa trajetória que se fez – e isso é importante frisar – de inúmeros encontros presenciais fortuitos, recai sobre a memória o bafo triste e agourento (para não dizer irritadiço e cansado) do isolamento em que a pandemia fez com que nos acolhêssemos, no nosso trato comum.
Do volume dos mortos que não tiveram nem rosto para a morte – nenhum cuidado ou ritual possível, sem o velar dos olhos fechados, sem a moeda para barqueiro algum –, fica-nos a apatia assustadora do volume dos rostos virtuais e selfies com que passamos a nos conhecer e habitar. A relação entre e morte e imagem mais uma vez se ressignifica. Rever o NotUrna como espaço de um questionar transgressor, fundado num espírito de amizade e numa ética de fabulação comunitária sobre nossas identidades e nossas mortes, talvez possa ser um meio de redizer sem fim os vivos que não mais estão aqui e, do mesmo modo, ousar ver nas fotografias dos que aqui estão, nós incluídos, os mortos que só poderão ser narrados por quem sobreviver. E, assim, insistir em saudar o vivo. E, nessa insistência, resistir, quando quem despreza a vida, tenta de todo modo nos legar não a morte, mas a morte indigna, a morte sem saúde, banalizada, sem retrato, sem ritual, sem cultura, sem vida.
Notas:
1 NANCY, Jean-Luc. La mirada del retrato. Buenos Aires: Amorrortu, 2006, p. 8