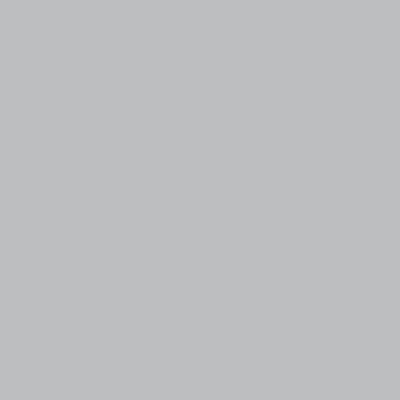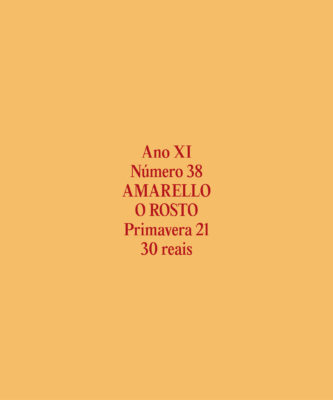Muito além de máscaras e sombrinhas
Na efervescência do Carnaval do Rio de Janeiro, surge uma figura marcante: os bate-bolas, também conhecidos como clóvis, pierrots ou clowns. Originários dos subúrbios ou das periferias cariocas, principalmente nas Zonas Norte, Oeste e Baixada Fluminense, esses foliões mascarados carregam consigo uma rica tradição, que se entrelaça com a história da própria festa.
Acredita-se que suas raízes remontam aos colonizadores portugueses e à Folia de Reis, mas o nome “clóvis” teria surgido no início do século XX, inspirado na palavra inglesa “clown”, que significa “palhaço”. Uma interpretação popular teria transformado o termo em um apelido para os foliões fantasiados.
Vestidos com fantasias vibrantes e máscaras que mesclam o cômico com o macabro, os bate-bolas se organizam em turmas, dedicando-se durante todo o ano à criação de seus trajes e à organização de eventos carnavalescos. Fogos de artifício, festas e churrascos animam a comunidade, ao som de hinos, marchinhas e funks próprios de cada grupo.
A diversidade marca a presença dos bate-bolas. Seus estilos variam, desde o clássico “bola e bandeira” até o criativo “evolution’, passando por “leque e sombrinha”, “bicho e sombrinha”, “pirulito” e “de capa”. As fantasias também apresentam diferenças regionais: na Zona Oeste, predominam os modelos “bujão”, com mais tecido, enquanto na Zona Norte a criatividade impera.
Os nomes das turmas refletem essa multiplicidade, carregando sentimentos, atitudes, personagens fictícios ou até mesmo o barulho e a desordem que acompanham a folia. Humildade, Emoção, Explosão, Alegria, Bom Gosto, Tirania e Fascinação são alguns exemplos. Na Zona Oeste, nomes de personagens como Mario, Urtigão e Kuka se destacam, enquanto turmas de “bola e bandeira” homenageiam a agitação com títulos como Tropa Embrazada, Zorra Total e Barulho.
Mais do que simples foliões, os bate-bolas representam a cultura popular carioca em sua essência. Sua tradição, preservada ao longo de décadas, foi reconhecida em 2012, quando os grupos foram declarados Patrimônio Cultural Carioca. Hoje, os bate-bolas continuam a encantar e desafiar estereótipos, colorindo o Carnaval com a alegria, a irreverência e a vibração única do subúrbio carioca.
Convidamos Mayara Assis, pesquisadora e brincante da cultura bate-bola, para um breve papo-vivência:
Muitos trabalhos que discutem ou apresentam a cultura bate-bola o fazem por um viés estético visual. Porém, seu trabalho extravasa essa fronteira e leva o bate-bola para uma dimensão do corpo. Que corpo é esse?
Esse corpo é do medo ou respeito, aquele que coloca em dúvida os discursos da moralidade. E esse corpo, que está na dimensão da cultura dos bate-bolas, também, mas está em outros lugares, e é aí que a gente vai chegar. Porque, na minha perspectiva, eu não pretendo somente estar dentro, inserindo a minha pesquisa na cultura dos bate-bolas, se é um lugar pelo qual eu passo para ir de encontro. É ali que eu digo: existe esse corpo estanque, ele se reproduz aqui também. Que é esse corpo que, ao passar pela rua, ao entrar numa sala, parece sempre estar prestes a arruinar com tudo, com tudo que foi feito, com tudo que foi construído? Esse corpo que é estranho, esse corpo que, quando chega, já anunciou certo desconforto no espaço.
O meio bate-bola acaba sendo um espaço com muito protagonismo masculino. Como você vê o papel e a importância das mulheres nesses espaços?
Mesmo não sendo a minha questão principal de debates, o protagonismo na expressão de gênero masculino nas turmas de bate-bola, vou falar sobre isso e trazer pra questão que eu não compro essa briga. Eu acredito que tem muito protagonismo feminino, da expressão de gênero feminino, na turma de bate-bola. Eu acho que o ponto que é importante de ser falado, quando a gente questiona e traz esse questionamento necessário sobre esse lugar, um espaço ocupado ou com a presença do protagonismo masculino ao feminino, é que as nossas relações estão em crise, e essa crise precisa ser estampada. A principal crise que precisa ser estampada é que sempre, quando a gente conta a história da cultura popular brasileira, a gente diminui a importância do trabalho das mulheres, e principalmente das mulheres negras dentro das culturas. Eu comecei a ter interesse na cultura das turmas de bate-bola por conta de costureiras, e essas costureiras se sentem as primeiras pessoas que dão continuidade à turma de bate-bolas. São fazedoras de bate-bola, fazedoras de casaca, imprensa, fazedoras de máscara. Quem faz a indumentária, quem está com as mãos no trabalho, se sente totalmente responsável pela continuidade da cultura. E isso você vê de memória e de presença mesmo em cada cultura que é mantida por um grupo tradicional, seja no perímetro urbano ou até mesmo no perímetro rural. Eu vi que isso se replica, e que a importância feminina é subtraída quando a gente fala, às vezes, da nossa própria cultura. Existem turmas inteiras de bate-bolas só de mulheres,e também existem turmas em que, majoritariamente, o grupo que sai fantasiado é um grupo de homens, mas o carnaval não se encerra nesse grupo, é toda uma comunidade em torno disso, tem famílias dos bate-bolas. Gera renda também, circula a renda entre os pequenos produtores desses elementos que compõem a turma, e muitos desses fazedores são fazedoras, na verdade. Muitos desses trabalhadores são mulheres.
Então as mulheres são essenciais nessa cultura, certo?
Não que o papel das mulheres esteja encerrado, que a importância das mulheres nessas culturas dos bate-bolas ou até na cultura brasileira esteja encerrado ao espaço de organização, confecção, produção dos conteúdos, dos elementos. O papel das mulheres é de responsável pela continuidade do divertimento. E isso eu vejo em toda a cultura brasileira. Na cultura dos bate-bolas, elas já vêm encontrando espaços pra que elas mesmas possam também dizer desde o princípio o que elas querem que visualmente seja entregue, e esse é, vamos dizer, um outro caminho que vem sendo redesenhado pelas mulheres mais novas juntamente com mulheres mais antigas, que já frequentam turmas de bate-bola de outras datas e que têm feito turmas femininas e promovido ainda mais a voz das mulheres nesse contexto, no contexto em que elas também dispõem, vamos dizer assim, do mesmo desejo de manifestar o seu interesse pela liberdade, pelo prazer e pelo divertimento que é você confeccionar desde o princípio uma roupa e uma turma, toda uma organização de uma turma de bate-bola. Isso é algo que eu vejo agora. Na verdade, eu acho que esse é um protagonismo que eu vejo surgindo, emergindo mais forte agora, mas não acho que não existisse.
O carnaval muitas vezes é um momento em podemos experimentar outras subjetividades e formas de existir. E assim, também, sonhar. Você acha que nas favelas, nos subúrbios e nas periferias (espaços onde costumamos ver mais a cultura bate-bola), ser bate-bola é realizar um sonho?
Pra responder essa pergunta, eu vou começar dizendo que, se a gente tirar o bate-bola da cultura estética, de você ter poder e comprar, adquirir, obter, sei lá, comprar um tênis, comprar uma roupa, se a gente tirar ele desse lugar e pensar pela perspectiva da formação de uma turma, da formação de um núcleo que se comunica com outro núcleo, e com outro, e que são famílias juntas e que têm as suas denominações, que se reconhecem com ou sem os seus elementos em diversos cotidianos que não são somente o carnaval, isso por si só funciona como uma realização coletiva de um sonho, de um sonho de estar e fazer parte de uma comunidade, de ser aceito em um lugar. Isso é muito quem são também essas pessoas do bate-bola. Quem são eles é muito isso também, sentir-se parte de uma coisa, e cada um ali é fundamental, todo mundo bota a mão pra trabalhar na confecção das coisas, na realização, na concretização do sonho. Estar numa coletividade dessa forma, em que você se entrega desse jeito pra além dos mecanismos funcionais da estrutura global do mercado, de como o mercado funciona, ali dentro se constrói uma outra forma política, e essa forma política é o ideal coletivo, mas também é a realização de um sonho, de estar e fazer parte de uma comunidade. Eu já vi acontecer, em saídas de turmas de bate-bola, por exemplo, da pessoa responsável ter confeccionado umas roupas que poderiam equivaler pra crianças, e aí as crianças, que não participaram de nenhum dos outros movimentos que as pessoas mais velhas participaram desde o início do ano, naquele dia, do carnaval, estavam ali desde cedo em cima das pessoas da turma, querendo saber. Aquelas crianças ali ganham um bate-bola e saem. Essa sensação, essa memória da infância, essa relação com a cultura também é a realização de um sonho coletivo, de um sonho coletivo que se encontra dentro das periferias urbanas e da forma como a cultura pode ter continuidade nesses espaços das favelas e dos subúrbios, que é através da criança, estimulando o próximo, o mais jovem, o mais novo. E esse estímulo também é uma forma de realizar um sonho. Não sei se necessariamente todos que estão ali estão sendo coletivamente com essas questões subjetivas que eu estou trazendo, mas é o que a gente vê acontecer. Muitos ali só chegam com o único pensamento de construir. Quem é líder dentro da turma, quem é liderança, vai pensar o carnaval desde o princípio e querer que ele aconteça da forma como foi planejado. Tem gente que vai entrar que o sonho é só sair de bate-bola. E essas pessoas vão sair, porque é a realização de um sonho também. Mas não é só o sonho de comprar um bate-bola, de comprar um tênis, é o sonho de fazer parte de uma grande coisa. Eu sinto muito, às vezes, vindo dos corpos com os quais a gente está se direcionando, com os quais a gente está se comunicando, que são esses corpos que parecem estar andando por aí como se estivessem prestes a arruinar tudo. São muitas essas pessoas, muitas dessas pessoas procuram essas culturas, as culturas que impõem medo ou respeito, a cultura do funk, a cultura do bate-bola que, pra mim, estão muito atravessadas, e muito atravessadas às culturas negras, cujas origens são africanas. Eu falo isso porque isso me lembra o sentimento do quilombo, que, já diria Abdias Nascimento, é o sentimento de uma comunhão existencial negra. Ainda que nem todos ali sejam negros, essa cultura vibra nesse mesmo tambor, ela tem essa mesma vibração.