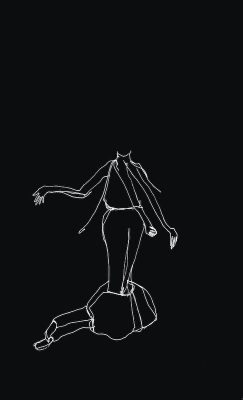Sertão, de Caminha a caminho
A palavra “sertão”, com o significado de interior vasto — mas desconhecido para o europeu — aparece já na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei D. Manuel. E traz uma marca duradoura: a definição de um objeto de conhecimento no qual o recém-chegado pena para entender e mais ainda para explicar.
Foram necessários mais de 150 anos de um processo que Araripe Júnior denominou obnubilação brasílica para se chegar a um estágio mais avançado de conhecimento. Ele definia este processo como uma queda da consciência europeia frente à realidade da vida no trópico — e a posterior recomposição dessa consciência numa forma capaz de transmitir o novo conhecimento na linguagem escrita do mundo ocidental.
“A Guerra de Canudos é, para o sr Euclides da Cunha, um crime”
Seu herói obnubilado era Gregório de Matos e Guerra, e a justificativa para a escolha, mais do que interessante: a queda brasílica seria comportamental, com a adoção dos costumes populares em relação a sexo e dizeres. Mas a reconstrução noutra linguagem viria com a adoção da viola e da canção, capazes de permitir a primeira criação e o primeiro registro escrito de algo que já seria um falar próprio da terra brasílica, uma métrica já diferenciada em relação ao fazer poético metropolitano. Enfim: mergulhar no sertão passava a ser entendido como um modo de conhecimento.
Araripe Júnior fez mais do que montar a interpretação. Ele foi o responsável maior por retirar a obra de Gregório de Matos do limbo de manuscritos guardados em gavetas e da memória oral em que ela vegetou por dois séculos. Nesse longo período, era considerada uma obra muito imprópria para ser conhecida pelos brasileiros — apenas uns poucos poemas, de caráter mais religioso, haviam sido publicados em antologias.
Fundador da Academia Brasileira de Letras, Araripe escolheu Gregório de Matos como patrono da cadeira 16 — aquela que ocupo hoje. Era uma atitude de vanguarda e indicadora de um caminho. Araripe foi recolhendo os originais de Gregório que encontrava e guardando-os no arquivo da instituição. E teve influência na publicação da primeira antologia desse obnubilado, ajudando a tornar menos estranha a escrita da experiência brasileira para os brasileiros.
Esse processo coincidiu no tempo — a primeira década republicana — com uma forma moderna, e civilizatória, de obnubilação. A notícia da derrota da expedição Moreira César em Canudos percorreu o país na velocidade dupla do tempo. Levou mais de seis dias para ir do local dos combates até o posto de telégrafo mais próximo — e algumas horas para gerar um incêndio urbano nacional.
Em São Paulo, o centro da explosão foi a redação de O Estado de S. Paulo, jornal que defendia o novo regime. Antes mesmo de a edição ser escrita, a simples postagem dos telegramas que chegavam na vitrine da redação foi atraindo multidões — e detonando reações clamorosas. Nada estranho, na medida em que os telegramas que chegavam não traziam exatamente fatos, mas antes interpretações prontas (exatamente o mecanismo das fake news, que não é tão novo assim): apenas uma forte armada monarquista seria capaz de derrotar o batalhão comandado pelo algoz de tantas forças federalistas gaúchas, com seus 700 homens bem armados e muito treinados.
Enquanto a rotativa era posta para imprimir sem parar — ao final de um dia seriam impressos 17 mil exemplares da edição, possivelmente um décimo da população de São Paulo naquele momento —, leitores dos telegramas e dos primeiros exemplares se agrupavam para atacar as redações dos jornais monarquistas, além de alguns líderes desse movimento. A cena se repetiu com pequenas variações no Rio de Janeiro e em algumas capitais do país.
Enquanto o governo armava um exército de sete mil homens para destruir o inimigo, Júlio Mesquita, o editor de O Estado de S. Paulo, ia buscar um único homem: Euclides da Cunha. Ele era militar, da corrente florianista, a mesma do derrotado Moreira César. Aceitou a missão de ir cobrir a guerra de Canudos — e começou a seu modo.
Não tinha mais informação real do que aquela filtrada dos telegramas: havia sido uma derrota militar massacrante. Sem nada melhor vindo do campo de batalha para informar, seus primeiros artigos descreviam basicamente a mobilização da tropa de combate que acompanharia, combinada com considerações sobre o ânimo dos combatentes para enfrentar o inimigo — que coincidiam com suas próprias crenças de republicano. Assim, ele ia mandando novas versões a cada porto de escala no caminho, até chegar a Salvador.
Mas, assim que desembarcou, tomou uma atitude diferente à de visitar seus colegas de farda eventualmente conhecedores de melhores informações sobre os combates — algo que seria perfeitamente possível em sua situação. No lugar disso, preferiu agir como repórter, indo buscar informações também sobre aquilo que se passava do outro lado das linhas de combate. E fez isso indo ao hospital que cuidava dos feridos de guerra canudenses.
Encontrou um menino de 14 anos chamado Agostinho, com quem conversou longamente. Ela lhe contou com sinceridade tudo que vivera, tudo que pensara. Sem o menor pingo de monarquismo – mas muita dor de uma população sertaneja tocada de um lado para outro e atacada por tropas armadas. Quase seis meses depois do evento de Moreira César, Cunha teve então a primeira oportunidade de contrastar as interpretações que ouvira o tempo todo, adequadas à sua formação de militar, com uma narrativa factual mais consistente. Publicou com todas as letras seu julgamento sobre aquilo que ouvira na edição do dia 27 de agosto de 1897:
“Essas revelações têm para mim um valor inquestionável: não mentem, não sofismam e não iludem, naquela idade, as almas ingênuas dos rudes filhos do sertão”.
Foi seu momento de obnubilação, de troca da consciência ideologizada por outra, de cidadão. A partir daí começou o longuíssimo processo que levaria essa nova consciência para a forma escrita. Cumpriu suas obrigações de correspondente de guerra, produzindo narrativas tão isentas quanto possível para quem acompanhava o conflito do lado da tropa que massacrou o arraial — ele chegou a Canudos nos estertores dos combates, dias antes da destruição final. Levaria cinco anos para publicar Os Sertões. Já na primeira resenha da obra, feita por José Veríssimo e publicada em 5 de dezembro de 1902, todo o significado da nova consciência seria explicitado:
“A Guerra de Canudos é, para o sr Euclides da Cunha, um crime. A campanha em si parece-me, desde o primeiro dia, mais do que um crime: um erro crasso, imperdoável. Não faltam na nossa história sinais de ininteligência. Nenhum, porém, tamanho. Crime ou crimes haverá apenas no cerco final, conforme conhecíamos pela divulgação oral, ou por algum escrito de pouco valor, e os narra agora, com vingadora veracidade, o autor de Os Sertões”.
O sucesso imediato da obra teve o efeito inverso dos ataques ao arraial do Conselheiro: gerou uma forte corrente na direção de entender que a missão da elite brasileira já não podia ser mais aquela do Império, a de criar uma nobreza como contraste ao homem do sertão. Dali em diante, começava a valer o desafio de criar uma nação de cidadãos, ao modo dos ideais iluministas.
O passo seguinte neste longo processo viria com uma radical mudança na avaliação de quais deveriam ser as relações entre a língua falada, aquela dos sertanejos e da cultura oral, e o dever de quem escreve. Até o Parnasianismo, essa relação era pensada como a de uma necessidade de os parcos escritores empregarem as técnicas que dominavam para fazer contraste, aumentar a diferença entre o mundo culto e o populacho.
O processo inverso, da submissão do escritor aos ditames da fala, começou a se acelerar no século XX: Afrânio Coutinho organizou a primeira edição das obras completas de Gregório de Matos. O jornalismo de massa se constituiu num campo de provas que foi muito além do pioneiro Euclides da Cunha. Apenas para falar do jornal que o contratara, Amadeu Amaral, Monteiro Lobato e Mario de Andrade passaram a perseguir este ideal.
O movimento modernista, nascido ao redor deste debate, foi o primeiro a adotar o predomínio da fala sobre a escrita como regra pétrea na construção da norma culta. Junto com ela veio a narrativa codificada do imaginário popular como tema capaz de permitir um novo balanço entre sertão e cidade: O Saci, Macunaíma, Abaporu e Antropofagia são apenas alguns registros dessa vertente.
Essa forma de consciência foi se tornando cânone: em O sequestro do barroco, de 1989, Haroldo de Campos aponta Gregório de Matos como o fundador de uma literatura. Finalmente chega o momento no qual uma consciência plena de si mesmos, pelos brasileiros, é identificada. E de, enfim, se poder começar a indagar o que é que este brasileiro tem a dizer ao mundo.
Vale a pena indicar um passo além nessa linha. Davi Kopenawa Yanomami e Ailton Krenak, para ficar apenas nos exemplos dos povos originários, vêm sendo capazes de dar expressão escrita a um conteúdo antes só acessível a obnubilados. Até onde tal recado pode chegar?
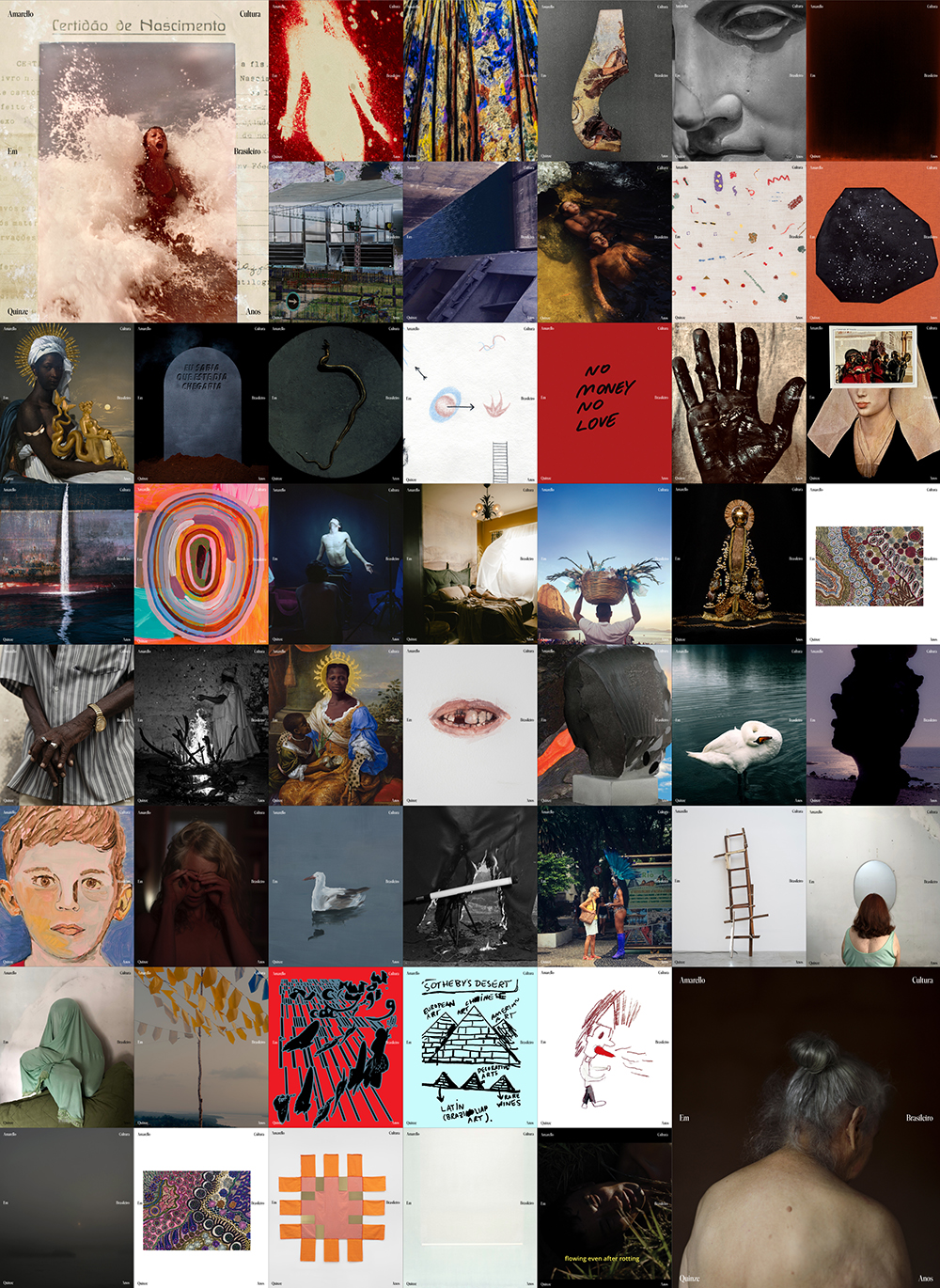
Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista