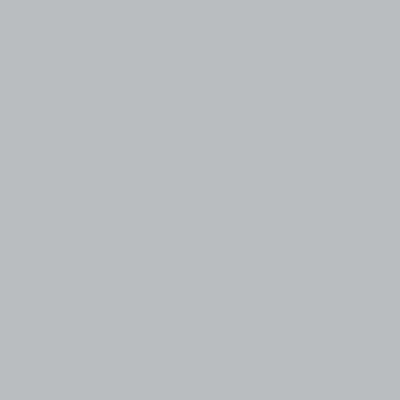O outro, nossa grande carência
Somos filhos da República e sabemos que todos os seres humanos são iguais em dignidade e direitos. Ninguém discorda do que diz a Constituição de 1988: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. No entanto, a aceitação dessa igualdade jurídica convive — eis a contradição — com uma frequente indiferença em relação ao outro: a quem não é percebido como igual, seja por laços de família, de amizade, de afinidade esportiva, política ou ideológica, etc.
Há, na sociedade brasileira, uma profunda carência de alteridade. Pode-se dizer que a desconsideração do outro é o elemento comum das nossas grandes deficiências enquanto coletividade.
A agravar o quadro, tudo isso está envolto em um manto de invisibilidade. Sequer é percebido. Nossos diagnósticos de sociedade não incluem os problemas dos outros. Restringem-se ao âmbito particular, aos limites do próprio quintal. E o mesmo ocorre com nossas propostas de solução. Falamos de sociedade, mas estamos pensando em nós: no que nos afeta e em quem nos circunda, o que reforça a dinâmica de exclusão do outro. Até a solução — o que se deseja como solução — torna-se uma agravante do problema.
Um defeito enraizado
Costumamos pensar que o grande problema nacional — aquilo que configura nosso subdesenvolvimento social e nossa própria identidade nacional — é a pobreza, a falta de meios materiais. Ao contrário dos países desenvolvidos, que tanto admiramos por suas realizações, somos um país pobre, sem meios de transporte adequados, sem infraestrutura, sem bons salários para os professores. Se exportássemos bens com maior valor agregado, se aumentássemos nossa produtividade, se os pobres tivessem menos filhos, se os impostos fossem mais bem gastos — se tudo isso ocorresse, teríamos, enquanto sociedade, mais recursos, seríamos mais desenvolvidos, haveria maior segurança pública. Não admitimos explicitamente, mas, no fundo, pensamos que, com mais dinheiro, tudo seria diferente.
Certamente o dinheiro muda muita coisa, mas nosso grande problema não é a falta de recursos econômicos. Não se ataca a questão primordial apenas ampliando a geração de riqueza, ou mesmo distribuindo mais dinheiro entre as pessoas. Não é um problema numérico, quantitativo. Há uma questão qualitativa, mais profunda. Existe uma limitação de perspectiva, de mentalidade, de sensibilidade, que nos configura socialmente e que faz com que o outro nos seja invisível. Ele não entra em nossa equação cotidiana.
Pensemos nesta chaga nacional que é o patrimonialismo, a apropriação do público para fins particulares. Pensemos nos privilégios, na desigualdade, especialmente nas desigualdades de oportunidades. Tudo isso só floresce — tudo isso só é tolerado socialmente — onde há uma reduzida percepção do outro. Os privilégios são ruins até o momento em que sentamos na mesa dos privilegiados. Depois, eles ganham outra coloração, outra justificação, outro nome. Já não são privilégios: são méritos, conquistas, direitos.
Elenco três aspectos fundantes do nosso subdesenvolvimento social.
Temos uma visão distorcida dos tributos. Pensamos no que pagamos — no que sai do nosso bolso — e naquilo que recebemos de maneira direta e visível. Dificilmente pensamos no que os outros merecem receber com os nossos tributos. Dificilmente nos alegramos quando vemos outros usufruindo dos nossos tributos. Dificilmente percebemos que recebemos da sociedade — e também do Estado — muito mais do que damos. Essa frase nos parece uma completa loucura. Estamos convencidos de que somos credores, e não devedores, da coletividade.
Temos uma visão distorcida da lei. Reclamamos que os outros não cumprem a lei, que a lei é frequentemente desrespeitada. Entretanto, facilmente nos vemos em situações nas quais julgamos merecer uma exceção. Neste caso concreto — no trânsito, na construção da casa, na declaração de renda, na contratação de um serviço, no acidente de carro do meu filho, nessa viagem, nessa fila, nessa inadimplência, nesse esquecimento não intencional —, a lei não se aplica a mim. Ela não entende a minha situação específica, e seria injusto e exagerado aplicá-la de maneira impessoal. Afinal, a lei exige uma cuidadosa interpretação.
Temos uma visão distorcida do Estado. Ele seria uma espécie de nosso prestador particular de serviços. Quando achamos que ele não funciona, recorremos ao setor privado e falamos mal do público. Distanciamo-nos do público. É assim com a saúde, com a educação, com a segurança. Mal reparamos que nossas opções afetam os outros: que elas prejudicam a coletividade, que elas prejudicam o outro. Se o Estado não está satisfatório para mim, substituo-o por prestadores de serviços privados. A ideia de batalhar para que o Estado melhore, afinal, ele não vem servir apenas a mim — e a quem tem, neste momento, meios de recorrer ao serviço privado —, é considerada uma ingenuidade, coisa de gente boba.
O setor público, quando não nos serve, torna-se desinteressante, existencialmente distante. Temos, portanto, enquanto sociedade, uma visão patrimonialista de Estado. Ele é bom na medida em que me serve. As palavras adquirem um significado peculiar. O público não é para o público, para o outro. É para mim. Ele recebe o meu aplauso só quando atende os meus interesses.
A política para mim, não para o outro
Nossa falta de alteridade é especialmente sentida na política, que deveria ser o locus por excelência da alteridade. A política deixou de ser espaço para a discussão do bem comum, do cuidado com o outro, com quem é mais vulnerável. Ela é vista sob o prisma dos problemas do meu entorno social.
Sejamos sinceros. Com o que nos preocupamos ao escolher nossos candidatos? O que valorizamos neles? O que buscamos em cada eleição? Sobre quais assuntos falamos quando discutimos política? São os nossos problemas ou são os problemas dos outros, daqueles que não têm meios de recorrer ao setor privado para a educação de seus filhos, para a saúde de seus pais, para a segurança de sua família?
Há um imenso espaço de aprendizado democrático. A democracia não é só a possibilidade de que cada um participe das decisões públicas por meio do voto, por meio de seus representantes eleitos. Não é apenas poder dizer o que quero. O regime democrático envolve uma qualificação desse querer. O Estado democrático vem servir à coletividade, a quem mais precisa na coletividade.
Isso não é uma bela ideia altruísta. Ela é constitutiva do poder público. Tanto é assim que a Constituição de 1988 define quais são os objetivos fundamentais do Estado e da política brasileira: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Se a democracia fosse mero querer majoritário, a definição prévia desses objetivos na Constituição seria contrária ao ideal democrático, uma vez que ela molda e limita a atuação do governante eleito pela maioria.
Democracia é um querer qualificado, orientado à construção do bem comum. Não é impor as nossas vontades. Não é realizar os nossos interesses. É cuidado com o outro — e essa perspectiva modifica inteiramente o olhar sobre as diferenças políticas, sobre a indignação que as opções alheias despertam em nós.
Olhar o outro
Democracia não é uma concessão que fazemos aos outros. Por ser democrático, tolero o que a maioria escolheu, como se estivesse perdendo algo, numa aceitação de cara feia. Numa democracia, nunca perdemos (ou ganhamos) nada individualmente. A política não me pertence. Ela não é sobre mim. A política é sempre sobre o outro, o que é o mesmo que dizer: ela é sempre sobre a coletividade.
Não significa aplaudir as escolhas dos outros. Não é dizer: se a maioria escolheu, então é bom e saudável. Há muitos exemplos, históricos e contemporâneos, dos retrocessos que uma maioria é capaz de produzir. Trata-se de compreender que, na política democrática, as construções, os caminhos são sempre coletivos. Ganhando ou perdendo eleitoralmente, é sempre necessário entender as necessidades dos outros, suas aflições, suas demandas.
Justificadamente há hoje grande receio em relação às concessões autoritárias de parte da população. Muita gente não vê a democracia como um valor inegociável. A reação imediata é condenar — excluir — tais pessoas, marcá-las como inaptas a viver no regime democrático. Mas se democracia é coletividade, é fundamental enxergar essas pessoas, escutá-las, dialogar com elas, entender o que as move. Insisto: não é celebrar suas opções políticas, nem minimizar os problemas daí decorrentes, mas entender que elas também são a coletividade. O outro — real, não imaginário — são elas.
Este é o desafio de hoje da democracia. Esta é a beleza de sempre da democracia. Ver o outro. Por mais estranho que ele nos pareça, vê-lo como um igual, não como um estranho. Eis o fundamento de tudo: ele é igual a nós e merece ser visto.
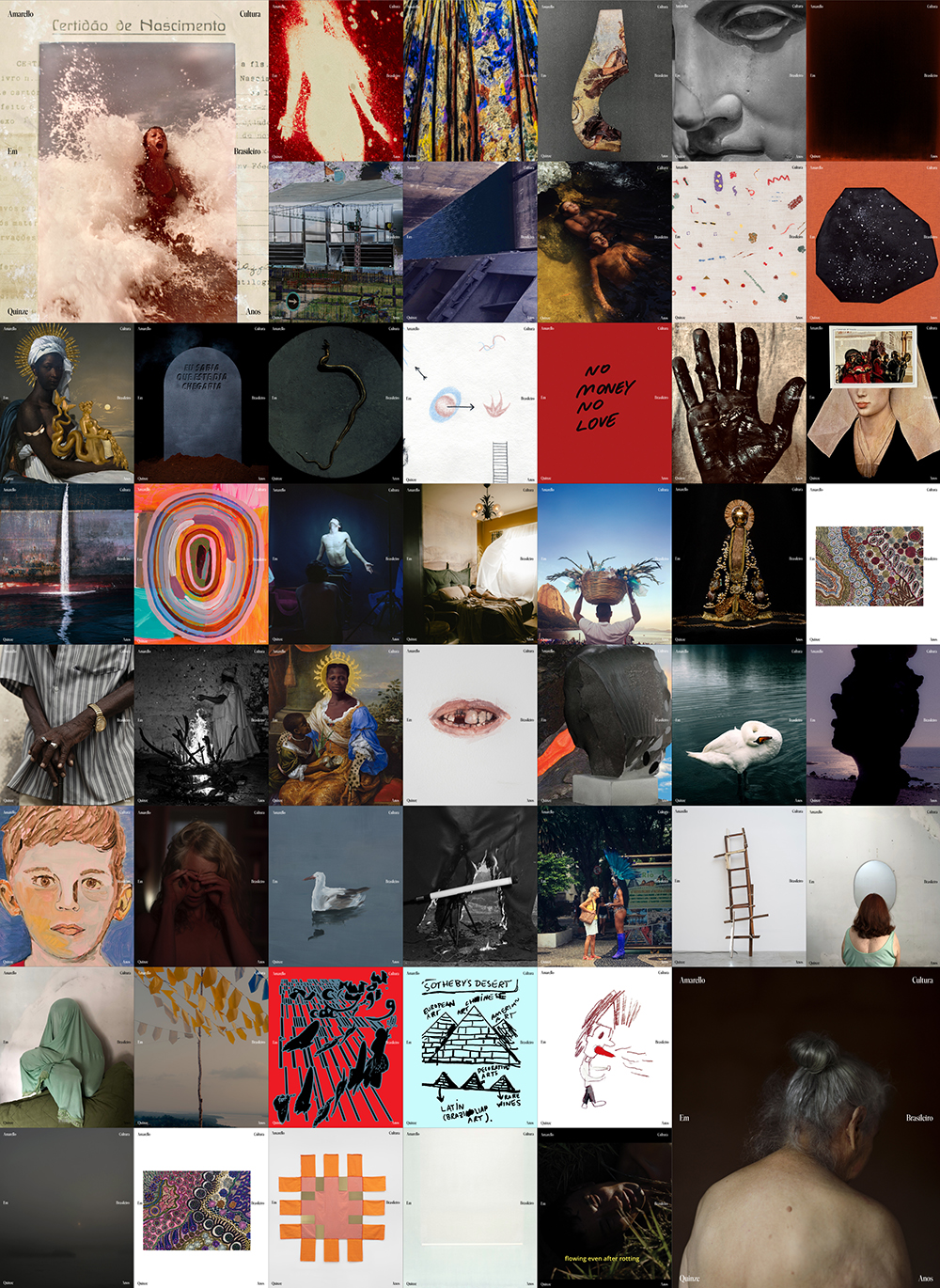
Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista