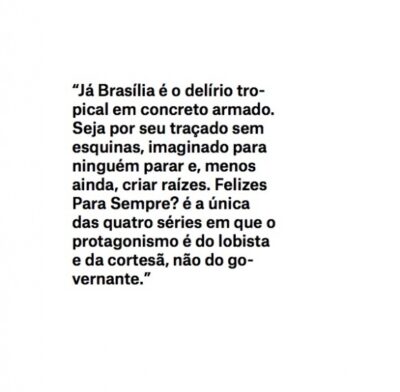Tenho tido uma série muito interessante de sonhos nos últimos cinco meses. De maneira recorrente, chego a uma mansão, após dirigir por quilômetros a fio por uma estrada que não consigo mais descrever (não sei dirigir na vida real), o que sempre se revela uma tarefa cansativa, onde encontro um determinado grupo de pessoas. Sempre as mesmas pessoas; sei seus nomes, reconheço suas feições, que se reproduzem com pequenas variações – o cabelo, o figurino, o humor. Gosto de todos, ou de quase todos.
Não são muitos os meus colegas. Em torno de vinte pessoas, entre jovens na idade colegial ou no começo da faculdade, e seus pais. A lembrança que tenho de uma jovem chamada Carol é muito vívida, mesmo em um estado de vigília muito tempo depois de o sonho ter terminado. No momento em que escrevo este relato, no entanto, não saberia apresentar Carol. Empobreceria sua figura e mentiria, inventaria outra Carol, que não é a da minha série de sonhos. Mas Carol é a pessoa com quem mais converso em meus sonhos; sobre Deus, sobre nossas existências, e sobre sexo. Não há nenhum episódio de sexo, algo que pode ter a ver com certa ambivalência que passei a adquirir ao longo dos sonhos nesta casa; há tensão sexual, mas nunca a sua concretização. Um vulcão que poderia estar em erupção, mas não. Está apenas corroendo-se por dentro, até ser transformado em pura lava sexual. Eu e Carol conversamos sobre isso. Quase sempre.
A mãe de Carol nega a existência de Deus, e é ela quem parece organizar esses encontros todos. Ela me lembra um pouco Jackie Kennedy. Há algo um pouco satânico em seus modos, sua postura, na maneira com que guia os nossos encontros. Como uma Minnie Castevet mais nova, com o discreto charme de uma burguesia corroída pelo tédio do dinheiro. A mãe de Carol se chama Marta. Sou bom com nomes, dificilmente esqueço algum. Mas por que essas pessoas têm nomes neste sonho? E de onde vem esse niilismo quase satanista de toda essa gente? Há um quadro de dois japoneses homens em uma das salas, de mãos dadas, em uma representação clássica do misticismo pós-Crowley, que me lembro de ter visto na sede da Igreja de Satã, em Los Angeles.
Gosto de todas essas pessoas, mas me assusta, como hoje me assustou em especial, a recorrência dos sonhos. Sonhos recorrentes estão previstos em todas as cartilhas de psicanálise que conheço, mas há certos níveis, e creio que minha série tem um lado obscuro e inexplicável. Não há psicologia ou teologia que os explique. Não sei até quando os terei, não sei até quando continuarei vendo essas pessoas. Ou se em algum momento esbarrarei com Carol, com Marta, com Max, no metrô de São Paulo, e então trocaremos um olhar de reconhecimento, pavor e descolamento social.
Na literatura, a imagem do duplo é vasta. Desde os exemplos mais rasos, como o doutor Jekyll e o senhor Hyde, passando por William Wilson, de Edgar Allan Poe, às bolinhas saltitantes do senhor Blumfeld, o solteirão de meia-idade de Kafka, isto para não citar o próprio inseto alvejado pela família da metamorfose kafkiana. Se é ou não uma necessidade, ou uma estratégia de escape para encontrarmo-nos com um outro, a literatura, e todas as suas variações, soube explorar esse mistério profundo de nossa psicologia. Os duplos de Fernando Pessoa, Fernando Pessoa como Fernando Pessoa, ele mesmo um dos muitos heterônimos, o desgarre da personalidade via memória, encontrando-se em um outro que não é mais o mesmo, mas também é um mesmo do passado avariado pelas sutilezas escorregadias da memória. Proust, seu narrador que é uma tentativa de redescobrir-se no passado. Poder conquistar os territórios e os mapas do passado neste duplo e, assim, conquistar-se a si mesmo e seus amores.
A figura do leitor sempre é uma chave. Melhor dizendo, para encontrarmos o nosso duplo, precisamos de um interlocutor externo que nos perceba como um outro, como esse ser duplicado. Sem a chancela de um outro, não nos desdobramos. Isso tudo parece óbvio para a psicanálise, para a literatura, mas, para a nossa vida real, esta que é passada em atravessar ruas, esperar semáforos, marcar encontros, tudo isso passa despercebido para o nosso olhar. Tudo é uma longa sequência de nadas e de aniquilamentos diários de nossas memórias. É preciso estar atento.
Quem sou eu nesses sonhos? Seria um duplo de mim mesmo, Thiago Blumenthal, ou seria um personagem criado por mim e desdobrado em imagens oníricas que eu mesmo estou criando inconscientemente, como um acúmulo organizado demais de imagens do passado, de pessoas que já de fato conheci? Ou nunca as conheci mesmo, e elas são recriações ficcionais e fantasmagóricas de outras pessoas da minha vida, minha amiga da rua Polônia, meus amigos que já morreram, a parte de mim que tantas vezes já morreu e reviveu em um ciclo de sofrimento que amiúde se reflete em um piscar de olhos? Será que aquele é o Thiago que teria morrido se eu tivesse tido a coragem de engolir aquele cianeto em Nova York? O mesmo com o qual se matou Adolf Hitler em seu bunker? O mesmo com o qual se matou um antigo amigo de meu pai, o senhor Lowenstein? Sou eu depois da vida, depois da morte. São delírios de um subconsciente que já se descontrolou através dos tempos. São apenas o reflexo das experiências cotidianas, de seus desejos, de suas paisagens, de todos os rostos e de todos os beijos.