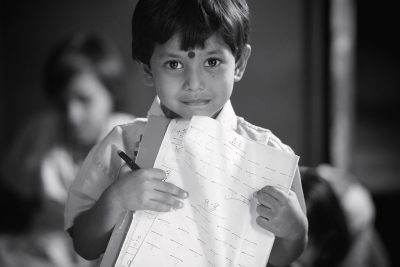Muito se fala da necessidade de superarmos ilusões e de criarmos coragem para confrontar a verdade sobre nossas vidas. No entanto, pouco se reflete sobre o determinante papel das ilusões na construção de tudo aquilo que acreditamos ser enquanto indivíduos e sociedades. Afinal, como poderíamos suportar a dureza da vida e criar nosso próprio mundo em um universo desprovido de fantasia?
Em O Nascimento da Tragédia, Friedrich Nietzsche argui como a antiga tragédia grega é capaz de transcender o vazio de um mundo carente de significado, erguendo a hipótese de que “toda vida repousa sobre a aparência, a arte, a ilusão, a óptica, a necessidade do perspectivístico e do erro”.
De maneira semelhante, em Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte, Sigmund Freud refere-se às ilusões como um componente essencial da experiência humana: “as ilusões são-nos gratas porque nos poupam de sentimentos displicentes e, em seu lugar, nos deixam gozar de satisfações”.
Nesse mesmo texto – publicado em 1915 por ocasião da Primeira Guerra Mundial –, Freud expressa descontentamento com a natureza humana, que, em tempos conflituosos, insinua despir-se de todas as suas fantasias e hábitos civilizados para regredir à vida meramente instintiva. Destarte, na conclusão do seu texto, Freud sugere que nossa atitude cultural deve incorporar certa dose de primitivismo. O que implica regredirmos sempre ao perdermos de vista a complexa dinâmica entre realidade e fantasia que impulsiona o projeto de nossa civilização.
Uma vez perfeitamente iludidos sobre nossa natureza – tal a crença de Ruskin de que sua mulher não deveria ter pelos no corpo – ou imersos na mera satisfação de nossos mais básicos instintos, corremos o risco de perder nossa humanidade de vista. Ora, adverte-nos Freud: “suportar a vida é e sempre será o primeiro dever de todos os viventes. [Mas] A ilusão torna-se sem valor quando de tal nos impede”.
Iludimo-nos todas as vezes em que retemos uma percepção distorcida da realidade e damos às pessoas, aos objetos e aos fatos uma dimensão que eles não possuem. Desta maneira, sem que percebamos, algumas memórias de infância ou da primeira juventude ganham proporções agigantadas em nossas vidas adultas; ora competindo para o nosso sucesso e a expansão dos nossos horizontes, ora para o nosso fracasso e a atrofia da nossa visão de mundo.
Em recente viagem ao Brasil, estive no Mosteiro de São Bento, em Olinda. O prédio pareceu-me bem menor do que guardara na lembrança das tardes em que lá estive com a minha avó. Comparando-o a outros prédios históricos que visitei em diversos países, pareceu-me diminuto em relação à perspectiva que desenvolvi: o tamanho da igreja e a opulência dourada do seu altar barroco desvaneceu.
Também nos iludimos ao buscarmos uma sequência cronológica para eventos determinantes em nossas vidas, como a morte de uma pessoa querida ou nosso primeiro contato com os livros. Afinal, só reconhecemos a importância desses momentos em retrospectiva, ao tentarmos dar um significado às sensações e emprestar uma ordem às memórias que interferem neste processo.
Assim, em coletânea de ensaios sobre a década de sessenta, a escritora Joan Didion descreve essa experiência como a tentativa de retermos a incessante confusão de impressões que compõem nossa experiência do mundo: “Nós interpretamos o que vemos, selecionamos [a explicação] mais viável entre múltiplas escolhas. Vivemos inteiramente, especialmente se formos escritores, pela imposição de uma linha narrativa sobre imagens díspares, pelas ‘ideias’ com as quais aprendemos a congelar a fantasmagoria cambiante que é nossa experiência real”.
Essa é a sensação de quem enfrenta o divã psicanalítico pela primeira vez e percebe que alguns dos seus valores e interpretações de mundo não passam de artifícios para suportar a realidade. Afinal, a ilusão é um dos mecanismos de defesa que criamos para lidar com o fardo existencial de eventos ou de relacionamentos traumáticos.
É nesse sentido que hoje nos iludimos ao cobrarmos em público que todos tenham direito ao amor e que toda experiência amorosa seja essencialmente segura, desinteressada e construtiva.
Outro dia, ouvi dizer que, independentemente de sua aparência ou seu comportamento, nenhum ser humano deve sentir-se em posição de mendigar afeto e aceitação. Não creio que isso seja admissível. Ora, nossas primeiras experiências afetivas em família não escapam da dinâmica da rejeição e dos conflitos de interesse. Nem podemos negar que a vivência de harmonia ou divergências familiares em nossos anos de formação acarreta, muitas vezes, uma futura apreensão distorcida dos afetos e a ambivalente experiência de seus estímulos.
Em suas memórias, Jean-Jacques Rousseau descreve o fenômeno da ambivalência afetiva ao relembrar-se de como, aos oito anos de idade, a punição física pelas mãos de Mle. Lambercier – uma mulher vinte e dois anos mais velha – despertaria sua sexualidade e reforçaria o prazer que sentia ao relacionar-se com ela: “(…) eu tinha encontrado na dor, e até na vergonha, um misto de sensualidade que, mais do que o receio, me deixara o prazer de o receber novamente da mesma mão. (…) Ao passo que os meus sentidos despertaram, os meus desejos enganaram-se a tal ponto que, confinados no que houvera experimentado, não trataram de procurar outra coisa”.
Quase todo tempo, ignorantes das nossas próprias motivações, buscamos experiências que nos sejam comuns, sem compreender os caminhos tortuosos que nos levam a aceitar a violência e a rejeição como fontes de prazer e formas de afeto. No amor e na vida, iludimo-nos a tal ponto de não nos reconhecermos necessários para preenchermos nosso próprio vazio existencial, e nisto nossas ilusões passam a ser alienantes. Por fim, o que há de extraordinário nesse texto de Rousseau é a advertência ao leitor de que precisamos estar sempre abertos a questionar nossas experiências.