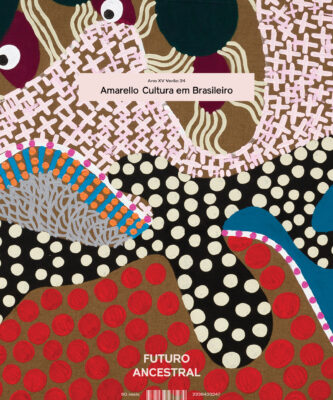Dessa vez, não começou ao mero acaso.
Ao contrário do recurso do clichê com que iniciei meu relato naquela edição de 2013 da Amarello (Qual é o seu legado?), quando mostrei fotografias feitas na Fordlândia (no Pará) e, posteriormente, em Detroit, fruto de uma viagem por impulso anos antes para o Norte do Brasil, fui seduzido a começar esta nova história anunciando que a arte do acaso esteve presente apenas como manifestação inescapável da natureza que circunda a floresta – não como justificativa de falta de intenção.
Sendo agora um pouco mais versado na região da Amazônia, sei bem que nada é assim “tão mais por acaso” depois que você a visita pela primeira vez. Começam a surgir chamados cada vez mais focalizados e audíveis. São como sinais que você captura e reconhece como destinos incontornáveis.
Daquelas ambiguidades sadias ao processo, não lembrava mais qual referência sobre o local era mais marcante: o trabalho de Cildo, “aumentando” a altura do Brasil a partir de sua montanha mais alta, a mítica Yaripo (Pico da Neblina); a capa da revista Realidade de 1971, fotografada por Claudia Andujar, com o célebre retrato de uma criança indígena naquela mesma aldeia; ou algum Globo Repórter que assisti quando era criança, no rescaldo do final da ditadura. Naquele período, intensificava-se a campanha política pelo reconhecimento e demarcação da área indígena yanomami.
Sem acaso qualquer, decidimos que tentaríamos terminar nossa viagem nas aldeias de Ariabú e Maturacá, estado do Amazonas, perto da fronteira com a Venezuela, no pé da montanha mais alta do Brasil. Fazia todo sentido. Nosso plano era subir o Rio Negro a partir de Manaus até a longínqua São Gabriel da Cachoeira e, de lá, alcançar algo a mais. No fundo, alimentados mais pelo ímpeto expedicionário típico dos homens brancos – com todos os problemas que isso pode carregar –, e não pela pesquisa antropológica, visual e política mais madura de Claudia ou Cildo, arriscamos encarnar naquela empreitada uma mistura subjetiva e potencialmente confusa de papéis entre o visitante e o estrangeiro.
Percebemos, acima de tudo, que, dada a proximidade da viagem, não teríamos tempo hábil para planejar e executar a difícil chegada em Ariabú-Maturacá. Destinos incontornáveis, entretanto, movimentam seus pauzinhos. Alguns dias intensos de pesquisa e um curioso encadeamento de interlocutores e telefonemas depois, tínhamos, a princípio, descoberto uma oportunidade de alcançar a aldeia. Nosso recado era o mais despretensioso possível: gostaríamos de ficar entre 3 e 4 dias, éramos oito pessoas, e nosso único interesse era conhecê-los.
[…]
Um corte abrupto no tempo, e estamos em São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, município com a maior população de origem indígena do Brasil. Uma chuva forte havia caído na noite anterior, o que me fez dar um sorriso irônico e resignado sobre o dia seguinte. O primeiro capítulo seria vencer um punhado de horas de barro melado e crateras, em algumas seções apenas transitável mediante ajuda de troncos e cordas, dentro de uma boa e velha Toyota Bandeirante – condições que, por óbvio, desceram ao nível do absolutamente incerto depois daquele temporal. Em cima da Toyota, havíamos acoplado uma lancha “voadeira” de alumínio para 10 pessoas, numa amarração de volumes desproporcional que lembrava cenas antigas do Camel Trophy, o motor alugado no porta-malas, um amontoado de mochilas e, claro, suprimento para alguns dias.
Atravessamos a linha do Equador, e uma onça escura nos atravessa segundos depois, para simbolizar mais uma vez que estávamos em território alheio e relembrar que os sons do silêncio amazônico são essencialmente atravessados por rompantes visuais, algumas vezes táteis. De um ponto inóspito na BR-307, abruptamente saltamos para as águas ainda rasas e densamente cobertas pela floresta do Rio Cauaburis. Daquele ponto até a aldeia, a depender do rio e da destreza do nosso piloteiro, o segundo capítulo renderia outras 6 a 8 horas de viagem.
Enfim, chegou a boca da noite para virar a página de uma navegação empreendida no ritmo mais intenso possível, em meio a corredeiras, pedras traiçoeiras e pássaros em revoada, nos forçando a desacelerar os ânimos e o volume do som do motor. A aterrissagem do breu absoluto na última hora rio adentro envolveu e abafou a atuação como visitantes a que nos prestáramos até então para substituí-la, como protagonista, pelo papel de estrangeiros. As cenas finais da chegada, já no Rio Maturacá, renderiam um plano contínuo: os raios de luz de nossas lanternas tateiam cada metro à frente, enquanto rompantes de vozes da floresta ressoam de margem a margem como que para torcer nossa posição ainda mais. Se havia alguma coisa de real naquele instante, era menos o fato de que conseguíamos identificar a presença de alguns animais, sentir o deslocamento da água e, no fim, ouvir vozes bem ao longe e mais o fato de que, acima de tudo, era a floresta, ela sim, que nos ouvia.

Encostamos na margem direita, em pretenso silêncio, numa área íngreme mas plana de terreno; aos poucos, cada um desce, tenta identificar sua própria mochila, começa a subir na terra firme em busca de nossos anfitriões. Há uma certa dificuldade em caminhar pelo mato crescido misturada à exaustão de um longo dia de viagem. Tínhamos, no entanto, alcançado o algo a mais que nossa expedição se propusera. Um sentimento de satisfação amainava a tensão e a dificuldade daqueles últimos passos. Havíamos conseguido!
Deparamos, de repente, com um homem altivo e que nos aborda com a postura de quem já percebera há algum tempo nossa chegada. Antes que exercêssemos nossa vontade ou satisfação, tratou de colocar em seu devido lugar as coisas, em tom grave: “Quem são vocês e o que vieram fazer na nossa terra?” Dali em diante, a narrativa ganharia novos contornos – nosso recado simplesmente não chegara a eles como deveria.
Tomando a liberdade de reservar para bate-papos descontraídos e conversas de bar o charme ou curiosidade de cenas e situações ímpares que vivemos nas 24 horas seguintes à (não) recepção na noite de chegada nas aldeias de Ariabú e Maturacá – até porque, para Rancière, o “real precisa ser ficcionado para ser pensado” e eu gosto de mudar detalhes de entonação a cada interlocutor –, ou porque não quero me estender demais e sofrer com cortes do editor nas minhas fotografias, pulo para a segunda noite na aldeia, depois do cancelamento inesperado da reunião de líderes yanomamis, representantes políticos das duas aldeias, xamãs, caciques e o nosso grupo, cuja única e tensa pauta era discutir a nossa presença lá.
Preparamos o jantar, esticamos nossas redes e conversamos longamente a respeito do encontro que ficara para a manhã do dia seguinte, nosso terceiro dia na aldeia, numa mediação que colocaria a nu o choque que causáramos pela visita onde a ponta de lá não recebeu adequadamente o sinal vindo de cá, transformando-nos em estrangeiros, inesperados, estranhos, nem mesmo donos da fineza em bater à porta antes do anoitecer. Decidiu-se que eu seria o “cabeça” do grupo, fato cobrado pelos yanomami (“Quem é o cabeça de vocês?”), falaria por todos e concentraria as intervenções espontâneas e improvisos de fala em momentos que julgasse necessários. A luz da lua, quando despontava, contribuía para denunciar o jogo misterioso de entrelaçamento entre as nuvens e o pico de arestas marcadamente irregulares da Serra do Padre, num vaivém que parecia ter também dominado o clima de tensão daquelas duas primeiras noites.
Se pudesse escolher um aspecto que se evidenciou e chamou atenção a partir da nossa presença, eu diria que foi a percepção de que uma aldeia indígena (e, no caso, eram duas) contém as mesmas complexidades, contradições, choques geracionais e de pontos de vista que qualquer outra organização em sociedade.
No entanto, concomitante com o desanuviar dessa constatação, nossa condição de estrangeiros não convidados influenciou para que, ao contrário da sorrateira luz da lua da noite anterior, a luz do sol daquela manhã deixasse clara, evidente, e estridente a necessidade de que a coerência e a unidade se impusessem nas quase quatro horas de intensa sabatina que reuniram, de um lado, mais de cinquenta yanomamis de diferentes idades e posições e, de outro, nosso grupo de oito aventureiros, além do experiente piloteiro, que, mesmo conhecendo o local e muitos daqueles índios, também fora colocado, ao nosso lado, na posição de estrangeiro, quiçá invasor, essa mudança de categoria nosso receio maior.
Posso afirmar, com convicção, que aquele encontro foi um dos maiores aprendizados da minha vida, ou, por outro lado, uma verdadeira prova de fogo em que cada um teve de trazer para a mesa seus prévios aprendizados. Um microfone com caixa de som foi trazido para que as falas pudessem ser registradas por todos, com a pitada Lost in Translation que as traduções do português para o yanomami, e vice-versa, adicionava na rodada de entendimentos, explicações e negociações. No final daquele dia, quando a tarde caiu, o sol morreu e de repente escureceu, emergiu um céu estrelado a proteger os cantos noturnos das mulheres como preparativos para a Festa da Pupunha, cujo privilégio de espectadores, e agora visitantes, pudemos experimentar. Estava, no fim, tudo bem. Na cosmologia indígena, totalmente ao contrário da ideia que carregamos intrinsecamente a partir de nossa estrutura como civilização, parece existir apenas uma cultura, e muitas naturezas – a cultura humana.
Em meio a mais um novo ciclo que se reiniciou agora em 2019, com a volta requentada de propostas para a Amazônia nos moldes da ideologia geopolítica e de desenvolvimento regional ambientalmente pouco sustentáveis dos anos 70, características do período da ditadura militar e cuja ineficácia é simbolizada pela célebre fotografia de Claudia de um yanomami convertido em malfadado operário da Odebrecht durante a construção da Perimetral Norte, escrevo este texto no afã de difundir um pensamento para nós, o “Povo das Mercadorias”: antes de divagarmos sobre os índios e sobre o que acreditamos ser melhor para eles, em suas próprias terras ancestrais, devemos exercitar, em primeiro lugar, o dever da escuta. Os sons que atravessam o silêncio amazônico, afinal, são também e principalmente os sons do Povo da Floresta.

Texto originalmente publicado na edição O Estrangeiro
Assine e receba a revista Amarello em casa
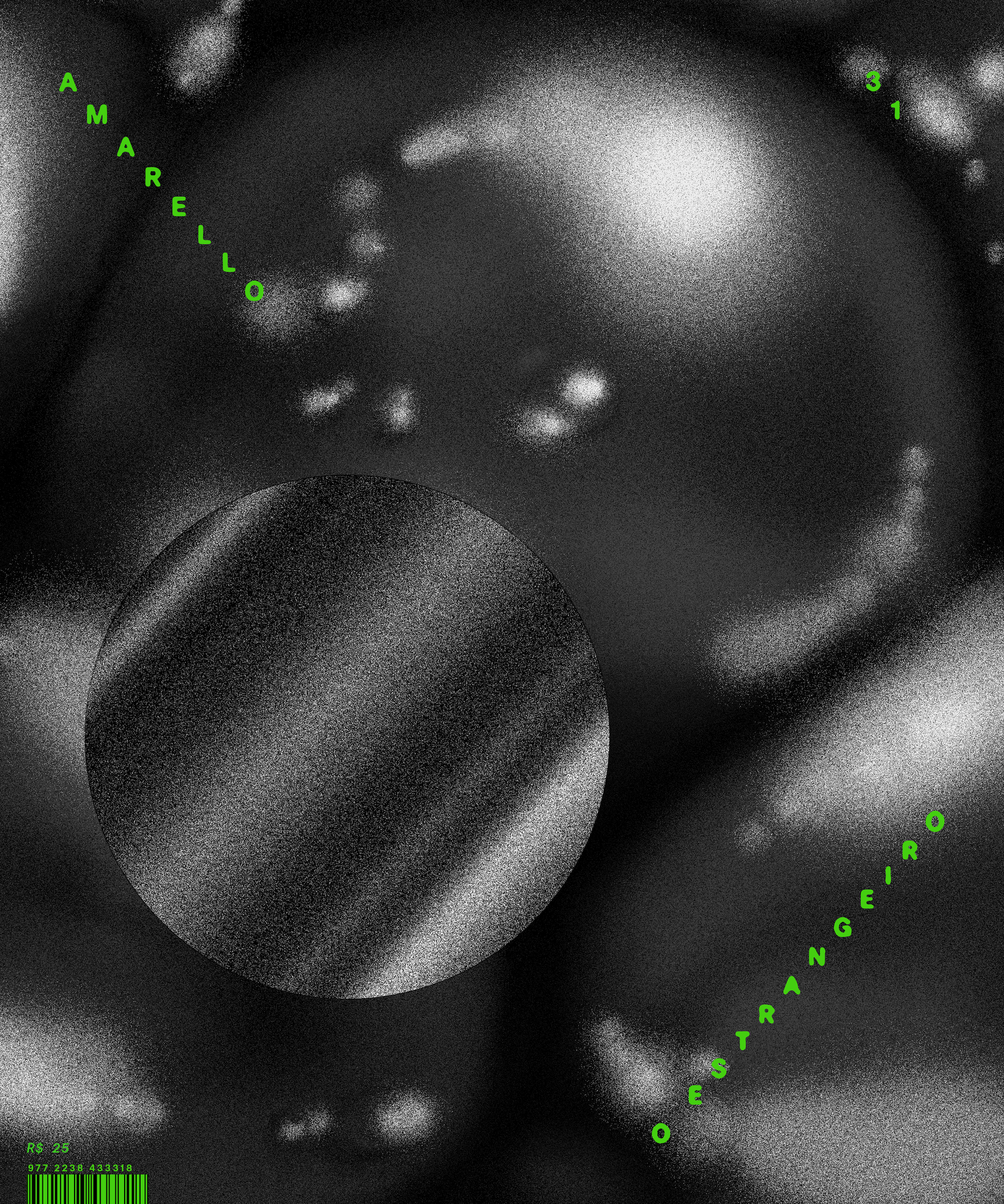
Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista