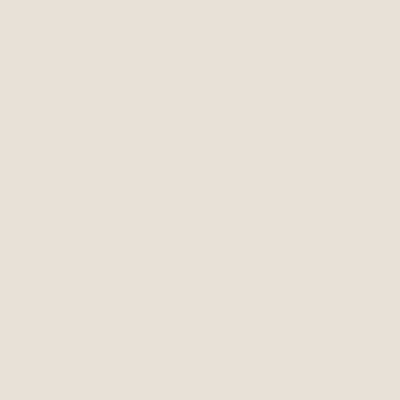Dicen que por las noches
Nomás se le iba en puro llorar
Dicen que no dormía
Nomás se le iba en puro tomar
Na rodovia vazia, a voz de Caetano Veloso ressoa no lamento mexicano “Cucurucucu Paloma”.
Céu azul claro, um carro solitário percorre o asfalto. Cordão de ouro no pescoço, semblante triste, pulseira de ouro no braço, o homem negro ao volante tem, no peito, atrás da camiseta branca colada ao corpo, um coração de criança magoado.
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba
Ay, ay, ay, ay, ay gemía.
Crianças negras de pele retinta surgem, em transição de cena, banhando-se alegres no mar, sob o céu noturno. Suas peles brilham azuis sob a luz do luar.
Moonlight é um filme de Barry Jenkins, inspirado na peça In Moonlight Black Boys Look Blue, de Tarell Alvin McCraney. É desse filme a cena descrita acima, protagonizada pelo ator norte-americano Trevante Rhodes. O enredo se desenrola em três atos, passando pela infância e adolescência de Chiron no subúrbio de Liberty City, Miami, até a fase adulta em Atlanta. Uma sucessão de situações abusivas e de gatilhos para quem, como eu, se identifica com o personagem da trama. Enquanto ele luta para entender e reconhecer sua própria identidade e sexualidade, passa, ao longo dessas transformações, por todo tipo de violência psicológica e física.
No desenrolar do filme, uma figura masculina, no entanto, surge para quebrar o ciclo de representações tóxicas. Juan, interpretado genialmente por Mahershala Ali (Oscar de melhor ator coadjuvante), é um narcotraficante, um homem preto na pele do estereótipo largamente explorado pelo cinema e pela mídia no geral, a mesma que faz vistas grossas à cor alva dos reais detentores do poder oriundo do tráfico de drogas.
Por vários minutos, o filme desafia nosso olhar condicionado e acostumado a representações estereotipadas do homem preto. Em que momento ele vai mostrar seu comportamento violento? Certamente será mais um a abusar da inocência e fragilidade de Chiron.
Juan amorosamente o acolhe, talvez se enxergue naquela criança amedrontada, o leva para conhecer sua namorada Teresa, vivida pela maravilhosa e multitalentosa Janelle Monáe, lhe fala sobre autorrespeito, lhe apresenta uma vida harmoniosa, numa casa pronta para recebê-lo sempre que quisesse ou precisasse fugir da rotina violenta em sua casa e na escola.
Um homem cheio de virtudes, preso, como tantos outros, à máquina de moer pretos e periféricos chamada de guerra às drogas. Vítima ou vilão são os papéis que restam para quem nasceu preto, indígena ou periférico, seja nos EUA, onde a trama se desenrola, seja no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo.
Juan nos apresenta suas subjetividades e compreende as subjetividades de Chiron, menino delicado, introspectivo, violentado por uma cultura machista e racista. Juan é um homem. Um homem que ajuda na formação de outro homem.
A canção “My Time” de Gregory Isaacs tem uma frase que diz: “Eu mereço o direito de ser como qualquer outro homem”. Porque um homem negro é um homem negro, mas o homem branco é apenas um homem. “Eu sou um homem” (I Am a Man) é uma declaração dos direitos civis, que nasceu em países como Estados Unidos e África do Sul, como resposta ao termo “moleque” usado como insulto racista para homens de cor escravizados, presumindo serem menos do que homens, serem inferiores. Essas ideias parecem absurdas, às vezes até distantes, mas a realidade é que pouca coisa mudou de lá até os dias de hoje, e o cinema tem um importante papel nessa construção do que é ser um homem preto.
O filme Eu Não Sou Seu Negro, dirigido pelo norte-americano Raoul Peck e inspirado no livro inacabado Remember This House, do brilhante escritor e pensador James Baldwin, conta, dentre várias outras passagens, um pouco de como se deu essa construção, no cinema, do homem preto violento, fanfarrão, sexualizado, ridículo, submisso, que até hoje vemos facilmente retratados no cinema e na TV. Basta ligar qualquer canal brasileiro e assistir a qualquer programa policial, novela ou comédia, o homem e a mulher negra estarão lá sempre retratados de forma violenta ou jocosa, ridícula, quase sempre animalizados.
Tem uma passagem em que Baldwin narra a primeira vez que assistiu ao filme Esquecer Nunca (They Won’t Forget), de Mervyn LeRoy, de 1937: “Acho que foi um ator negro chamado Clinton Rosemond que fez esse papel. Ele parecia um pouco com o meu pai. Ele está apavorado porque uma jovem branca de uma cidadezinha do Sul tinha sido estuprada e assassinada e o corpo dela tinha sido encontrado no prédio onde ele é zelador. O papel do zelador era pequeno, mas o rosto do homem ficou marcado na minha memória até hoje. A brutalidade e a frieza do filme me assustaram e me fortaleceram”.
Essa construção foi e continua sendo massivamente utilizada pela indústria de entretenimento para colocar o negro, especialmente o homem negro, no lugar criado para “enjaulá-los” e resumi-los a estereótipos.
No cinema, enredos protagonizados por pessoas pretas habitualmente acontecem nas favelas, em comunidades pobres, violentas, nos presídios, ou retratam alguém oriundo desses lugares, como se corpos pretos habitassem apenas essas realidades. Cidade de Deus (Fernando Meirelles e Kátia Lund), Tropa de Elite (José Padilha), filmes nacionais de sucesso internacional, são exemplos da exploração desses estereótipos – apenas para citar dois que me ocorrem mais facilmente, mas a lista é imensa e em constante atualização, com o agravante de serem majoritariamente produzidos e dirigidos por pessoas brancas.
Numa pesquisa rápida sobre os personagens vividos, por exemplo, pelo ator Babu Santana, você encontra: Birão, Bartu, Soldado, Mecânico, Capanga de Lourival, Montanha, Assaltante, Carniça, Coisa Ruim e por aí segue. Bem simpáticos, né? Esse mesmo ator nos enche os olhos de lágrimas e de amor com o personagem Ivan, um homem doce, apaixonado pelo marido, no belíssimo filme Café com Canela, roteirizado por Ary Rosa e dirigido por ele em parceria com Glenda Nicácio; um filme majoritariamente realizado e protagonizado por pessoas pretas.
Na TV, de forma ainda mais explícita, o povo preto é constantemente retratado como pessoas ridículas, grotescas, como no canal Multishow, que, apesar de se fazer passar por “moderninho”, descolado, exibe sitcoms como Tô de Graça, recheada de personagens animalescos, bizarros, de cabelos crespos desgrenhados em cenário de casas pobres, onde poderiam habitar pessoas trabalhadoras, estudantes inteligentes, artistas e profissionais talentosos, famílias amorosas, em suas mais variadas constituições – pessoas que lutam todos os dias contra o seu genocídio, que vivem contrariando as estatísticas de morte e violência de seus iguais, mas que são representadas como animais engraçados, que fazem graça com suas misérias e que usam sua estética de forma caricata para provocar risos. Velha história.
Além de tudo, esse tipo de programa frequentemente usa o blackface para retratar pessoas pretas. Não o blackface da cara pintada de preto, que causa revolta e comoção nas redes sociais, mas o blackface “aceitável”: perucas de cabelos crespos, narizes aumentados para os lados, peles escurecidas por maquiagem. Infelizmente, muitas vezes, pessoas pardas se prestam a fazer a parte suja desse jogo. A vontade de mencionar nomes de atores que vivem desse tipo de atuação é grande, mas não quero me demorar demais nesse parágrafo desagradável.
Isso tudo me faz lembrar um trecho da poesia de um amigo, escritor fabuloso, Marcio Vidal Marinho, de São Paulo, no livro 21 gramas.
(…) Sigo de mãos atadas,
São ferros e correntes
Impossíveis de destruir.
Meu espírito guerreiro grita
E não compreendo…
A única palavra que ouço,
Mas não entendo
É negro,
Negro, negro…
O que será um negro meu Zaci?
E o que é um negro, senão uma construção da branquitude para designar, na América, aqueles que foram sequestrados no continente africano e que tiveram toda a sua história, cultura e subjetividades reduzidos a uma palavra? Essas mesmas pessoas, detentoras dos meios de produção e distribuição de conteúdo, donas dos grandes estúdios de cinema, das salas de cinema, das estações de rádio e TV, só para citar alguns, geração após geração, seguem alimentando o significado da palavra negro dentro de suas perspectivas racistas.
“Eu afirmo a vocês: o mundo não é branco, ele não pode ser branco. Branco é uma metáfora de poder. (…) Eu não sou um preto. Eu sou um homem. Mas, se vocês acham que eu sou um ‘preto’, significa que precisam dele. (…) Vocês brancos o inventaram, então vocês têm que descobrir o porquê” – essa é mais uma fala de Baldwin no filme Eu Não Sou Seu Negro.
Não há como falar sobre masculinidade negra sem passar pelo estereótipo e fantasia de medo e tesão criados pelo branco para designá-la.
O cinema não é pai desses estigmas, mas é responsável por fixá-los e perpetuá-los no imaginário coletivo. Por isso iniciei o texto narrando a bela cena do filme Moonlight, onde há um homem cheio de subjetividades, de profundidade. Um ser completo e complexo. Essa nova narrativa é uma das armas que nós, artistas, compositores, roteiristas, diretores, escritores, poetas, músicos pretos temos para construir no imaginário coletivo o que sempre existiu, mas nunca foi retratado.
No final de Moonlight, Chiron, já homem feito, vivendo em Atlanta, vai ao encontro do seu amigo de infância e adolescência, Kevin, com quem viveu descobertas e frustrações… Esse lugar especial que o amigo sempre ocupou na vida atribulada do menino Chiron acabou virando, também, um lugar de afeto e desejo entre ambos. Os dois se reencontram adultos, em Miami, depois de um pedido de desculpas de Kevin por telefone (por uma violência cometida por ele na época de escola, que gerou uma grande mágoa em Chiron), e, de repente, nos vemos em um restaurante tipicamente americano, onde Kevin ao mesmo tempo cozinha e atende todas as mesas, cenário do reencontro dos dois.
Kevin prepara para Chiron um prato bastante conhecido nosso, feijão com arroz. Na radiola de ficha, Barbara Lewis canta:
Hello stranger
It seems so good to see you back again
How long has it been?
(Ooh it seems like a mighty long time)
Torcemos pelo beijo e o final feliz desses dois homens que foram a vida inteira privados de demonstrar afeto e construir uma vida longe da violência e dos estigmas que reservaram para eles.
Eles não se beijam. Se consolam e se abraçam.
E, assim, concluímos que há muito caminho ainda para trilhar. Pois sigamos.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista