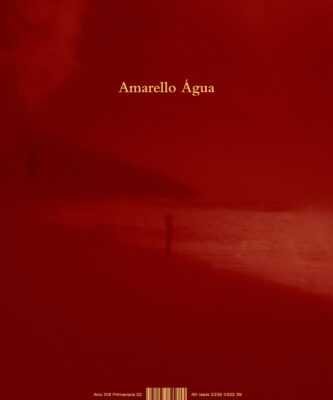Era uma vez o amanhã
Era sábado de tarde quando entrei na cozinha da casa em que nasci e vi meu avô, aos 99 anos, copiando à mão o Livro das mil e uma noites. Eu já tinha aprendido, àquela altura, que as histórias são mesmo as mais antigas e persistentes viajantes do tempo. Também já tinha aprendido sobre alquimia: que a fantasia nada mais é que uma camada firme do real e que, portanto, seja qual for o tempo da escrita de uma história, ela sempre será sobre o presente de quem lê; seja qual for a época que retrate, ali sempre estará o agora; e seja qual for o personagem de que fale, no centro das linhas sempre estará o leitor da vida comum, pressentido e revelado a partir daquilo que mais lhe toca.
Já tinha sido ensinada, também, que a mitologia não está no passado e sim infiltrada em cada pedaço contínuo da vida, embora soubesse que algumas ideias que pertencem à cabeça precisam de tempo para chegar ao coração e serem enfim compreendidas. Lá estava meu avô prestes a completar cem anos de existência, o leitor-copiador sentado à mesa da cozinha todos os dias, religiosamente, decidido a “passar a limpo” em grandes cadernos as mais de mil páginas das histórias que Sherazade contava ao sultão. Tenho a impressão de que vivemos para experimentar momentos como esse na vida, em que o tempo, que antes parecia ir apenas para frente, de repente decide correr em todas as direções, fazendo do pequeno instante um encontro com o eterno. Nas páginas manuseadas por ele estavam narrativas de amor e piedade, terror e crueldade, dúvida e desentendimento, paixões e esperanças perenes em um grande apanhado das veredas humanas. Mas, para compreender de fato a cena, é preciso saber que as mãos que seguravam o livro eram de um homem alfabetizado após os cinquenta anos, e que ali mesmo datava o topo de cada página com uma caligrafia já trêmula pela idade, mas esmerada, dedicando-se apenas à porção suficiente de linhas que completaria um turno suspenso logo antes do cansaço. Ao pé de cada parte, a assinatura do próprio nome e a esperança de ainda haver o dia seguinte para mais um bocado.
Imagino que seja assim mesmo que a mitologia prefere funcionar: esperando pelo tempo de cada coisa, sem pressa de instalar as sutilezas mais profundas nos gestos dos homens comuns. Justo o Livro das mil e uma noites é, para mim, esse grande símbolo capaz de fazer o elo entre os mitos e a literatura, cruzando tradições, continentes e séculos como a pedra fundamental do Oriente sobre a paixão de narrar. Percorrendo com simplicidade essa tradição na mesa da cozinha, meu avô se encontrava com Sherazade, uma mulher inteligente e hábil jurada de morte e que, para vencer tal destino, não escolheu a fuga ou o conflito, e sim o improvável: contar histórias ao algoz. Empunhando a mais antiga arma de encantamento, a fantasia, Sherazade ludibriava a sanha violenta do homem apresentando a ele, noite após noite, a ficção, e inundando o ambiente daquilo que alguns chamariam de “o canto da sereia”. Sem sobreaviso, já na primeira noite o impasse estava formado na alma do sultão: se Sherazade morresse conforme planejado, morreriam também as histórias que ela contava, restando dias sem derretimento e alívio, sem inocência, muito menos imaginação. Foi precisamente assim que Sherazade, a grande personagem do Oriente, ganhou a chance de seguir viva: lembrando ao homem sobre a necessidade da fantasia. Enquanto existissem as histórias, existiria o raiar de mais um dia – ela mesma constatava, já com mil e uma cartas na manga.
Pois bem. Milênios mais tarde, sem alarde, era meu avô quem tinha tudo isso diante dos olhos, tão empenhado sobre os próprios cadernos quanto Sherazade diante da memória para garantir a continuidade da vida. Se ela ludibriou a morte e adiou a finitude acreditando no poder da ficção, por que meu avô não poderia tentar o mesmo? Tenho certeza de que ele não sabia o que estava fazendo, e ainda assim o fez; firmou a fantasia na mesa das refeições, deixando passar pelos próprios dedos o encantamento de estar vivo à beira de completar um século de presença neste mundo, pouco ligando para a autoria, e sim para a chance de se entregar com toda verdade ao mistério. Se dedicou diariamente e com afinco a postergar o próprio desaparecimento, tornando-se escritor das histórias escritas por outros, alimentando a vida com o faz-de-conta e tomando aquele manuscrito como o seu próprio projeto. Enquanto escrevo este texto, pouso os olhos nos volumes finais copiados por ele, nove cadernos dos quais tomo a bênção como a única literatura verdadeiramente sagrada da minha biblioteca.
Pode parecer um gesto distante dos nossos dias este que faço aqui, o de juntar em um mesmo feixe um avô e Sherazade, o real e a ficção de igual para igual, e no entanto aí está a sugestão original das mitologias: que as histórias servissem à vida da mesma maneira que a vida servisse às histórias, sem nenhum embaraço, ambas autorizadas pela fonte humana. Afinal, somos a espécie que inventou a contação de histórias, na origem, com uma finalidade nobre: ter em mãos o vaso que fosse capaz de guardar o mistério, de abrigar os enigmas da vida sem desvendá-los, mantendo-os assim vivos para as consultas do futuro. Tais vasos seriam os mitos, mas correndo um bocado a linha do tempo, também as lendas, as fábulas e a própria literatura, cada uma se afeiçoando à linguagem a seu modo. “Frequentar” uma história seria, portanto, também frequentar o zelo, a paixão e o espanto dos nossos antepassados pela experiência humana, preservando dentro de alegorias, imagens e metáforas aquilo que precisava não ser esquecido, e que só os milênios puderam ver. As linhas finamente compostas pela ficção seriam, elas mesmas, a tentativa de guarda desses milênios.
Era com essa mesma certeza que povos originários da Hungria manejavam as fábulas, conforme nos conta Clarissa Pinkola Estés: como um destino ao qual se recorreria a qualquer tempo para pedir ajuda ao desconhecido. Na tradição deles, em momentos de agonia era preciso pedir para ouvir uma história — o mesmo que buscar conselhos junto aos sábios e viajantes, fontes de saber, porém cientes de que a fantasia opera pelos próprios meios e não indica o que fazer com a vida, e sim como imaginá-la de uma maneira outra. A uma pergunta gigantemente humana e, portanto, infinita, responderia-se justo com a ficção, e não com um conselho, para que fossem igualmente infinitas as possibilidades de resposta.
Imagine então a simbologia formada à porta de uma biblioteca: que uma coleção de histórias fosse antes de tudo uma coleção de socorros à alma humana, a começar pela ruptura da solidão. O leitor destas linhas há de reconhecer o sentimento: perder a noção do tempo ao ser convidado a entrar na ficção, se ali atravessado por uma experiência maior do que se poderia prever e que, mesmo que por um breve instante, é capaz de apagar a memória de quem somos, nos deixando livres e invisíveis. São momentos em que a alma fabuladora está à frente de tudo, e então descobrimos que um enredo nunca será o anúncio completo daquilo que uma narrativa traz em si, corpo muito maior e mais antigo do que a soma das palavras, fazendo da leitura o encontro com aquilo que já esperava por nós, mesmo que não soubéssemos.
Talvez por isso mesmo, como método, mitos, fábulas e histórias da tradição conduziam o leitor ao silêncio, e não ao arrebatamento, mirando ao fim a alma que aprende a ver no escuro. Quem se entregava a uma história como conselheira estaria em busca, antes de tudo, de derretimento, e somente ao respeitar isso uma trama poderia enredar o inconsciente sem aniquilá-lo, envolvê-lo sem se sobrepor a ele, em posição de encantamento, mas também de responsabilidade. Lá estava um silêncio capaz de existir de bom grado nas imagens, confiante de que os significados da história, se existissem, seriam sentidos não somente pelo intelecto ou pela interpretação, mas antes de tudo por uma porção mais profunda e ancestral em cada um de nós. As histórias corriam por fora e tomavam medidas: ao conflito humano somavam uma aparição ou acontecimento por vezes mágico, sempre imprevisto, capaz de alterar a sensibilidade dos personagens para que eles mesmos pudessem então entrar em movimento, fazendo escolhas e mudando a narrativa. Há de se considerar esse bonito encorajamento da fantasia: que ao menos uma vez o humano pudesse ver a si mesmo vencendo a previsibilidade.
Comecei este pequeno texto falando do meu avô, o homem que pediu à literatura que lhe desse as mãos no momento de maior beleza e ambiguidade da vida humana, o seu fim. Não sei qual força o levou a fazer isso, talvez “as forças maiores do amor”, como já disse Estés, semelhante àquela que surge quando contamos, com toda fé, fábulas a uma criança logo antes de dormir, em preparo dos sonhos. São as histórias vencendo o escuro a olho nu, no imenso real, oferecendo coragem e companhia nos muitos momentos em que o que a alma mais precisa é saber que não está sozinha. Quem sabe nos lembraremos disso à luz do dia na próxima vez em que abrirmos um livro para encontrar nele a pergunta que já é, sim, também nossa, apesar de formulada por outro coração. Era uma vez, dirá logo a primeira linha, já pronta para desdobrar o futuro.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista