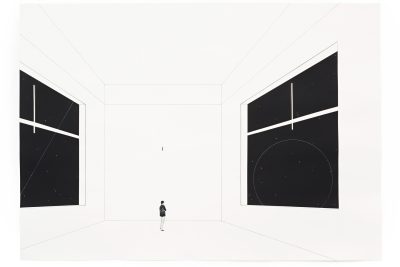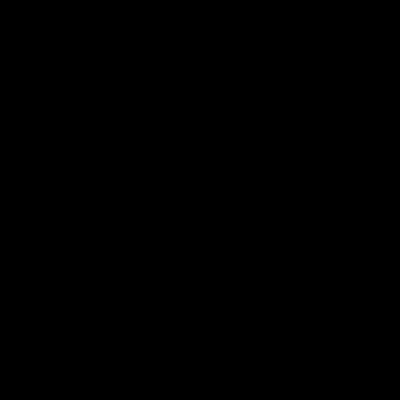Sergio Zola Star é representante da tradição da Rumba Congolesa do Soukous e da moderna música de Angola. Nascido em Angola, criou-se no Congo em virtude da situação política e da guerra de independência em seu país de origem. Chegou ao Brasil em 1994, quando cria a banda Afro Tropicaliente. Em 2017, lançou 60 Graus, seu álbum de estreia. Em março de 2023, lançará Loyembo, seu segundo trabalho de estúdio.

François Muleka é um artista de estilo livre adepto de várias linguagens. Atua como artista visual, cantor, compositor e multi-instrumentista, tendo lançado os discos Karibu (2013), Feijão e Sonho (2015), O Limbo da Cor (2016) e Fauno Aflora (2016); além de ter dirigido trabalhos de artistas como Marissol Mwaba e Ipomea Urutau. Responsável pelo violão e arranjos nas canções de Luedji Luna em seu disco de estreia, Um Corpo no Mundo (2017).
Zola ― A música africana neste país, François… Não sei, não. O Brasil tem muita coisa africana, claro. Falam da África, você vai em vários lugares e vê as pessoas falarem da África. Mas a música africana aqui, neste país… Em nenhum lugar a música africana funciona aqui no Brasil. Não tem mercado aqui. O povo ama, fala da música africana, alguns artistas gostam da África, pelo menos falam que gostam, mas aqui no Brasil ela não está em nenhum lugar. Não está de verdade. Dá mesmo pra falar que este lugar toca música africana? Eu, nesse tempo todo que estou no Brasil, não ouvi música africana tocar na rádio brasileira. Nem na televisão. É verdade, François. Estou aqui faz quase 30 anos e sei bem: não tem mercado de música africana aqui.
François ― 30 anos já?
Zola ― Sim, 30 anos. Eu cheguei aqui no final de 1993, em outubro. Já em 1994 a gente fazia música africana aqui. Nós chegamos na época do problema do Congo e da Angola, com a guerra viemos aqui pro Brasil. Encontramos uns amigos músicos, a gente se juntou, montamos uma banda que se chamava Afro Tropicaliente. Em 1994, a gente já tocava no Rio de Janeiro com os amigos, tocava nessas partes todas da Lapa, na época. Eu comecei a fazer música africana naquele tempo. Mas as oportunidades aqui… Não sei. O povo gosta, mas as pessoas não querem investir em música africana. Desde aquela época estou fazendo música africana, de 1994 até hoje. Mas sempre tem dificuldades demais. Se dependesse só de música, eu morreria de fome. Estou esse tempo todo aqui no Brasil e o nome Zola não existe. Os artistas grandes conhecem, você colabora, vai pra lá, pra cá, mas só roda no mesmo lugar. As pessoas tentam fazer, apoiar, mas parece que tem um sistema que, não sei, desculpe falar isso, mas parece que tem um sistema que rola neste país, só entre eles, lá, no canto. Isso é sujeira. A gente está lutando. Até hoje estou lutando. Dia 23 [de março de 2023] vou lançar meu segundo disco aqui, acústico. A gente faz conexão com outros artistas grandes, toca lá, vai pra lá, mas está faltando muita coisa na área da música africana. Tem que ter pessoas olhando o que é a África neste país, porque a África é tudo. Você olha as coisas que funcionam aqui, a raiz deste país é muito mais africana. Mas faltam oportunidades pros músicos africanos aqui. As pessoas têm que investir muito mais, têm que investir pra olhar os africanos, nós temos artistas talentosos, de alto nível. Vou dar um exemplo pra você: nós temos o nosso velho e grande Lokua Kanza, que é meu amigo pessoal. Por muito tempo ele ficou aqui. Imagina que ele já colaborou com todos os artistas brasileiros, os artistas grandes. Mas ele ficou três anos morando aqui no Brasil. Ele olhou pro mercado brasileiro? Não, ele voltou pra Paris. Aqui não tem mercado, não sei por quê. Isso que eu queria falar. A gente aguarda sempre, até hoje estamos aguardando a oportunidade da música africana neste Brasil.
François ― Isso que você trouxe é uma história muito familiar pra mim, uma história que eu conheço de perto. Conheço de ver meus pais viverem isso. Eles vieram ao Brasil nos anos 80, em 1983 ou 1984, e fizeram música africana aqui. E eu tenho essa experiência também, apesar de ter nascido no Brasil, de ter sido lido sempre como uma espécie de estrangeiro, um estado de exceção. Como se aqui não fosse um lugar onde pessoas como eu existem, mesmo estando cheio de filhos de imigrantes africanos aqui. Nossa, tem muito, está cheio de africanos aqui hoje em dia. Mas na hora de premiar, na hora de contratar, na hora de gerar as oportunidades, o mercado precisa tratar com a africanidade que é um folclore. Ele não consegue lidar com a multiplicidade de formas que a gente tem de ser africano no Brasil. Então parece o seguinte: a África é muito legal, todo mundo quer voltar pra África, existe um discurso geral, uma conversa geral de que a África é boa, é a mãe da humanidade, é o berço do ritmo, tudo é a África, que maravilha. Mas a África aqui precisa ser muito longe e muito velha, muito antiga, e precisa ser sempre igual. A África precisa ser tratada toda num termo bem geral, que é exatamente como estou falando aqui, não à toa, e a gente trata até como se fossem pares próximos, África e Brasil. Por mais que o Brasil seja um país de dimensões continentais, não é um continente. E têm histórias diferentes, elas se cruzam, mas são histórias diferentes. Essa história se faz todo dia, ela se faz quando chegam meus pais, ela se faz quando chega o Zola, ela se faz quando aparece a Marissol [Mwaba]. Então que lugar se tem pra essa África? É um lugar datado. A África existe e ela está num arquivo, é quase como se tivesse que estar catalogada ali, como um passado, uma coisa que já era. Aí fica difícil. O mercado até fala em vender um tal de um afrofuturismo, mas nem a nossa história pode ser contada do nosso jeito. E quando a gente está presente nos lugares, é como se a gente não estivesse lá. E isso não é só entre os espaços brancos, isso acontece como um fenômeno muito brasileiro mesmo, essa coisa de uma África que justamente precisa estar ausente pra ser esse produto desse mercado. E aí, nesse caso, como alguns artistas não conseguem ou não se sentem confortáveis em vender de si uma imagem que não é a que lhes pertence, e sim vender o que se é, o que se tem pra vender, a gente cai no problema de um produto artesanal frente a produtos que estão já dentro de uma lógica maior de mercado. Aí, então, tem um código de barra, tem tudo isso, já tem uma prateleira onde está posto aquilo, é algo de que já se pressupõe um certo conjunto de atributos, que vão chamar de afro-brasileiro. Se desviar disso aí, vai ser outra coisa, vai ser tratado como um estado de exceção ali. São várias pessoas, vários atravessamentos e vários artistas se expressando como pessoas africanas no Brasil, mas sua movimentação passa despercebida, porque ela se faz perceber ativamente através de vários dispositivos que, supostamente, deviam favorecer nosso desenvolvimento, mas, na verdade, favorecem, muitas vezes, só o congelar da gente numa história que está contada por terceiros, disfarçando isso de cultuar nossa ancestralidade.
Zola ― O mercado não existe pra gente. E aí a gente tem que ralar em dobro. Como foi o começo da jornada pra você?
François ― Quando meus pais, que são Muleka Ditoka wa Kalenga e Mwewa Lumbwe, vieram pro Brasil e começaram a cantar, em algum momento, no meio dessa cantoria deles, que era, na verdade, um bico, eles faziam outros trabalhos. Eles faziam esse bico de tocar música, que depois acaba virando emprego, vira o principal ganha-pão. Mas eles tinham outros trabalhos aqui. Meu pai fazia doutorado. Eu nasci no meio disso, então saber que existia a possibilidade da música como um trabalho, além de um hobby, isso eu já sei desde antes de nascer, é um ambiente que já estava acontecendo. Tive a possibilidade de pegar um instrumento e experimentar um instrumento em casa, com tempo, o que não é comum a muitos jovens negros no Brasil, já que a gente é tratado como vagabundo quando fica um tempo experimentando com objetos e com o próprio corpo. Enquanto isso, as pessoas não negras, principalmente pessoas brancas, podem experimentar com seu corpo, aí é a dança, é o balé desde pequeno, o tai chi chuan, e as nossas práticas, não só a própria prática, como a capoeira, mas o nosso praticar com o nosso corpo pelo nosso próprio estudo, pelo nosso próprio gosto de estar em nós, ele também é, de alguma maneira, criminalizado. Então, quando a criança tem a oportunidade de mexer com instrumentos, experimentar com eles desde pequenininha, já tem um começo de uma coisa aí em potencial. Você também cresceu no meio de tudo?
Zola ― Sim. O que incentiva, mas não facilita.
François ― Isso, exatamente. Depois, quando estava ficando adulto, virando um bico, era um trabalho que eu fazia pra ganhar dinheiro: tocava aqui, tocava ali, fui estruturando. Trabalho já desde a época do colégio. Estudava num colégio em Caruaru, montei uma banda com amigos, então já na época do colégio, o colégio ajudou a gente, deu uniforme pra gente da banda, deu camiseta da banda, a gente tocava no recreio. Mas, antes disso, eu já tive um preparo nesse sentido, de poder experimentar fazendo backing vocals da minha irmã mais velha, que é Alpha Petulay, em casa. Eu cantava com ela, e isso tudo vai criando um conforto pra gente depois se jogar nisso como um trabalho. Então começou com pequenos passos e de um jeito que eu não sei dizer exatamente quando virei músico. Mas eu me lembro do momento em que eu decidi que aquilo era uma atividade profissional. Eu decidi que é isso que eu vou fazer, não vou mais tratar como um bico. Isso aconteceu já morando aqui em Florianópolis, em 2005. Aí é uma relação como você falou: se a gente pensa nisso como um trabalho, como viver de música, a pergunta que acaba se apresentando no dia a dia, mais corriqueiramente, é “como não morrer de música e de artes em geral?”. Nesse sentido, todo dia a gente está começando a fazer esse trabalho de novo, porque todo dia você precisa inventar uma nova solução pra continuar fazendo esse trabalho. Muda o tipo de material que você vende em anexo. Antigamente vendia CD, não vende mais; já teve um tempo que dava até pra vender pen drive, hoje não vende; o cachê, as pessoas querem te pagar R$100,00 sempre, desde antes da invenção do real. E aí é que está a esgrima que a gente tem que fazer, porque, assim, cem pila é cem pila, você não consegue defender a vida toda com cem pila, mas você consegue também. E aí os artistas vão trabalhando em várias faixas de frequência. E o que é a música também, né? É isso, não é uma coisa monotônica, tem várias tonalidades, várias faixas de frequência acontecendo, a gente vai se harmonizando nisso. Acho que é essa teimosia que nos caracteriza.
Zola ― E a teimosia vai sendo passada adiante. No meu caso, como o seu, a música vem da família. Eu já nasci no meio da música. Minha mãe já tocava piano na Igreja Batista, então desde criança a gente já escutava música, com mamãe tocando piano e cantando. Eu era o mais jovem na família, mas os irmãos e as irmãs já tinham uma banda na família. Eu, pequenino, escutava. Com o tempo, eles começaram a ensaiar, mas estavam sem baterista. Eu, mais novinho, falei: “vou tocar”. E todo mundo disse: “fica lá, senta”. Aí comecei a tocar desde aquele dia, e todo mundo dizia: “esse menino tem talento”. Aí cresci no meio da família mesmo, a música faz parte dela. Por isso até hoje eu falo: eu nunca estudei música, eu venho de um dom familiar, cresci com ele. Até hoje.
François ― Será que é assim também com gerações mais novas? Porque, fora do contexto familiar, não tem nada que incentive.
Zola ― Boa pergunta. Acho que você tá mais por dentro que eu. A Marissol, que você citou, é mais nova. Se ela cresceu com música ou não, eu não sei, mas dá pra falar que a história dela apontou pro lugar certo.
François ― Eu sou suspeito pra falar da Marissol. Pra mim, ela é nossa camisa 10. Ela está num lugar ali que me inspira muito, como ela faz as soluções dela pra ser artista. E isso implica como ela cria uma realidade material pra poder fazer isso. São escolhas que a gente vai fazendo no caminho, e a gente vai vendo as pessoas fazendo as coisas em que elas conseguem se respeitar e seguir esse caminho. É muito difícil. Gosto muito das soluções harmônicas e melódicas dela. Olho pro que ela faz e vejo algo muito novo, e é alguém que eu vejo trabalhar de perto há muito tempo. Ela me ensinou os primeiros acordes no violão, ela devia ter seis anos, acho, e é isso, não para de estudar coisas com relação ao que faz, mostra o processo dela e encoraja muita gente a trabalhar com música. Ela, inclusive, tem uma escola de música, se chama Mwaba Canto Expressão, e eu já fui aluno nessa escola. E o fato de a conhecer como professora também trouxe outras camadas de admiração, porque é um trabalho complexo esse de ficar se convencendo e convencendo os outros de que se tem alguma coisa pra dizer, que alguém tem algo a ver com isso. E tem, no fim das contas, tanto algo a dizer quanto alguém tem a ver com isso, mas é essa pergunta que congela todo mundo que começa a trabalhar com isso e que depois motiva quem continua fazendo isso, essa conversa pode ser feita de várias maneiras. Mas aquela coisa do ego está sempre ali, virando às vezes um problema, às vezes uma solução. Quando eu vejo artistas que resolvem isso de uma maneira que me inspira trabalho, eu gosto, e a Marissol é uma artista que tem essa característica.
Zola ― As soluções, como você falou, são ótimas. Mas é um caso raro, né? O normal é, apesar de não faltar experiência, não faltar excelência, não faltar vontade, a coisa ficar estagnada.
François ― Eu queria chegar pra um empresário, pra qualquer um que tome decisões no mercado da música, ou até no governo, e dizer pra essa pessoa: “trabalhe, se esforce mais”. Quem quer que seja que quer gerar essas políticas públicas, quem quer dizer que gosta da África, quem quer dizer que está vendo um palmo à frente do nariz, e isso vale pra todo mundo, eu penso isso pra mim: “trabalhe”. E se você tem meio, se é uma pessoa que apita, precisa mesmo trabalhar, faça o seu. Porque, analisando as nossas próprias falas aqui, dá pra ver que, você acabou de dizer, não está faltando muito da nossa parte. Está faltando essas pessoas que dizem que geram isso gerarem isso. Parece que falta dar um match com o que é discursivamente dito. Aí estou falando de grande mercado, mas também estou falando do pequeno consumidor, porque esse grande mercado sobrevive do dinheiro da pessoa que é o consumidor do dia a dia; quem dá o play todo dia ali, quem clica ali, quem prestigia são pessoas comuns do dia a dia. Então, não tem só monstros e máquinas lá fazendo coisas, tem a gente agindo aqui também. É interessante a gente se perguntar, no fim, o que falta, não é? Talvez a gente possa levar isso na mala e ir se perguntando no caminho. Quem falta na festa? Você está num certo lugar, numa certa situação que seja boa; quem falta, o que está faltando ali? Quem não tem acesso àquilo? É uma pergunta boa de se fazer. Agora, a falta desse match, dessa combinação, desse casamento entre o discurso geral e esse com o qual se vendem os grandes nomes, que são grandes nomes da nossa cultura afro-brasileira, e todos os símbolos que são vendidos, e como eles são vendidos, é uma coisa, e depois, como é o tratamento dessa África real e presente, é outra. Aí faz todo sentido, porque, se precisamos vender uma África que é gloriosa, mas está acabada nesse sentido, se ela não tem dinâmica, ela não pode estar viva, ela não pode ser multiforme, como ela realmente é, ela fica sendo um item de museu. E não é, nós não somos itens de museu, somos seres reais acontecendo aqui e agora. Então os gestores precisam olhar pro seu material de trabalho, um trabalho bonito que eles queiram gerir, têm que olhar pra isso não como eles querem dizer que sejamos.
Zola ― Acho que é isso; acima de tudo, falta investimento. Algumas pessoas têm que investir nessa área, nessa cultura africana deste país. Talento não falta, isso tem muito. Está surgindo outra geração, os filhos nossos que nasceram aqui no Brasil, com essa raiz. Falta mais oportunidade, isso é o que mais falta.