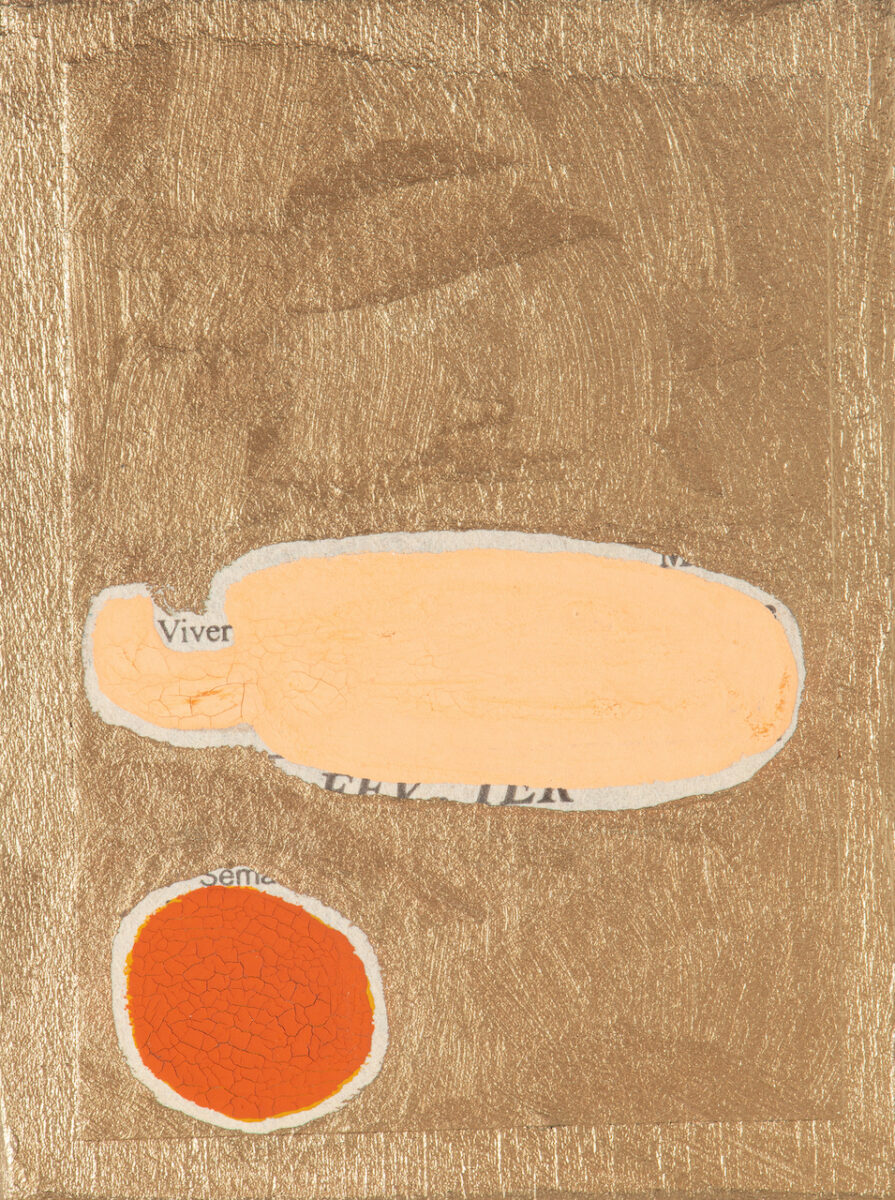
Por que família? Um diálogo com Renato Noguera
Quando pensamos em família, geralmente nos vem à mente o modelo branco-ocidental heteronormativo. “Pai, mãe e filhos”. Além disso, costumamos lembrar também de dogmas que inserem a família num lugar sacro e imaculado. Mas o que será que a filosofia, em especial as sabedorias de origem africana e afrobrasileira, tem a nos ensinar sobre esta instituição-conceito tão central em nossa sociedade? Para saber mais, conversamos com o professor e pesquisador Renato Noguera, autor do livro Por que amamos.
Dentro de uma perspectiva filosófica, o que é ou o que são as famílias?
Noguera – Uma forma de pensar a família, em termos filosóficos, é como um ecossistema afetivo, como um ambiente onde há um tipo de circuito afetivo do qual as pessoas se alimentam, se retroalimentam e podem aumentar sua potência. Podem ser mais ou menos funcionais. Então, em famílias mais organizadas, que são afetivamente mais equilibradas, as crianças, as pessoas adultas, todas as pessoas tendem a crescer mais, desenvolver seus potenciais e serem mais colaborativas, mais proativas e mais funcionais. E famílias disfuncionais são ecossistemas mais desorganizados, ecossistemas que não são autorregulados. Então, por uma teoria filosófica dos afetos, as famílias são ecossistemas afetivos.

Em seu livro, Por que amamos, você traz algumas perspectivas filosóficas, pautando o que a filosofia e os mitos têm a dizer sobre o amor. Você acha que tem algo que os mitos, a filosofia, os itãs podem nos dizer sobre as famílias?
Noguera – Tem algo interessante, porque em algumas culturas, por exemplo, na cultura cristã, o amor tem um papel muito importante, um papel de centralidade. A gente vê isso em Coríntios, em várias passagens: o amor tudo suporta, em tudo crê.
Muniz Sodré destaca uma coisa importante. Ele fala, por exemplo, que a alegria tem um papel central na cultura iorubá, que a alegria é uma coisa que a gente incorpora, uma coisa que tem relação com o núcleo familiar. Então, depende muito de como a gente define amor nesse contexto.
Agora, o amor, em muitas tradições culturais africanas, não é [percebido] da mesma forma que é percebido na tradição judaica ou na tradição cristã. Especificamente, tem essa diferença… Agora, para a gente pensar sobre família, há diferentes formatos. Há famílias que são policonjugais, famílias que não estão no padrão da tradição monogâmica, judaica-cristã, famílias que são mais extensas, famílias que não têm só o caráter nuclear — do pai, da mãe e das crianças, geralmente —, então, são mais amplas.
É importante que a família seja um espaço, um território de segurança psicológica. Acho que isso é o mais importante. Como a gente tem na família um lugar em que as pessoas estão confortáveis para poder dizer o que elas estão sentindo, para poder expressar suas emoções, para poder trazer as suas angústias, para poder ter suporte e apoio. Então, família é um território de proteção e de alimentação espiritual também.
Uma forma de pensar é a família como um lugar onde a gente se alimenta, onde tem apoio e fica mais seguro psicologicamente para poder tomar suas decisões. Um lugar fundamental para que as nossas decisões sejam apoiadas e as pessoas possam não decidir pela gente. Mas são pessoas que gostam e que cultivam admiração [umas pelas outras]. Não tem uma fórmula de como as famílias são, mas eu acredito, eu sugiro nas minhas leituras filosóficas, que o ideal é que a família seja um território onde as pessoas tenham mútua admiração, porque tem uma linha muito tênue entre a admiração e a inveja.
A inveja é aquilo que as pessoas supõem que é muito interessante no outro, e que eu gostaria de ter, e que eu não admiro porque eu sinto que sou merecedor e aquela pessoa tem algo que eu gostaria de ter. De alguma forma, ela disputa comigo aquele lugar que eu gostaria que fosse meu. Já na admiração, independente do que eu queira, do que eu deseje, eu vibro positivamente com o que as pessoas estão fazendo. Então, uma família é interessante quando ela é um manancial de circulação de admiração.
As pessoas se admiram, porque isso faz com que tenham amor. Então, o amor passa pela admiração. Em poucas palavras, uma lição filosófica que aparece em mitos de algumas tradições culturais, nos itãs, é que a admiração contribui, ela faz parceria com o amor. Isso faz com que as pessoas sejam mais seguras, que elas possam ser mais potentes na vida.
No artigo Por que meninos não podem brincar de boneca?, você discute que a cultura ocidental é uma receita líquida e certeira para produção de masculinidades tóxicas. Como você observa o papel das masculinidades na construção familiar?
Noguera – O que muitas pesquisas, muitos estudos apontam — e tem algumas evidências também nesse sentido — é que a gente vai aprendendo, com a brincadeira, a nutrir, a ter mais ferramentas, mais repertório para algumas coisas. Então, quando os meninos são capazes de brincar com boneca, os meninos são mais convidados para atividades de cuidado.
O que acontece com os meninos é que a masculinidade vem a ser construída para que o homem não seja um cuidador, para que o homem seja cuidado por alguém, preferencialmente uma mulher, e para que esse homem seja sempre provedor. Tanto que os homens são mais julgados nesse aspecto cultural por aquilo que eles fazem, que eles representam, e não por aquilo que eles aparentam ser. Então, os homens, nos relacionamentos heteroafetivos, são menos cobrados em relação à aparência e estão sempre focados em performar produção. Uma forma, talvez, de enfrentar essa masculinidade mais intoxicante passa pela possibilidade de inserirmos os homens em atividades de cuidado. Os números mostram isso: os homens estão mais envolvidos em ataques violentos, em situações de violência urbana, nos casos de atentar contra a própria vida e a vida dos outros. Isso não é gratuito, tem uma cultura masculina que leva a esse cenário. Em poucas palavras, é importante que os meninos sejam criados com brincadeiras e brinquedos que possam estimular que eles sejam pessoas que cuidam, de si e dos outros.
Quais formatos de família você tem observado nas suas pesquisas? Você observa diferenças em formatos possíveis de família, comparando Ocidente e África?
Noguera – Cada vez mais encontramos formatos diferentes de família. Acho que uma forma, talvez, de conceitualizar a família, pensando o mundo contemporâneo, é como uma organização social, um grupo de pessoas que tem algum laço afetivo, não só laços consanguíneos. Em algum momento, a ideia de consanguinidade, a ideia de linhagem, atravessava a noção de família profundamente. Então, eram os laços biológicos marcados por uma conjugalidade. Logo, o conceito mais tradicional de família tinha a ver com cônjuges, com o casal — e esse casal, geralmente, era um casal cishetero —, e, a partir dos filhos, dos descendentes, se constituía uma família.
Em algumas culturas, o conceito de família é mais ampliado. Se a gente pensar nas villages, em contextos africanos, nas aldeias indígenas, [eles] se chamam de parentes, se entendem como parentes, não que você não tenha ali conjugalidades, pessoas com laços biológicos, laço consanguíneo, mas não é só isso que define o que é família. Então, cada contexto cultural vai ter uma perspectiva de família mais ou menos ampliada.
O conceito tradicional está sendo discutido. A cisheteronormatividade já tem sido rechaçada, os movimentos sociais contra o patriarcado, que são vários deles, movimentos feministas, movimento de população LGBTQN+, já romperam com isso. Família não é só um casal hétero com seus filhos, isso já está dado. Tem formatos com pessoas que convivem e que se entendem como família. Hoje, são pessoas que convivem, que habitam o mesmo espaço, que têm uma identificação afetiva, e, a partir dessa identificação, elas têm apoio mútuo, é uma rede. Família tem a ver com uma rede de afeto e de apoio, cada vez mais isso. Tem a ver com interdependência.
Podemos dizer também que são pessoas interdependentes que querem o bem-estar dos membros daquela comunidade. Em poucas palavras: família é uma comunidade que se reúne, que vive na mesma casa ou não, que não precisa ter laços consanguíneos, mas tem laços afetivos de apoio e suporte mútuo. Os formatos são evidentemente variados, pessoas casadas, pessoas não-casadas, pessoas solteiras que moram juntas, pessoas que têm um grau de parentesco, com avô, com neto, bisneto, tio, sobrinho, variado, primos, irmãos que moram juntos, irmão ou filho de um, sobrinho. Então, há muitas formas de se compor essa família.
Parafraseando um pouco seu livro, por que você acha que a gente ama? Por que amamos? E por que nos reunimos em família?
Noguera – Por que amamos? Porque o amor é um afeto de organização, é o afeto mais organizador que a gente tem. Então, nós somos seres que têm afetos primários, secundários, terciários.
Afetos primários, das emoções. Secundários, dos sentimentos. E afetos terciários, os nossos pensamentos. O amor é um afeto que, quando se liga com outro afeto, e ele está no controle, ele nos organiza. Não que uma pessoa deixe de ter raiva quando ela ama, ou deixe de ter ciúme, mas se o ciúme é que está dirigindo o carro, o que vai acontecer? Ele vai evitar acidente, ele vai ter mais cuidado numa pista molhada, ele não vai beber antes de dirigir, para não passar pelo bafômetro? Mas se for a raiva dirigindo, o ciúme, a possessividade, esses afetos podem fazer esses tipos de coisas. Então, as pessoas que amam podem tomar decisões ruins, porque o amor pode não estar na gestão daquele corpo.
E a gente se reúne em família porque um dos piores sentimentos é o abandono, é a rejeição. Essa rejeição pode ser simbólica, pode ser efetiva, material, de estar fora de um grupo. Tanto que tem alguns indícios que vão apontar, para estudos de antropologia biológica, que a gente se tornou ser humano a partir do momento em que uma pessoa quebrava o fêmur — isso, falando lá no paleolítico —, e essa pessoa era cuidada por outras pessoas, porque se ela quebrasse o fêmur e ficasse sozinha, ela morreria.
Há séculos a família significa proteção. Sem família, sem grupo, a gente fica largado, porque é um grupo que vê o seu lado, não só a tua melhor edição. A nossa melhor edição está no mundo lá fora. Nas relações mais íntimas, a gente aparece sem maquiagem, aparece sem edição. E aí, só esse amor familiar é que pode fazer a pessoa brigar com a outra e, mesmo depois de uma briga, ela ainda acolher e dar carinho. Porque [você] não vai romper com uma pessoa somente porque ela fez algo errado naquele dia. Se quebrar o prato, não vai ser motivo para não ser mais querida e amada. Por isso, também, que a gente tem que ter um cuidado afetivo importante.
Por exemplo, a criança sente raiva, grita, esperneia. É importante que os pais saiba lidar com isso, senão a recusa da raiva da criança pela família gera na criança a ideia de que ela só pode ser validada se não demonstrar o que sente, só demonstrando bons sentimentos. Isso não é real e não é o mundo real. No mundo real, vamos demonstrar coisas boas e coisas ruins, vai ter discordância.
Nesse contexto, a família serve para exercitarmos nossa humanidade desde cedo, trazendo ali nossas verdades. É nesse espaço que podemos nos permitir agir sem o receio de não sermos benquistos, onde podemos relaxar da casca social, da aparência montada. A família serve — ou deveria servir — para isso, para ficarmos à vontade.
Renato Noguera é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Leafro) e coordenador do Grupo de Pesquisa Afroperspectivas, Saberes e Infâncias (Afrosin), tem se dedicado a investigar os afetos num diálogo entre antropologia, história, filosofia, neurociência e psicanálise. Autor dos livros “Porque amamos: o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor” e “O que é o luto: como os mitos e as filosofias entendem a morte e a dor da perda”.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista












