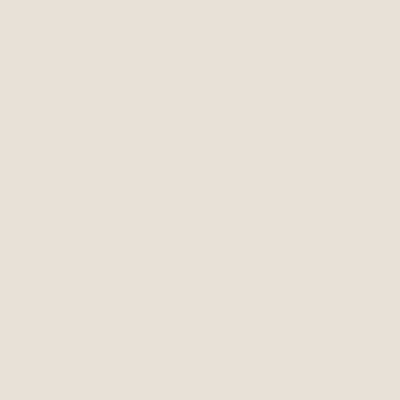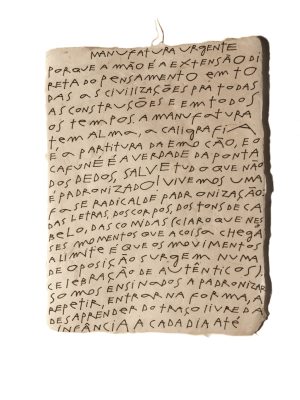Warazu: a visão do branco
Imagine carregar um gravador a tiracolo, desses antigos, cheio de botões quadrados, parecido com um tijolo longo e pesado, sob o olhar desconfiado de políticos e da imprensa, enquanto cada palavra que você registra denuncia injustiças. Nos anos 1980, um homem indígena fez exatamente isso, desafiando a imagem que a sociedade esperava dele. Em uma época em que a voz indígena era silenciada e a sua presença na sociedade totalmente invisibilizada, o cacique Mário Juruna não queria apenas registrar vozes — queria que o país ouvisse o clamor dos povos indígenas. No entanto, ele foi retratado pela mídia mais como uma figura bizarra, que dizia:
Warazu, o homem-branco, trata a palavra sem honrá-la, fazendo dela fumaça sem valor. Conta com o poder do vento que as leva, mas eu guardo aqui neste aparelho para que meus parentes saibam tudo o que falam e fazem e o que falam e não fazem.
Considerado excêntrico, por andar com um grande e pesado aparelho eletrônico, ele se destacava pela determinação em registrar a palavra dos políticos e denunciar a desconfiança dos indígenas em relação ao governo. Esse homem, Mário Juruna, acabou sendo retratado pela mídia como um clown da floresta, e o uso de seu gravador — embora carregado de intenção crítica — foi frequentemente reduzido a um “costume curioso”, mais folclórico do que uma séria denúncia sobre o descaso com os direitos indígenas.
“No Brasil, são mais de trezentas etnias espalhadas por todas as regiões, cada uma com sua identidade, sua voz e suas histórias de resistência”
Juruna, líder do povo Xavante, usava trajes tradicionais como expressão de sua identidade e do seu orgulho cultural, mas a sociedade e os veículos de comunicação viam essas vestimentas como “fantasias”, transformando-o em uma figura “exótica” ou “pitoresca”. Essa abordagem encobria o valor simbólico e político de sua aparência, deixando de lado a verdadeira mensagem que ele trazia. Quando se tornou deputado federal, Juruna provocou uma dissonância na forma como a sociedade enquadrava os povos indígenas, pois, para exercer o cargo, ele teve que obter um registro geral e um CPF, condições antes negadas às diversas etnias do Brasil. Em uma ocasião, ao ser convidado para um congresso internacional, Juruna foi barrado juridicamente, pois, sob a legislação da época, ele não era considerado “gente”.
A folclorização e estereotipação da cultura indígena se repetiu com o cacique Raoni, cuja imagem foi reduzida a símbolos visuais, como o botoque labial e o cocar, sem o devido reconhecimento de sua posição como liderança política em defesa da Amazônia e dos direitos de seu povo. Assim como Juruna, Raoni enfrentou um sistema que via suas vestimentas como uma curiosidade cultural, e não como parte de sua resistência e identidade. Nos anos 1980, Raoni foi catapultado à popularidade internacional pelo cantor de rock Sting, que o acompanhou em uma série de eventos para denunciar a destruição da Amazônia e defender os povos indígenas. Nascido por volta de 1930, Raoni é uma figura de liderança desde jovem, destacando-se por sua luta pelos direitos indígenas e pela preservação da floresta.
Estas duas figuras proeminentes representam a força e a luta de muitos. No Brasil, são mais de trezentas etnias espalhadas por todas as regiões, cada uma com sua identidade, sua voz e suas histórias de resistência. Juruna e Raoni nos lembram que a diversidade indígena é vasta e que suas lutas são as de centenas de povos que buscam o respeito, o reconhecimento e o direito de existir em seus próprios termos.
“A visão de que os povos ancestrais não eram humanos remonta ao século XVI, ao embate entre a Igreja Católica e os colonizadores”
Nas décadas anteriores, a narrativa predominante sustentava que os povos indígenas estavam “à beira da extinção”. Na década de 1960, os irmãos Villas-Bôas ganharam destaque ao coordenar a criação do Parque Nacional do Xingu, que visava proteger as culturas indígenas remanescentes da região. Essas culturas, ao longo da história do Brasil — desde o período colonial até a Monarquia e a República —, eram vistas pelas diversas constituições como “inferiores”. Apenas em 1988 a Constituição Federal passou a reconhecer os povos indígenas como plenamente humanos e portadores de direitos, embora ainda de modo limitado.
A visão de que os povos ancestrais não eram humanos remonta ao século XVI, ao embate entre a Igreja Católica, que condenava a escravização indígena, mas considerava essa população sem cultura alguma, e os colonizadores, que, em conluio com as monarquias europeias, justificavam o escravismo dos povos originários ao argumentar que, por serem canibais, os indígenas não poderiam ser reconhecidos como humanos. Desde então, os antigos povos reagiram a essa prática colonizadora de diferentes maneiras: fugindo para as florestas, resistindo em guerras genocidas, submetendo-se à catequização ou miscigenando-se, o que muitas vezes diluiu suas identidades e raízes.
Essa identidade fragmentada apresenta desafios profundos. A falta de coesão cultural enfraquece o sentido de pertencimento e a transmissão de valores, facilitando o isolamento e a exclusão, além de abrir espaço para conflitos internos e perda de referências culturais essenciais. Sabemos que uma identidade coletiva e cultural se sustenta em valores, símbolos e tradições compartilhados, que conectam os indivíduos a um sentimento de pertencimento e continuidade histórica. Elementos como língua, espiritualidade, arte e costumes criam um reconhecimento mútuo entre os membros, destacando o que os torna únicos. A identidade cultural é, portanto, uma herança e uma criação contínua, que se adapta e se reafirma diante de novos desafios.
Os territórios indígenas invadidos não foram apenas físicos, mas também imateriais. Esses espaços simbólicos e intangíveis, onde valores, memórias e práticas culturais são preservados e transmitidos, vão além de locais geográficos, existindo nos laços emocionais e espirituais entre as pessoas. São territórios invisíveis sobre os quais se erguem cosmovisões, moldando o entendimento que as comunidades têm de si mesmas e do mundo.
Folclorizações e estereótipos são resultado da destituição dessas visões de mundo. Um exemplo disso está na cosmovisão Guarani, profundamente integrada ao homem, à natureza e ao sagrado, que foi desarticulada pela chegada dos jesuítas no século XVI. Em nome da “civilização”, os missionários impuseram uma visão de mundo que desconectou os Guarani de seus territórios espirituais, levando-os a perder práticas e saberes essenciais para sua identidade. A organização social Guarani, que valorizava a liderança dos anciãos e a filosofia do bem-viver, foi substituída por aldeamentos controlados, com um sistema de ensino religioso que reprimia suas tradições. Esse processo, que estudiosos chamam de “etnocídio”, deixou traumas intergeracionais que ainda impactam a vida Guarani hoje.
Os legados de Juruna e Raoni são fonte de inspiração para movimentos indígenas contemporâneos que buscam reafirmar suas identidades e preservar seus territórios, tanto físicos quanto imateriais. As novas gerações de lideranças indígenas se apropriam de ferramentas tecnológicas, como as redes sociais, para registrar e disseminar suas próprias narrativas, como resistência à folclorização e à distorção. Essas vozes indígenas nos trazem uma mensagem clara: a identidade indígena não é um rótulo ou estereótipo; é uma experiência viva, construída e defendida ao longo de séculos de resistência. Figuras como Juruna e Raoni mostram que ser indígena é, acima de tudo, exercer o direito de existir e expressar seu modo de ser.
Quando o ancião Raoni, com seu corpo marcado pelo vermelho do urucum e a pintura do século em seus cabelos esbranquiçados, o rosto sulcado das lutas, o largo botoque nos lábios, é convocado a participar da solenidade da posse de um presidente lado a lado com este, é como se, pela primeira vez, o país reconhecesse a sua ancestralidade mais profunda. Mesmo que inconsciente e simbólico, o gesto vai tocar na revisão das narrativas escravocratas e políticas de dizimação que nasceram no século XVI.
Para toda uma diversidade de culturas ancestrais, quando se vê a imagem do cacique, já ancião, subindo a rampa presidencial — independente de ideologias ou tormentos políticos passados —, isso representa um marco histórico para a cidadania indígena no Brasil. Essa imagem, associada ao recente estabelecimento de um Ministério dos Povos Indígenas, aponta para uma nova etapa no reconhecimento e na valorização de direitos, identidades e outras inclusões. Representa um passo crucial para uma possível reparação histórica de séculos de marginalização, invisibilização e desrespeito.
Ao conceder esse espaço, o Brasil pode começar a cumprir um papel que muitos povos indígenas esperaram por gerações: uma cidadania plena, em que sua cultura e história sejam vistas não apenas como um legado, mas como uma parte fundamental do futuro do país. Juruna e Raoni abriram uma trilha difícil na floresta de aço e concreto.
Ao conhecer essas histórias, você se torna parte de um caminho de re-existência. De uma resistência que não se contenta com estereótipos e exige respeito e reconhecimento pleno. Estar disposto a caminhar nessa trilha com eles, ampliando o espaço para vozes e histórias antes ignoradas, é o desafio da juventude atual, neste paradigma tecnológico digital do século XXI.
O que é mais terrível e dramático é que o mundo vive um momento tão desassociado de si e da natureza, após ter esgotado sistematicamente recursos naturais que lhe garantem a sobrevivência, que as visões de mundo que podem verdadeiramente ajudar na reconciliação com uma vida mais digna e saudável estão intactas como bens preciosos por entre as identidades desses povos.
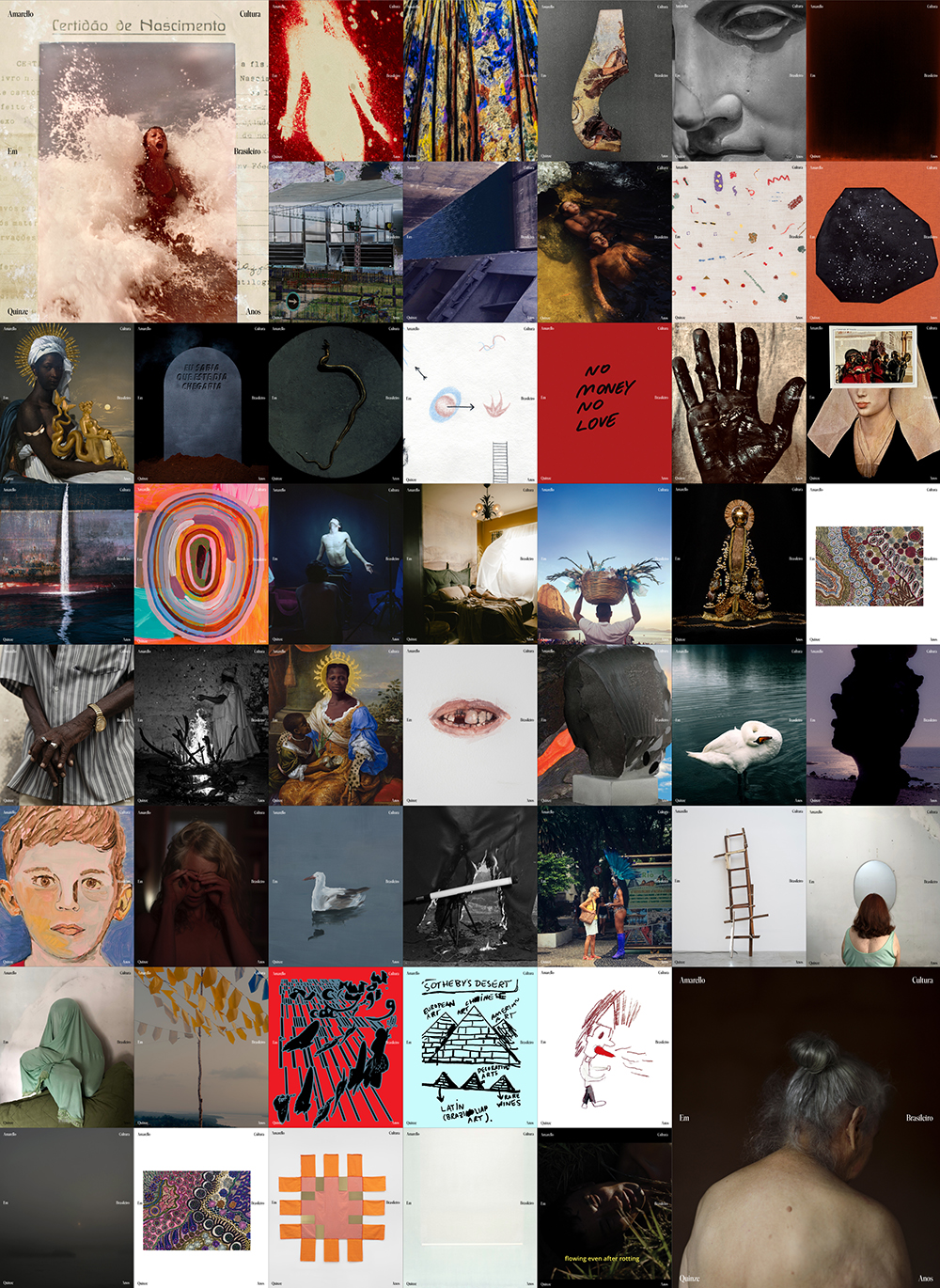
Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista