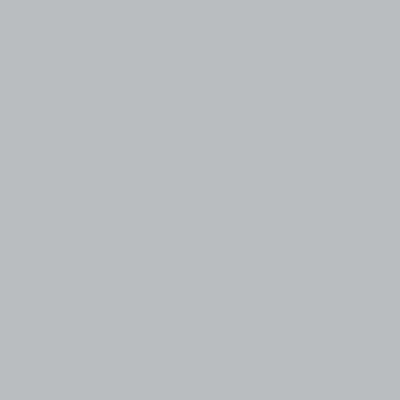Um dos momentos mais significativos da música popular brasileira contemporânea – em si, tão rica – surge em uma voz leve, aguda e penetrante pontuada por um violão tão delicado quanto seguro. A canção tem duas partes: a primeira, mais lenta, em tom de prece; a segunda, um pouco mais rápida, consiste em clusters de palavras, cantados em tom crescente, finalizados, todos, com a palavra que dá nome à composição: “Onilé”. A autora dessa gema telúrica é a cantora, compositora e violonista Nina Oliveira. No vídeo, antes de começar a tocar, a vate explica que Onilé é um orixá (divindade iorubá venerada nos cultos afro-brasileiros) pouco conhecido no Brasil devido ao fato de não incorporar nem dançar nas cerimônias. Segundo o mito, no momento em que o criador Olorum distribuiu os domínios entre os orixás, Onilé estava embaixo da terra – de onde, em sua timidez, jamais saía – e, por isso, a terra como um todo seria o domínio dela.
De fato, tão elusiva é a presença do orixá feminino Onilé que sua existência chega a ser questionada. O mito narrado pela cantora pode ser encontrado impresso no livro Mitologia dos orixás, de Reginaldo Prandi, que, por sua vez, assinala tê-lo recolhido a partir de relato oral do falecido babalorixá Agenor Miranda da Rocha. No entanto, há fontes mais antigas e ocultas da existência desse orixá. Trata-se da sociedade secreta Ogboni, dos iorubás. As instituições e as artes iorubás estão entre os objetos de estudo mais cobiçados de africanistas. A sociedade Ogboni, dada sua extrema importância, constituiria o sonho de muitos estudiosos; no entando, praticamente inexistem trabalhos de peso sobre esse grupo. A razão: o pacto de segredo feito por seus membros, que é seguido à risca. O historiador Stephen Adebanji Akintoye (2010) acredita que essa sociedade tenha surgido logo no início da civilização iorubá, tendo estabelecido lojas em praticamente todos os reinos que a compuseram. Os Ogboni presidem rituais, se envolvem em trabalhos de caridade e regulam instâncias e detentores do poder. De fato, os excessos de autoridade eram punidos por eles, que tinham, além disso, papel decisivo na escolha do rei, já que, nos reinos iorubás, se o princípio da hereditariedade é seguido, o da primogenitura não o é, o próximo rei podendo ser qualquer um dos filhos do rei no poder.
Pode surgir a pergunta sobre onde se fundamentam o poder e a ubiquidade dessa sociedade. É nesse ponto que entra a divindade homenageada por Nina Oliveira. A própria existência de uma divindade da terra chamada “Onilé”, associada aos Ogboni, foi posta em questão por Hans Witte em seu livro Earth and the Ancestors: Ogboni Iconography. Segundo esse autor, teria havido uma confusão entre as palavras iorubás Onilé (dona da casa) e Onilè (dona da terra)1. No entanto, Babatunde Lawal nos diz que ambas existem na mitologia Ogboni (1995). Para entendermos como Onilé pode dispensar tamanha autoridade aos Ogboni, é importante lembrar que, na civilização iorubá, as instâncias de poder são tuteladas por divindades, em geral os orixás (embora haja divindades iorubás que não se encontram nessa categoria), que, em sua maioria, habitavam o mundo superior e, um dia, desceram para a terra para formar uma civilização. Onilé, ao contrário, já estava no mundo anteriormente; era de sua tutela a grande massa de terra que se estendia no fundo do oceano, era dela o núcleo da Terra. A terra habitável foi expandida sobre ela e passou a pertencer a ela também. Onilé presenciou cada fato ocorrendo no mundo civilizado que veio a ser fundado sobre seu leito telúrico. Ela viu o primeiro orixá descendo sobre a superfície aquosa que havia no início para criar o mundo habitável e presencia cada palavra que digito em meu computador.
Sendo a testemunha universal, Onilé torna-se fundamento moral. Um poder tão grande que deve ser manipulado apenas por um enclave de sábios extremamente selecionados. Na verdade, os próprios Ogboni não se aproximam diretamente do poder da terra. Babatunde Lawal atenta para o principal símbolo do grupo – aquele que é entregue a cada membro para significar sua pertença: o Edan Ogboni, um par de estatuetas de bronze ligadas por uma corrente representando um homem e uma mulher. Edan, nos informa Lawal, é também um orixá – aquele que associa os membros da sociedade Ogboni à terra, a Onilé, uma vez que o contato direto com o orixá primordial não é possível.
David Doris, um crítico de arte norte-americano, fez sua tese de doutorado na Nigéria sobre certos objetos de arte iorubá que, se ativados por um babalawo – sacerdote iorubá – podem garantir a segurança de seu possuidor. Para entender o processo de ativação, Doris entrevistou o célebre babalawo Kolawole Ositola. Depois de uma hora chacoalhando em um ônibus para ir de Ile-Ife (a cidade onde, segundo a mitologia iorubá, o mundo surgiu e onde Doris morava na época) até Ibadan (onde morava Ositola), Doris não pôde senão ficar decepcionado ao ouvir o babalawo falar que “hoje vamos para Ife”. “Mas, Babá, foi de lá que eu acabei de vir”, protestou o crítico. Ao que o sacerdote respondeu, rindo: “Não essa Ife. Essa Ife é onde você vive agora, Ile-Ife, é só um lugar. Nós vamos ir à fonte, o berço, o princípio. Isso é Ife.”
Ife, o berço da humanidade, deixou de ser um lugar geograficamente demarcado para se tornar um princípio que se pode acessar em qualquer lugar. Ositola, então, iniciou um ritual em que nozes de cola, folhas de palmeira, água, sal e outros elementos tornavam-se símbolos do pacto que um dia foi estabelecido entre a terra e os seres humanos. O ritual buscava a anuência da terra para que os dois participantes fossem transportados – em espírito – àquele entrecruzamento primordial de tempo e espaço em que tudo veio à existência – inclusive as técnicas que Doris estava estudando e com as quais Ositola o ajudaria. Ositola – ele mesmo membro da sociedade Ogboni – utilizou sua sabedoria e conhecimento para propiciar a terra para que esta permitisse o empreendimento dos dois homens. A terra se tornou, então, “uma área de escala incompreensível e presença absoluta”. Essa extensão espacial projetou uma correspondência temporal em profundidade, cuja base era o que Ositola chamou de Ife, sendo o intervalo que ia desse tempo mítico até o momento em que o babalawo praticava essas ações marcado por incontáveis gerações que praticaram os mesmos rituais e invocaram os mesmos poderes. A ação ritual se torna eficiente devido à capacidade que o sacerdote tem de acessar esse contínuo temporal. A terra, no entanto, longe de ser uma materialidade passiva e inerte, é entendida como inteligência capaz de julgar.
Ainda hoje, é dado a essa tendência – de ver nos elementos e fenômenos cósmicos características humanas – o nome de “animismo”, ou seja, a crença de que tudo está carregado de espíritos ou tem em si um espírito seu. Wole Soyinka – poeta, dramaturgo e crítico nigeriano ganhador do Prêmio Nobel em 1986, um dos mais agudos e profundos pesquisadores da literatura africana, ele mesmo um iorubá – utilizava esse termo para se referir ao pensamento tradicional africano realizado na poesia e o caracterizava não apenas como “a interfusão de objeto, pensamento e espírito”, mas também, comparando com a poesia de metafísicos ingleses como Donne e Marvell, como uma textualidade que cria “uma paisagem espontânea de disparidades” por meio de “concepções cíclicas de morte e renascimento, luz e trevas, crescimento e esterilidade, transiência e eternidade” – uma textualidade tecida pelo “contínuo básico de pensamento e matéria”.
O termo “animismo”, no entanto, é bastante questionado. O filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva o rejeitava como forma de caracterizar a mentalidade mítica, a qual o filósofo descrevia de uma maneira que se coaduna perfeitamente com o que o próprio Soyinka entendia por “animismo”: tal mentalidade conceberia o mundo não “em termos de localização unívoca das coisas, mas dentro de formas simbólicas ou dramáticas”. O poema que Soyinka usa como exemplificação do animismo africano – o clássico “Souffles” (Sopros), de Birago Diop – é bastante eloquente nesse ponto:
Escute mais vezes
às coisas que aos seres.
Ouve-se a voz do fogo,
ouça a voz da água,
escute no vento
o arbusto em suspiros.
É o sopro dos ancestrais…
Os que morreram jamais partiram,
estão na sombra que se aclara
e na sombra que se espessa,
os mortos não estão sob a terra:
estão na árvore que freme,
estão no bosque que geme.
estão na água que coleia,
estão na água que dorme,
estão na caverna,
estão na multidão:
os mortos não estão mortos.
(DIOP, 1971, p. 86-87, tradução minha)
Mais do que a presença dos espíritos individuais dos ancestrais, o mundo vegetal e mineral está carregado de símbolos dinâmicos e processos de regeneração, degeneração, morte, nascimento, que trazem à tona – para os vivos que souberem perceber – a eterna verdade que guiou seus ancestrais ao longo de sua viagem entre os mundos dos vivos e dos mortos. A própria obra de Soyinka está carregada dessa noção. Um dos exemplos é o longo poema místico “Idanre” – parte principal de seu primeiro volume de poemas Idanre and Other Poems. Compondo poeticamente o mito do orixá Ogum – aquele que extraiu da própria terra o conhecimento do metal e o ofereceu aos humanos – Soyinka nos dá a conhecer uma terra rica em minérios, que se alimenta da matéria orgânica de cadáveres dos que morrem na estrada, que sacia sua sede com a água da chuva e, em tempo certo, responde com o brotamento de grãos. Em um determinado momento, lemos o pentâmetro iâmbico “The hems of hidden voices brush all feet” (“As bainhas de vozes ocultas escoavam todos os pés” – tradução minha), verso que é ecoado na peça teatral Death and the King’s Horseman (A Morte e o Cavaleiro do Rei): “Strange voices guide my feet” (“Vozes estranhas guiam meus pés” – tradução minha). No espelhamento que o pensamento iorubá faz entre espírito e corpo, os pés (e mais especificamente os dedões dos pés) são a sede da ancestralidade (assim como a cabeça é a sede da individualidade) – pé direito, ancestralidade paterna; pé esquerdo, ancestralidade materna. São a parte que sustenta o indivíduo e que está em contato com a terra. Se em espírito os ancestrais estão por toda a parte, a terra contém seus corpos, que já se misturaram com ela; a terra é, então, um repositório de vozes ancestrais que falam não ao ouvido, mas aos pés de cada um.
Retornando à peça de Soyinka, vemos outro exemplo desse pensamento analógico na cena em que o personagem principal – na noite em que deve morrer em um ritual – decide se casar com uma garota jovem para, em seu último momento no mundo dos vivos, deixar uma semente na terra de sua escolha para que ela se desenvolva em um fruto:
A seiva da bananeira nunca seca.
Vemos inchar o jovem broto
Quando já o talo-pai fenece.
Mulheres, que minha partida se assemelhe
Ao crepúsculo da bananeira.
(tradução minha)
A morte de uma bananeira ocorre na mesma medida que uma nova cresce em seu lugar – aqui ela se torna uma metáfora para o desejo de deixar uma prole. Essa mesma função simbólica da bananeira surge em um poema oracular do Ifá – livro sagrado iorubá cujos textos servem como orientações práticas para os consulentes dos oráculos. Nesse poema, coletado por William Bascom no livro Ifa Divination, a figura de uma mulher que busca o oráculo porque queria ter filhos se entrelaça à figura da bananeira. A obediência ao que foi orientado pelo oráculo a torna fértil.
“A pedra pune o solo ao golpeá-lo e, então, ao arrastar a presa por sobre ele, levantando poeira” – eis o início do poema acima citado, o qual lembra os versos de Soyinka, do poema “Dedication”: “(…) not the gecko’s slight skin but its fall / Taste this soil for death and plumb her deep for life” (“(…) não a sutil pele do geco, mas sua queda / Prove este solo para a morte e prume-o fundo para a vida” – tradução minha). A simples queda ou o arrastar de um objeto sobre o solo tem um significado metafísico e, por isso, torna-se um grão de poesia. Chinua Achebe falou, sobre a cosmologia de seu povo, que “o mundo igbo é uma arena para a interação de forças” . Tal percepção do mundo, com todas as complexidades que implica, se apresenta em porção significativa da moderna literatura africana, e talvez seja um entendimento particularmente frutífero que pode-se aduzir de sua leitura.
Adriano Moraes Migliavacca é tradutor e doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.