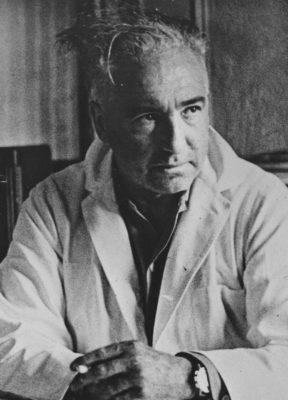Cientista do grave
Não morrer numa máquina
O DJ K é um dos DJs residentes do Baile do Helipa e produtor de mandelão, o estilo de funk voltado para os fluxos das quebradas de São Paulo. Numa segunda-feira de março de 2022, fui à casa dele, em São Bernardo do Campo, com o DJ e produtor musical JLZ, criado na periferia de Brasília, que assinou trabalhos de Baco Exu do Blues e que, em sua carreira solo, explora conexões entre funk e outros sons eletrônicos da diáspora negra.
Os dois se conheceram naquela tarde, e ali mesmo, no quartinho do DJ K, fizeram uma nova música: Illuminati — viagem ao oculto. Entre uns beats e outros, nós três entramos numa conversa sobre uma sensação de esgotamento que compartilhávamos ao ver que os debates sobre o funk giravam quase de forma unânime em torno de temas como criminalização e preconceito sofrido por essa música e sua comunidade. Argumentei algo neste sentido: o fato de que o discurso sobre a opressão sofrida pelo funk e pelos funkeiros (algo não muito distante de obviedades como “racismo é ruim” e “mulheres são pessoas que devem ser respeitadas”) circule muito mais do que as discussões sobre os processos artísticos do funk revela como o estatuto da arte ainda é dominado — e bem cercado — pela elite branca deste país.
“o fato de que o discurso sobre a opressão sofrida pelo funk e pelos funkeiros circule muito mais do que as discussões sobre os processos artísticos do funk revela como o estatuto da arte ainda é dominado — e bem cercado — pela elite branca deste país.”
“Parece que é muito difícil admitir que o som é foda”, respondeu JLZ. “É um vitimismo, né? Parece que os caras querem colocar a gente sempre no papel de vítima”, completou DJ K. A despeito de todas as violências, opressões e desigualdades, por todo Brasil, em pequenos estúdios caseiros como aquele, artistas da quebrada estão continuamente renovando a música, produzindo saltos de inventividade que levam a música eletrônica brasileira a rumos inesperados. A imaginação radical das quebradas parece dizer: não deixaremos que a densidade da História e os estigmas sociais determinem meu destino — antes de tudo, existimos aqui e agora. Eu não tenho dom pra vítima.
Por não se orientar nos eixos de significados preexistentes e nem mesmo à forma musical convencional, a imponência da matéria-som do funk rompe e resiste a certas categorizações predefinidas de identidade e interpretação, fazendo energizar o movimento, o drible, a indeterminação, o mistério irrastreável.
O racismo e a opressão são forças constituintes, mas será que existe alguma maneira de interromper a força totalizante e primária do ciclo negro drama? Poder político, nos lembra Amiri Baraka, é não só o poder de criar — não apenas o que será de fato produzido –, mas a liberdade de ir onde quiser ir (mental e fisicamente). Criação preta.
A liberdade do homem do Ocidente, que foi conquistada cientificamente às custas dos condenados da terra, o permitiu moldar o mundo e seus poderosos artefatos-motores. Máquinas e toda a tecnologia do Ocidente são apenas isto: tecnologia do Ocidente. Por outro lado, quem as produz? Quem produz a riqueza das big techs do Vale do Silício? Quem sofre com os algoritmos, a automação e a inteligência artificial?
Apple, HP, Dell são os responsáveis pelo suicídio em massa de operários chineses que fabricam seus componentes. Nas electronic sweatshops, montes de gentes trabalham em condições não humanas, inumanas. Afinal, é isto mesmo que são: mercadorias. Contraditoriamente são esses condenados da terra, indivíduos de não valor, as mercadorias, enfim, que produzem a riqueza das big techs e do capitalismo digital.
Mas o objeto resiste. Esta é a história dos gritos da mercadoria.
Esta é a história de como o aparente não valor atua como criador de valor: desde quando os toca-discos foram transformados de meros reprodutores de som em instrumentos expressivos para uma nova cosmologia afrosônica do rap, até este momento, em que crackeamos programas de beats e aprendemos a operá-lo em tutoriais no Youtube. Também no passado profundo, ou antes disso, e num horizonte ao futuro.
Não morrer numa máquina. Resistir numa máquina.
Onde o erro vira assinatura, onde o grito vira fala, vira música. Longe do conforto impossível da origem unívoca, reside o rastro da nossa linhagem impossível. Embrenhar-se nas margens de indeterminação das tecnologias e subvertê-las a partir de seu olhar, de sua escuta, das propriedades dinâmicas de nossa vida. Reapropriação, improvisação, remixagem conceitual, gambiarra, pirataria e fodasiiiii.
Ritmada de cria
Após anos trabalhando no mercado de ações, os programadores belgas Jean-Marie Cannie e Frank Van Biesen sentiam-se entediados com a monotonia de seus empregos e buscavam um trabalho mais divertido e desafiador. Foi então que, em 1992, eles fundaram a Image-Line Studios, uma empresa focada no setor de “games adultos”, com jogos como Porntris — sim, uma versão pornô de Tetris.
Na mesma época, um jovem franco-belga chamado Didier “Gol” Dambrin, de apenas 19 anos, chamou atenção da dupla ao vencer o concurso Da Vinci, uma competição realizada pela gigante empresa de tecnologia IBM a fim de encontrar os grandes programadores das próximas gerações. A recém-criada companhia contratou o prodígio em 1994. Embora tenha sido recrutado para criar games pornôs, foi no setor musical que Dambrin e a Image-Line obtiveram inesperado sucesso e revolucionaram a forma de se fazer música.
Em 1998, a Image-Line lançou o Fruit Loops, um programa gratuito de produção musical com design intuitivo que se tornou uma das mais populares estações de áudio digital — ou digital audio workstations, DAWS na sigla em inglês. Em outras palavras, são programas que oferecem um catálogo de instrumentos virtuais e permitem produzir, gravar, mixar e editar áudio. Tudo para você fazer uma música só com um computador.
Desde então, o FL Studio (como o Fruit Loops foi rebatizado em 2003, depois de uma disputa legal com a marca de cereal homônima) se espalhou pelo mundo. De acordo com dados fornecidos pela empresa, atualmente, o programa tem cerca de dez milhões de downloads anuais. Qual é o motivo desse sucesso? “Eu não tenho nenhum background musical e acho que isso é o principal motivo para o FL Studio ter deslanchado, porque não foi projetado para músicos”, argumentou Dambrin em uma rara entrevista concedida ao site Genius.
Ao municiar um fazer musical digital que não está ancorado no conhecimento de partituras ou no ensino formal de música, o FL Studio — bem como outros softwares similares — pavimentou outras lógicas de criação sonora. Experimentando os sons em tempo real, formando loops por tentativa e erro, o FL Studio e seus usuários criaram uma abordagem de montagem, mais do que de composição propriamente. “É como fazer música no Excel”, brincou o beatmaker mineiro Vhoor, que assina produções para o rapper FBC.
Em vez de melodia, harmonia e ritmo, os produtores desenvolvem saberes musicais com base em parâmetros próprios: as frequências sonoras (o peso e a pressão de um grave), os mecanismos de reprodução (onde essa música será executada? Num paredão de som de um baile? Num celular? Num som automotivo?) e a percepção corporal do som (aceleração das batidas para estimular determinadas formas de dança). “A minha música é um loop, mas é um loop que não cansa. É a coisa mais difícil de fazer. Eu não componho música, não estudei. E se me disserem que a música está em tal tom — no Dó, Ré ou Mi —, eu não faço ideia. Minha música é só fazer e, se está dançante, está bom”, declarou o DJ Marfox, representante da cena de kuduro das periferias de Lisboa, o batida.
Nas periferias negras do mundo, os dispositivos e softwares são criativamente transformados e ressignificados, com suas possibilidades sendo expandidas e dando corpo a expressões musicais singulares e contra-hegemônicas.
O DJ carioca Polyvox ouvia seu filho batendo na porta do estúdio com uma garrafa de Coca-Cola. Então ele gravou e sampleou na base do beat conhecido como tambor Coca-Cola, um dos primeiros da vertente do funk 150 BPM do Rio de Janeiro. Usando e, ao mesmo tempo, adaptando as possibilidades de sua DAW, o DJ da favela Nova Holanda inventou um método artístico próprio: incorporou o ruído da garrafa pet (considerado “não musical” pela musicologia ocidental). O resultado? O desenvolvimento de uma nova forma do funk, com uma nova dinâmica sonora, que renovou a cena do Rio. Na mesma linha, o produtor recifense JS, o Mão de Ouro, utilizou o som da panela de sua avó para criar as batidas metálicas que constituíram a sua assinatura sonora e caracterizam o movimento bregafunk com hits como Tudo ok e Hit contagiante.
Novos vocabulários, modos de fazer com novos parâmetros e estruturas conceituais. Toda uma nova escrita do som — e um conhecimento profundo de como ele reverbera no corpo.
Sangra tímpano
No atual funk bruxaria de São Paulo (um dos subgêneros do mandelão), predomina um som agressivo, distorcido e ruidoso que contraria as expectativas de uma “música dançante” e, sobretudo, as normas técnicas de uma boa produção, abraçando o “erro” como recurso expressivo. Em faixas como Tuin destrói noia, do DJ K, uma frequência aguda contínua perfura nossos ouvidos. O que para muitos é visto como um som incômodo e doloroso, nos bailes de rua complementa a alucinação auditiva provocada pelo uso de lança-perfume ou loló. Assim, os DJs constroem um vocabulário musical singular, que se nutre da ritualidade do baile para dar vazão a um som específico, não encontrado em nenhum outro lugar do mundo. Não por acaso, essa vertente também circula no YouTube com os nomes de “sangra tímpano” e “destrói fone“ — a escuta implica ir além do ouvido e ativar uma experiência que mobiliza o corpo inteiro.
A muitos quilômetros dali, na comunidade rural Sanankoroba, no Mali, o DJ Diaki (expoente do gênero balani show) reinterpreta os softwares de discotecagem para desconstruir os padrões rítmicos da música eletrônica ocidental.
As batidas repetitivas — o famigerado “bate-estaca” — é um dos elementos definidores da música eletrônica de pista. Foi esse mesmo ritmo fixo que caracterizou as raves quando estas passaram a ser alvo do governo britânico, que em 1994 conferiu à polícia “poderes para remover pessoas participando ou se preparando para participar de uma festa rave” na qual se execute “música total ou predominantemente caracterizada pela emissão de uma sucessão de batidas repetitivas”.
Na contramão desse padrão histórico e do compasso 4×4, Diaki opera uma transfiguração que subverte o DNA rítmico da eletrônica a partir de uma sensibilidade polirrítmica africana. Batucando uma bateria eletrônica, ele dispara uma ampla variedade de samples que correm soltos e aglomeram-se em uma massa tórrida e frenética de sons sintéticos e implacáveis, como podemos ouvir no álbum Balani Fou, de 2020.
“Pode parecer um ataque de pânico para ouvidos desacostumados”, avisou o jornal The Guardian ao comentar o disco. Mas o que para os ingleses soa como ataque de pânico, para os malineses de Sanankoroba é música de festa que faz centenas de pessoas dançarem despudoradamente na rua, rebolando no chão.
Na quebra
O desencaixe na percepção da música de Diaki entre europeus e malineses é o sinal de uma disputa de sensibilidade política no som. Isso porque Diaki opera na interface entre som, tecnologia, corpo e movimento, investindo no nascimento de uma nova ciência. Uma “torção semântica” dos dispositivos, criando usos imprevistos para eles.
Em vez de usuários ou consumidores passivos, essa negritude periférica toma para si o papel de inventora. Cientistas do grave, dando outros propósitos para as tecnologias. Nesse processo, elaboram os próprios métodos e procedimentos para dançar nas curvas de um som nunca antes pensado. Uma música que, em suas limitações materiais, reimagina as ferramentas digitais para instaurar novas possibilidades para a arte e para a vida. Uma fantasia filogenética que desloca a gênese e os mitos de origem de uma identidade predeterminada. Em vez disso, convida-nos a seguir os mistérios do som, para além das demarcações. Na quebra.

Gostou do artigo? Compre a revista impressa
Comprar revistaAssine: IMPRESSO + DIGITAL
São 04 edições impressas por ano, além de ter acesso exclusivo ao conteúdo digital do nosso site.
Assine a revista