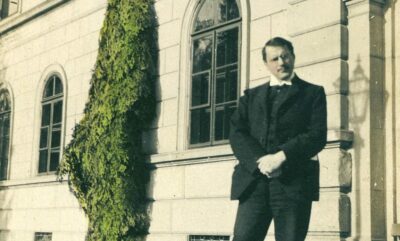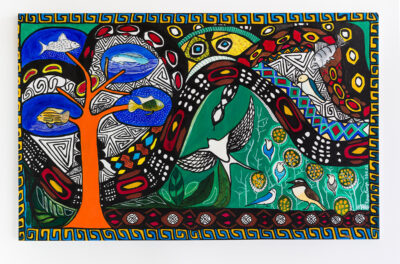O livro O Capital Está Morto, da australiana McKenzie Wark, faz mais do que esmiuçar o estado atual do capitalismo: com lucidez categórica, a obra escancara uma transformação radical que altera a própria essência da ordem econômica. Para Wark, o que chamamos de capitalismo na verdade já se desfez em pedaços para se tornar algo mais invasivo e controlador do que imaginamos — por incrível que pareça, isso é sim possível. Nesse novo sistema-titereiro, a informação tornou-se o principal recurso estratégico e a elite dominante opera sob um novo conceito de classe, chamada pela autora de “vetorialista”.
A classe vetorialista, ao contrário do que nos vem à mente quando pensamos em grupos que prevalecem sobre outros, não detém seu poder com base na posse dos meios tradicionais de produção, mas o faz a partir do controle dos vetores de informação. Isto é, todas as redes e sistemas que dão forma e sentido aos dados que governam a sociedade e influenciam o comportamento humano. Esse controle da informação define novas formas de exploração e desigualdade, tornando-se central para o funcionamento da economia global.
O entendimento tradicional da informação como algo abstrato, leve e quase etéreo é posto em cheque por Wark. A informação, como ela observa, depende de suportes materiais, infraestrutura de redes de dados, servidores, dispositivos e energia que sustentam o fluxo incessante de dados na sociedade contemporânea. Esse novo recurso, então, representaria uma reconfiguração das forças produtivas, na qual os vetores de informação e suas complexas camadas de circulação tornam-se um campo de poder que redefine as relações econômicas e sociais. Wark sugere que a informação, capturada e mercantilizada, transforma-se inevitavelmente em uma ferramenta de dominação, estendendo o controle até os aspectos mais cotidianos da vida, desde as redes sociais até os assistentes digitais que respondem aos nossos comandos de voz e monitoram rotinas pessoais.
Empresas como Google, Amazon, Facebook e Apple exemplificam essa nova ordem em que o valor está no controle dos dados e na capacidade de influenciar/prever os comportamentos humanos. O verdadeiro poder da classe vetorialista reside na “assimetria da informação”, o que quer dizer que, enquanto o público tem acesso a uma pequena fração dos dados, as corporações retêm e acumulam vastos conjuntos de informações, mantendo uma vantagem constante na criação de valor e intensificando o poder sobre a sociedade.
Como um dos resultados desse caos, Wark destaca o surgimento de uma classe subordinada, chamada por ela de “hackers”, composta por todos aqueles que produzem novas formas de informação. Esses trabalhadores criativos (programadores, artistas, escritores, acadêmicos) geram conteúdo e inovação, mas veem suas criações apropriadas — pra não dizer surrupiadas — pela classe vetorialista, que detém o controle e os direitos sobre a circulação dos produtos informacionais. A relação de exploração se intensifica, pois o valor é extraído do trabalho físico, intelectual e de todas as formas de criação que se transformam em mercadoria nas plataformas vetorialistas. Cada pedaço de informação gerada pelos hackers é apropriada e monetizada, gerando mais valor para as plataformas e deixando seus próprios criadores ao deus-dará.
Não bastasse o controle econômico e social, Wark aponta para uma camada biopolítica mais profunda. O domínio vetorialista — e isso percebemos de maneira mais clara a cada dia que passa — alonga suas unhas até chegar à esfera do corpo humano, com tecnologias que monitoram o organismo e transformam aspectos físicos em dados. Relógios inteligentes e outros gadgets capturam informações sobre nossa saúde, sono, movimento e comportamento, criando um ciclo em que cada aspecto da vida se torna um insumo para o capital vetorialista. Quando os dados capturados continuamente ajustam o comportamento humano às demandas de um sistema que faz da vida cotidiana uma matéria-prima de valor, um preocupante sistema de retroalimentação é fomentado.
Fica impossível não se questionar: onde isso vai parar, hein?
Os insights de Wark questionam as noções tradicionais de classe, valor e trabalho, já que, na era do vetorialismo, o valor econômico não se limita ao trabalho direto, ele provém da capacidade de capturar, organizar e transformar dados em capital. O controle da informação vira um meio de controle social abrangente e os vetores que movimentam os dados são os mesmos que moldam as formas de socialização e as próprias escolhas individuais. Essa transformação exige uma nova compreensão da exploração, que incorpore a captura de dados e a constante vigilância de aspectos da vida pessoal.
A resistência à ordem vetorialista demanda novas formas de organização e consciência, pois as lutas tradicionais contra a exploração capitalista não respondem aos desafios do sistema atual. É preciso desenvolver meios de coletivizar o conhecimento e desafiar o monopólio da informação.
A informação, afinal, não deve ser vista apenas como uma ferramenta, mas como uma força de produção com poder de moldar a vida social e política. É por essas e outras que a voz de alguém como McKenzie Wark precisa ecoar, sendo ao mesmo tempo um alerta e uma inspiração para resistir.
Confira nossa conversa com a autora:
Considerando a sua proposta de que o capitalismo foi substituído por uma nova ordem, como você enxerga o papel de uma obra como O Capital Está Morto? Qual a relação da classe vetoralista com os livros?
McKenzie Wark: O capitalismo foi apenas substituído como o modo dominante de produção. Sempre há múltiplos modos de produção que se sobrepõem e se entrelaçam. Livros já foram produtos da indústria cultural, vendidos como mercadorias, e, muitas vezes, seu conteúdo era moldado pela própria forma de mercadoria. Isso ainda ocorre em parte. Mas o “livro” agora também se tornou algo que a nova indústria de “conteúdo” entrega mais como um serviço, na forma de texto digital. O que é único sobre o texto é que ele se tornou uma relação dinâmica, de mão dupla. Ao ler um texto em uma interface, a interface também lê você, extraindo dados sobre seus hábitos e desejos. Esse regime do texto é extrativo de um jeito que o mundo dos livros não era. Com todas as suas falhas—ainda prefiro escrever, e ler, livros.
Na sua visão, o que tem sido mais difícil para a sociedade contemporânea entender sobre essa nova estrutura de poder baseada em dados e informações?
MW: Isso sempre nos é vendido como uma atualização daquilo que já conhecemos. Chegou até nós com a aparência dos meios de comunicação familiares e ainda usamos os termos antigos para isso — filme, livro, televisão e por aí vai. Assim, o lado mais sutil da mudança no modo dominante de produção passa despercebido.
Em uma sociedade que recompensa cada vez mais a velocidade, a produtividade e a exploração de dados, qual é o papel do silêncio, da pausa e da reflexão na construção de uma alternativa a esse sistema?
MW: Não acho que seja tão simples quanto lentidão versus velocidade, silêncio versus cacofonia. De certa forma, a infraestrutura técnica sobre a qual toda a economia agora repousa também é, em certo sentido, lenta. É incrivelmente difícil modificá-la para qualquer direção que não seja sua destruição constante do planeta. Acho que se trata mais das táticas de velocidade, de ter acesso a diferentes velocidades e intensidades.
O processo de coletivização do conhecimento parece fundamental para desafiar a classe vetorialista, mas há muitos desafios práticos para isso. Quais seriam as primeiras etapas para criar uma resistência informacional em direção à autonomia?
MW: Como todas as formas de trabalho e produção de conhecimento podem colaborar na tarefa comum de conhecer o mundo e criar uma relação com ele, dentro dele, que seja sustentável e mantenha esse sustento? Isso é incrivelmente difícil. Nos oferecem apenas formas de coordenação pelo mercado ou autoritárias. Então, trata-se de experimentar formas de trabalho e conhecimento baseadas na camaradagem. Isso pode ocorrer dentro das instituições existentes, enquanto elas durarem, ou fora delas.
Ao explorar o controle sobre o corpo e a mente através dos dados, surgem questões éticas profundas. Como você vê o papel da ética na ciência e na tecnologia hoje, e o que deveria mudar para que a informação sirva à sociedade em vez de controlá-la?
MW: “Ética” é a disciplina que encontra justificativas para as relações existentes de dominação e exploração. Precisamos de uma política da tecnologia e, curiosamente, de uma estética, uma arte experimental dela. Temos muito pouca autonomia em relação à grande infraestrutura da economia vetorial, então é uma questão de começar pequeno, criando ilhas de consciência e autonomia.
Em vários momentos, o livro parece um experimento de linguagem e pensamento. Você vê essa subversão no que escreveu?
MW: O mais difícil é escrever de uma maneira que seja contemporânea. Há uma influência de ideias recebidas, de uma linguagem convencional, incluindo a linguagem conceitual. Ou, ainda, há a tendência de exagerar na novidade, perder de vista a inovação incremental. Para mim, isso significa trabalhar sempre para pressionar a linguagem, para desnaturalizá-la.
Escrever sobre a perda de autonomia e o aumento do controle pode ser um processo que traz inquietação. Foi doloroso ou desconfortável para você escrever sobre a ascensão dessa classe vetorialista?
MW: Quando escrevi Um Manifesto Hacker (2004), eu estava em um momento otimista, o que é menos evidente em O Capital Está Morto (2019). Ganhamos algumas batalhas, mas perdemos a guerra, por assim dizer. As atuais relações sociotécnicas são o resultado de uma série de lutas, não por causa de alguma “essência” da tecnologia. Está ruim porque perdemos. Não estou aqui para vender otimismo. Mas, pelo menos quando as coisas estão ruins, há menos oportunistas. A luta agora é defensiva.
Sua escrita carrega um tom de urgência e um senso de alerta. Qual é o papel da linguagem e do estilo na transmissão dessa mensagem, e como você encontrou o tom ideal para falar sobre essas mudanças de forma acessível e envolvente?
MW: Sou uma escritora. Para mim, os livros são obras de arte tanto quanto qualquer outra coisa. Escrevi todos eles da melhor forma que pude. Leva muitas versões e muitos recomeços. Mas não é apenas por minha conta. Aprendo com outras pessoas, com outros escritores, tanto do passado quanto do presente. E também conversando com pessoas que fazem coisas e sabem de assuntos fora do meu campo de referência. Estou tentando apresentar a escrita como uma espécie de trans-texto, rompendo as divisões de trabalho, de gênero, de disposições estabelecidas, como um estímulo a um tipo de trabalho coletivo e alegre de fazer a vida juntos de uma maneira diferente.
O que você diria para alguém que, ao ler seu livro, se sente profundamente desanimado com a situação? Você vislumbra algum espaço para otimismo ou imagina que precisamos de uma perspectiva mais crítica e desconstrutiva para mudar o sistema?
MW: É uma pergunta muito abstrata… Todos os nossos humores variam de dia para dia, ou até de minuto a minuto! Quem sabe o que vai acontecer no futuro? Que parte das nossas vidas hoje podemos construir juntos agora? Essa é a pergunta.