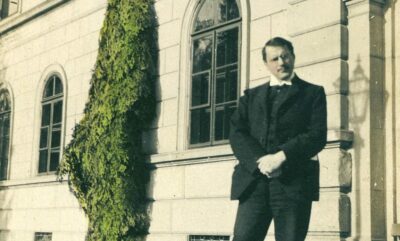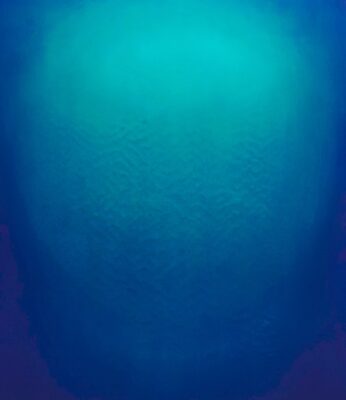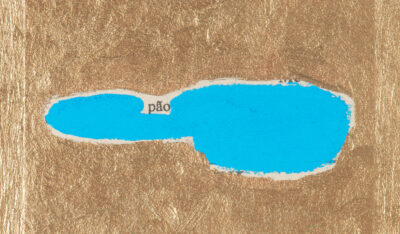A família como argumento transecular no teatro ocidental
A família enquanto dispositivo temático e signo estrutural de uma trama está presente na história do teatro ocidental, de acordo com a literatura especializada, ao menos desde a Grécia Antiga. Dos chamados mestres clássicos — Ésquilo, Sófocles, Eurípedes, Aristófanes, dentre outros — ao giro da dramaturgia shakespeariana, passando também por nomes como Molière, Ibsen, Strindberg, Tchekhov e os realistas russos, Brecht e as críticas substanciais à esfera pequeno-burguesa, enredos que apresentam narrativas concernentes a relações entre pais e filhos, irmãos que pelejam por heranças ou que postulam vinganças, romances proibidos ou a descoberta de segredos e infidelidades são uma constante na tessitura do que convencionou-se intitular teatro universal. Assim, ao mesmo tempo em que desempenha consolidado valor estético e poético, a pauta familiar como argumento teatral também é portadora de expressiva marca documental, uma vez que o que se narra em um programa dramatúrgico, ainda que absolutamente ficcional, evidencia elementos políticos e sociais típicos de uma época — o que engendra não apenas um produto artístico destinado à fruição, mas também um fecundo retrato dotado de historicidade e análise.

No Brasil, múltiplos são os exemplos de peças teatrais cuja trama esteve pautada na mecânica subjetiva e nos processos de interação de um núcleo familiar. Dos casos mais emblemáticos — tanto por sua importância para a engenharia teatral, como porque operam como testemunhos históricos de seu tempo —, é possível mencionar O juiz de paz na roça (1838), de Martins Pena; O defeito de família (1870), de França Júnior; Moral quotidiana (1922), de Mário de Andrade; Nossa vida em família (1972), de Oduvaldo Vianna Filho; De braços abertos (1984) e Querida mamãe (1994), de Maria Adelaide Amaral; e, mais recentemente, Luís Antônio-Gabriela (2011), de Nelson Baskerville, e a Trilogia das pessoas (2014, 2016 e 2017), de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Tais obras, apesar de sua heterogeneidade estética e de época, expõem, criticam e denunciam um sem fim de querelas, violências e/ou perversões intrafamiliares, compondo um contínuo de produções textuais que, decerto, possui em seu cume epistêmico a obra Álbum de família”, escrita por Nelson Rodrigues em 1945.
Álbum de família: uma autópsia teatral da parentela
Álbum de família inaugura uma sorte de linguagem teatral a que o próprio Nelson Rodrigues definira como “teatro desagradável” — de que fazem parte, também, as suas peças Anjo negro (1946) e Senhora dos afogados (1947) —, assim classificadas pelo autor em entrevista à Revista Dyonisios, em 1949, por serem obras “pestilentas, fétidas, capazes por si só de produzir o tifo e a malária na plateia”. Tendo saído à luz cerca de dois anos após a consagração de Nelson por Vestido de noiva (1943), Álbum de família foi retida pela censura do governo de Eurico Gaspar Dutra, tendo permanecido embargada até o ano de 1967 — quando, finalmente, pôde ser encenada no Teatro Jovem do Rio de Janeiro. Dentre as principais razões para a proibição da montagem, destaca-se a multiplicidade de incestos, atos obscenos e cenas familiares asquerosas que compõem o enredo da peça — atributos que constituíam, para as entidades de controle do período, justificativa mais do que plausível para salvaguardar o espectador da influência de comportamentos considerados depravados e indecorosos pelos censores.
Com uma dramaturgia proposta em planos — característica já presente em Vestido de noiva, que veio a tornar-se um dos principais símbolos da identidade estética do teatro rodrigueano —, a narrativa de Álbum de família alterna-se entre cenas compostas por registros fotográficos de um livro familiar, que são comentadas por um speaker que desempenha uma espécie de voz ou opinião pública, e cenas que retratam o cotidiano dessa mesma família, que difere por completo da conduta de aparente harmonia e retidão posada para as fotografias. Daí, então, a audiência se depara com personagens como Jonas, o patriarca, que se envolve sexualmente com meninas menores de idade arranjadas por sua cunhada Rute, que nutre por ele uma enferma devoção; D. Senhorinha, esposa de Jonas, que teve um caso com o filho caçula do casal, Nonô — o que teria condicionado o enlouquecimento do rapaz; Guilherme, o filho mais velho, que frequenta um seminário, mas é apaixonado por sua irmã Glória — que, por sua vez, tem desejos eróticos pelo pai, ao mesmo tempo que mantém uma relação com Teresa, sua colega de convento; e Edmundo, que mora no exterior com sua esposa, a quem abandona por almejar viver um romance com D. Senhorinha, sua mãe.
Desta barafunda de disparadores incestuosos, o raconto de Álbum de família constitui-se de traições, assassinatos, suicídios, estupros, dentre outras ocorrências repulsivas que, como recurso de provocação ao paradoxo, são constantemente intercaladas com a dissimulação imagética proposta pela fotografia — uma vez que a disposição inerte dos corpos ajeitados para o retrato promove uma suspensão temporária da brutalidade e da hediondez, escamoteando uma nefasta ciranda doméstica ao mesmo tempo em que forja um panorama dissimulado de respeito, paz e concórdia. Com isso, Rodrigues destapa alguns dos tantos crimes e as agruras que, lamentavelmente, permeiam as mais diversas configurações da instituição familiar: para o dramaturgo, o âmbito privado — em que se verifica a imensa maioria das dinâmicas de parentela — pode ocultar tantas atrocidades quanto as que transcorrem na sociedade “da porta para fora” de lares e moradas.
A desagradável contemporaneidade
Em Álbum de família, Nelson Rodrigues não apenas contesta a rotunda inadequação da organização familiar enquanto arcabouço social, como também alerta para o fato de que, como uma grande e incontestável escusa, muitos são os infortúnios e as monstruosidades obliterados em nome da preservação e da perpetuação da família como redoma nuclear inabalável, intransponível e incorruptível. Para Nelson, era urgente levar aos palcos esse recado de espanto, com o intuito de chacoalhar, moralmente, o público — que seguramente possuiria em sua rede de parentesco ou se identificaria com figuras tais como Jonas, D. Senhorinha, Rute, Glória, Nonô, Guilherme e Edmundo. Possivelmente por isso, então, é que a peça tenha permanecido vinte e um anos interceptada pela censura, “encarcerada, enjaulada como uma cachorra hidrófoba”, de acordo com Rodrigues em depoimento ao periódico O Jornal, em 1967: porque questionava e promulgava a erradicação de valores, normas e comportamentos que, apesar de execráveis e gravíssimos, asseguravam a manutenção de uma ordem conveniente para o domínio exercido pelos órgãos de poder daquele de então.
Quase oitenta anos após seu advento, a peça de Nelson Rodrigues ainda impressiona e escandaliza por sua absoluta atualidade. Sobretudo porque, se bem a implantação de certas medidas e procedimentos legislativos matiza e difere esta contemporaneidade da do texto rodrigueano — cito, por exemplo, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990; a sanção da Lei Maria da Penha, em 2006; ou o reconhecimento da união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar pelo STF a partir de 2011 —, também é verdade que o Brasil em que o dramaturgo se baseou para compor a peça de 1945 ainda perdura incólume, e inegavelmente fortalecido, nos mais profusos rincões de nossa geografia. Afinal, apesar da conquista de mudanças, tais como as citadas — inquestionavelmente, vale dizê-lo, por meio da luta de grupos progressistas —, são ainda aterradoras as estatísticas de abuso infantil, considerando-se que cerca de 70% dos casos registrados anualmente ocorrem na residência da vítima e são praticados por familiares; de estupros maritais e feminicídios; de entraves e preconceitos para a adoção homoparental; dentre tantos outros calamitosos acontecimentos que aproximam o tempo histórico de Nelson Rodrigues da perturbadora atualidade em que se vive.
Tanto por sua magistralidade dramatúrgica como por sua essencialidade temática, Álbum de família continua a ser uma peça irrestrita e desagradavelmente contemporânea. Trata-se de uma obra trágica, contundente, por meio da qual dotou-se o teatro brasileiro de um texto amolado para desvelar o abjeto, escancarar o abominoso e firmar-se enquanto mensagem constrangedora, urgente e fundamental. Porque é mesmo bem verdade, como escreveu Friedrich Nietzsche, que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Em se tratando desta peça de Nelson Rodrigues, tem-se não apenas um excelente material teatral, como também um excepcional produto político — cujo incômodo e repugnância causados, de sua irrupção em 1945 ao ano em que se escreve este ensaio, confirmam a irrefutável falência dos modos convencionais de projeção, constituição e operação do arranjo institucional familiar.