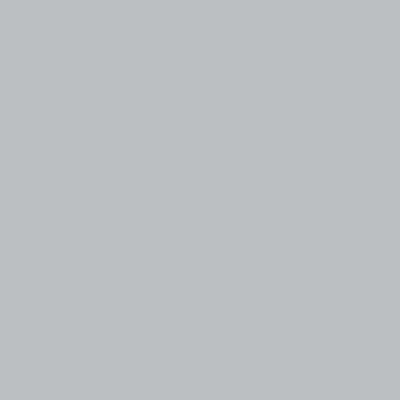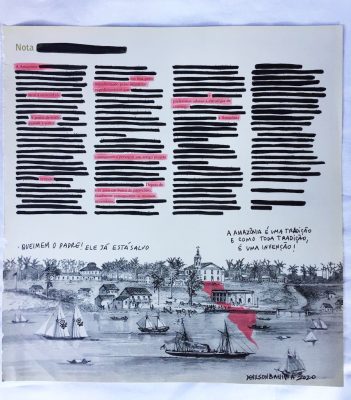Talvez você tenha assistido ao filme O Menu ou à série The Bear e acabou horrorizado com o que viu, sem conseguir ignorar aquela voz no fundo da sua cabeça resgatando a velha máxima — toda brincadeira tem um fundo de verdade, não é? A partir de abordagens bem distintas, cada qual com seus exageros, esses dois hits retratam algo em comum: o trato desumano que corre solto pelas cozinhas dos restaurantes mais badalados (comportamento esse que influencia, inclusive, estabelecimentos de menor porte). As duas produções, que pintam ambientes gastronômicos dos mais maníacos e desesperadores, se inspiram em casos recentes de grandes restaurantes e chefs acusados de assédio, sub-remuneração e mais todo o tipo de maus tratos. Na caldeira dessas denúncias, e com as problemáticas expostas por O Menu e The Bear tão presentes no ideário popular atual, o Noma, restaurante de Copenhague considerado cinco vezes como melhor do mundo (a última em 2021), anuncia que vai encerrar as atividades em 2024. Uau. O que isso tudo quer dizer?

O anúncio foi feito no Instagram pelo chef e fundador René Redzepi, de 45 anos, argumentando que “financeiramente e emocionalmente, como empregador e como ser humano, [o modelo] simplesmente não funciona.” Alguns ex-funcionários, no entanto, contaram uma versão um pouco diferente. Alegaram que, na verdade, as portas do Noma estão para fechar porque trata-se de um local de trabalho insustentável, com um ambiente reinado pela hostilidade e o prazer doentio pelo controle, além de condições de trabalho precárias, sem garantias e muitas vezes não remuneradas. Seja como for, a mensagem impactou o mundo gastronômico.

Desde de sua inauguração em 2003, o Noma —junção das palavras nordisk (nórdico) e mad (comida)— representou a chegada de uma nova era. Fez isso ao desafiar os conceitos da alta gastronomia, virando as costas para a cozinha francesa, mas sem quebrar a formalidade de uma experiência de elite. A revolução começou a partir de 2004, com a publicação do Manifesto da Nova Culinária Nórdica, um registro dogmático assinado por doze chefs que definia a nova identidade gastronômica de cinco países (Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia) e três regiões autônomas (Groenlândia, Ilhas Faroé e Åland). O manifesto ressalta, sobretudo, a importância do uso de ingredientes locais e a promoção de produtos regionais na confecção de porções pequenas servidas com apuro, em apresentações inspiradas na estética escandinava. Depois do Noma, vários restaurantes reproduziram tais ideais e reafirmaram a influência da cozinha nórdica. Foram anos e anos de trabalho árduo para chegar aos mais altos patamares.
Hoje em dia, é importante levantar a questão: tudo isso foi alcançado a que custo?

O famoso índice Michelin, que entrega, e principalmente não entrega, estrelas de acordo com diretrizes arbitrárias e um tanto anacrônicas, demanda algo que não bate com a mentalidade contemporânea. Para estabelecer um suposto alto padrão, o processo de inspeção se baseia, em tese, nos seguintes critérios: domínio do sabor e técnicas culinárias; a personalidade do chef na sua cozinha; relação qualidade/preço; e consistência entre visitas. Mas a verdade é que os critérios usados pelos inspetores são enigmáticas, para não dizer escusos, e os meios para se atingir essas estrelas são extremamente custosos. “Nenhum chef faz fortuna por causa de estrelas Michelin”, diz o jargão — afinal, até que se chegue ao panteão, já se gastou todo o dinheiro do mundo mortal. Há ainda a vida pós-estrela e a dificuldade de atender às expectativas dos clientes. Uma estrela já é suficiente para fazer com que a pessoa sentada à mesa espere que cada garfada levada à boca contenha o mundo. O restaurante agraciado com o brilho Michelin tem que estar preparado não só para o sucesso, mas também para atender aos paladares mais exigentes, e a resposta para isso é… gastar (e, claro, cobrar) mais.
A própria ideia de se comer luxuosamente não é tão aceita na atualidade, uma vez que fazer isso significa financiar uma indústria que notoriamente explora estagiários, não está preocupada com medidas ambientalmente sustentáveis, e se agarra mais às aparências do que à qualquer outra coisa. A busca ensandecida pelas estrelas resulta em estilhaços e mais estilhaços, atingindo quem quer que esteja pelas proximidades. O lugar da moda “para ver e ser visto” perde força na medida em que se apresenta com toda essa bagagem negativa, uma má fama que vem reverberando em maiores decibéis nas vozes dessas pessoas trabalhadoras agora munidas dos meios de comunicar a todos os perrengues pelos quais passam.
Apesar da figura do chef exigente e indefectível ainda ser romantizada — basta tomarmos como parâmetro programas como Hell’s Kitchen, com o tirânico Gordon Ramsay, ou o equivalente brasileiro Pesadelo na Cozinha, com Erick Jacquin —, ela vem recebendo o devido questionamento. Pode uma indústria que tem se sustentado sobre as bases mais condenáveis voltar à glória fazendo valer valores mais dignos? Talvez a gastronomia de alto luxo sobreviva. Talvez não. Enquanto isso, parece mais provável que vejamos mais restaurantes renomados encerrando atividades, ou encontrando dificuldades, em meio a revelações desagradáveis e revoltas de trabalhadores em estado profundo de burnout.
Não podemos, porém, desconsiderar algo importante nessa equação: estamos falando de nada mais nada menos que comida. Simples, e complexo, assim — comida. Com menus elaborados minuciosamente ou não, com um arsenal de talheres específicos para cada um dos pratos ou não, as pessoas ainda vão se importar com o que vão comer. O clichê propalado pela ficção científica de que, num futuro não tão distante, nos alimentaremos por pílulas ou por comidas enlatadas multinutricionais, preocupados única e exclusivamente com o sustento alimentar e não com os prazeres do paladar, na verdade não acontecerá assim tão cedo. As possibilidades, os futuros e os limites da culinária sempre suscitarão interesse. Como os ingredientes são cultivados? Como são colhidos e consumidos? Quero mais disso, quero mais daquilo. Quero consumir algo que condiga com minhas visões de mundo. Quero algo que faça com que eu me sinta bem.

Difícil saber exatamente o que será do mundo gastronômico. Estamos saindo de uma pandemia que alterou conceitos de uma vez por todas; as redes sociais imprimem um ritmo insano e a ordem do dia parece mudar a cada instante; o mundo passa por mudanças climáticas que cedo ou tarde pedirão a conta, e o farão sem a famosa cortesia do braço levantado direcionado para o atendente e da mão que simula uma caneta. Acessibilidade, sustentabilidade e humanidade parecem ser o caminho. Ou melhor, parecem ser convicções mínimas que têm tudo para ditar o que se fazer daqui adiante. Pontos de partidas que tardaram a chegar, é verdade, mas que agora não podem mais ser ignorados — quem o fizer, queima na largada.
Enquanto O Menu e The Bear são sucessos, o ex-melhor-restaurante-do-mundo está para fechar. Isso é fato. Os outros Nomas, aqueles que suam sangue (se você viu O Menu, perdoe a expressão) para oferecer o melhor, estão com os dias contados. Os tempos estão mudando. Somos, ainda bem, cada vez mais humanos. E, como os seres humanos ligeiramente melhores que estamos nos tornando, nossas percepções estão mais sensíveis aos desprazeres da vida — enfim não somente aos da nossa, mas também às agruras de vidas alheias. Justamente por isso, mais do que nunca estamos em busca de respostas abrangentes que permitam o desfrutar consciente dos prazeres. O prazer, e tudo que ele quer dizer, é o conceito-chave aqui.
O paladar em êxtase nunca há de perder força. E que venham os próximos capítulos.