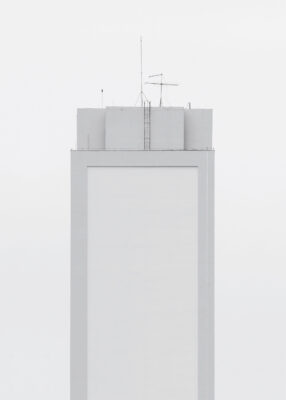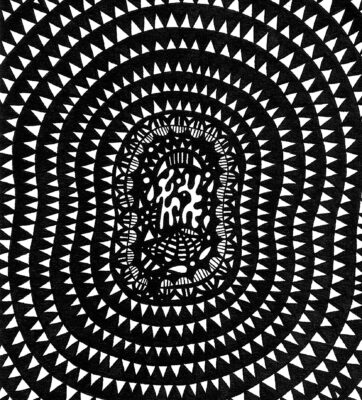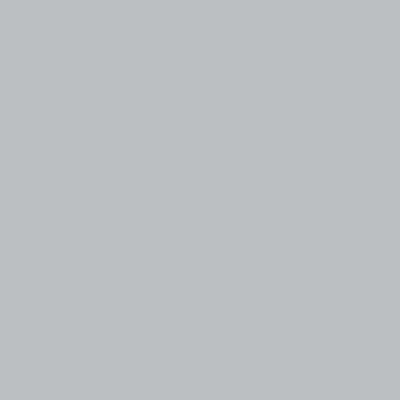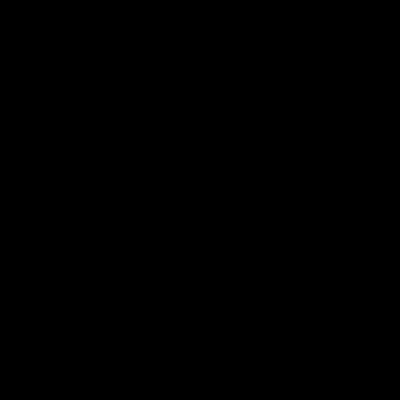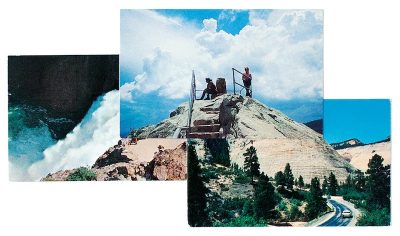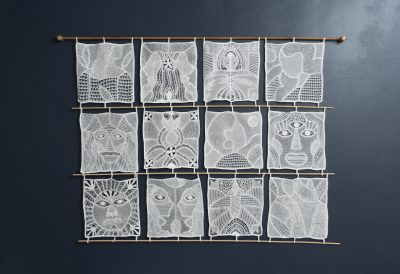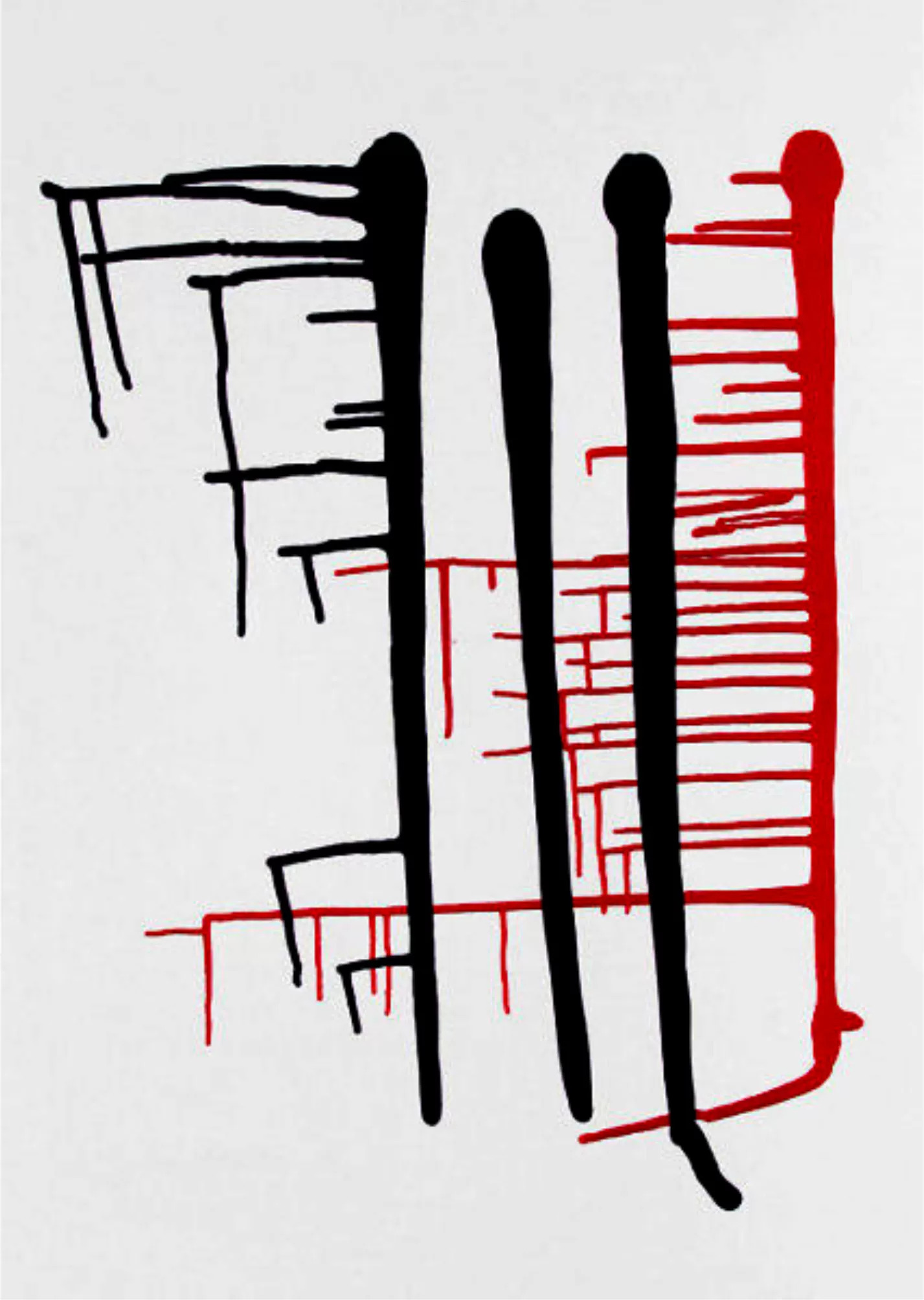
Talvez você se lembre do clássico de 1979, Video Killed The Radio Star, da banda The Buggles. A música celebrava um futuro em que as imagens tinham o poder de estar em todos os lugares (lê-se “sala de estar”), dizendo coisas como “Pictures came and broke your heart, put the blame on VCR” (as imagens chegaram e partiram o seu coração, ponha a culpa no videocassete). Embora datada, a canção teve um impacto imenso e ecoava um sentimento geral de que o passado estava totalmente para trás e ninguém mais precisava de rádios, porque as músicas agora vinham acompanhadas de videoclipes na televisão. E se você pode ter som associado a imagens deslumbrantes, por que ficar só com som? Bem… De maneira irônica, quem parece estar com os dias contados hoje em dia são justamente os videoclipes.
Esse cenário tão prolífico e indispensável de não tanto tempo atrás está passando por uma mudança sísmica, onde os números estrondosos de visualizações estão sendo substituídos por uma paisagem mais fragmentada e desafiadora. Após o declínio das vendas de CDs no final dos anos 2000, o YouTube emergiu como uma métrica crucial de sucesso e os números de visualizações de videoclipes pareciam estar em constante ascensão. No entanto, agora nos encontramos em um momento em que até mesmo os gigantes do pop estão lutando para manter a relevância e o engajamento com suas produções visuais.
Um exemplo marcante desse declínio é o contraste entre os videoclipes de artistas como BTS, Beyoncé e Drake, que conseguiram no passado atingir cifras estratosféricas de visualizações mas que, no presente, já não conseguem reproduzir tamanha relevância com esse formato. A grande questão é: eles continuam tão populares quanto antes. E isso só pode significar uma coisa: houve uma mudança de mentalidade, mesmo para as pessoas mais fanáticas. Algumas dessas estrelas, inclusive, já decidiram parar de fazer clipes tradicionais. O novo álbum da Queen B, Cowboy Carter, foi lançado recentemente e… nada de clipe. Ou melhor, ela lançou o que a indústria chama de “visualizers”, que, no fim, não deixam de ser videoclipes, mas são consideravelmente menos complexos e sem muitas pretensões. Com Texas Hold ‘Em, uma música central de trabalho do novo disco, foi assim. Nada daquele clipe elaborado que seria de se esperar há 10 anos, quando canais de videoclipes resistiam na televisão, na era que antecedeu o boom dos streamings e do reinado TikTok.
Foi-se o tempo de grandes clipes musicais como Thriller do Michael Jackson, dirigido por John Landis, ou Dancing in the Dark, hit de Bruce Springsteen, dirigido por Brian De Palma. Essas obras tinham a liberdade para serem o que quisessem ser e, por conta disso, ditavam tendência e definiam toda uma época. Os anos 1980 foram marcados por inúmeros clipes dessa estirpe: Take On Me, A-Ha; Like A Prayer, da Madonna; Once in a Lifetime, do Talking Heads; Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler; Welcome to the Jungle, do Guns N’ Roses; e tantos outros. Aqui no Brasil, os anos 1990 tiveram o seu auge de videoclipes marcantes, como Diário De Um Detento, dos Racionais, dirigido por Maurício Eça, e Minha Alma (A Paz Que Eu Não Quero), canção d’O Rappa com direção de Luciano Vidigal.
Há não muito tempo, os clipes reinavam com ainda mais força do que nos anos 80 e 90, devido à abrangência sem precedentes do YouTube, que permitia com que as pessoas assistissem aos clipes que desejavam, na hora que quisessem, quantas vezes lhes desse na telha. Mas algo no meio do caminho mudou tudo. O quê?
Uma das razões por trás desse fenômeno é a mudança no comportamento do público. Em um mundo inundado de informações e entretenimento instantâneo, manter a atenção do espectador por toda a duração de um videoclipe tornou-se uma tarefa hercúlea, mesmo que você seja uma Billie Eilish ou uma Olivia Rodrigo. Se o vídeo matou a estrela do rádio, o scrolling matou as estrelas dos videoclipes. Se lançado nos dias de hoje, ninguém saberia os passinhos feitos pelos zumbis de Thriller e as marias-chiquinhas colegiais de Britney Spears em Baby One More Time não causariam tanto furor. A ascensão do TikTok como uma plataforma dominante para o compartilhamento de conteúdo musical contribuiu ainda mais para essa mudança de paradigma, onde os vídeos curtos e virais dominam a paisagem digital. Hoje em dia, mais vale uma dancinha de segundos feita no quarto de casa do que um grande número musical de quatro minutos. Da perspectiva de um artista popular, é compreensível, já que esse tipo de divulgação natural dá muito mais retorno e não custa nada.
Além disso, a própria indústria musical está passando por uma transformação radical. Há uma contenda famosa e contínua entre artistas e serviços de streaming: os artistas ganham quase nada com Spotify, mesmo aqueles com bilhões de plays, mas, sem a plataforma, sem dúvida a mais popular delas, não são tão ouvidos. E, se isso vale para os gigantes, vale em dobro para os pigmeus, que se agarram aos seus poucos ouvintes para fazer shows menores em casas locais. O conflito por si só gera um atrito que acaba mudando o modus operandi geral, criando um senso de cautela maior. Os orçamentos para videoclipes, quando existem, estão encolhendo, e os diretores estão sendo desafiados a fazer mais com menos — eis os tais visualizers. Outra solução para isso, que entrega tanto economia quanto eficiência, é o lyric video, uma produção de motion design que apresenta a letra da música com alguma elaboração gráfica. Claro que, enquanto produto artístico, nem os visualizers e nem os lyric videos chegam aos pés das ambições por trás dos videoclipes tradicionais. Então, fica uma sensação de perda.
“A própria indústria musical está passando por uma transformação radical. Há uma contenda famosa e contínua entre artistas e serviços de streaming”
No entanto, mesmo diante desses desafios, há uma crença persistente na importância dos videoclipes como uma forma de arte. As novas gerações podem estar distraídas demais para assistir a um clipe, e elas são as que costumam jogar números nas alturas, mas muita gente que já se impactou por esse ou aquele videoclipe ainda está aí, como mercado consumidor. Talvez, hoje, um videoclipe não valha mais tanto a pena. Mas o que se pensa é que, nos ciclos inevitáveis da cultura, eles voltem à baila. Assim esperamos, ao menos, porque eles têm o poder de criar momentos visuais que ressoam com os espectadores e transcendem o tempo e o espaço. Por que outra razão se não essa ainda estamos assistindo ao clipe de Gangnam Style ou de Bad Romance? Ou de Bohemian Rhapsody? Dos visuais icônicos de artistas como Spike Jonze, que dirigiu clipes para bandas como os Beastie Boys, aos cenários deslumbrantes feitos para Bjork nas colaborações com Michel Gondry, os videoclipes têm o potencial de se tornarem marcos culturais que definem uma geração.
Fica a dúvida: os videoclipes podem sobreviver e prosperar neste novo cenário digital? Claro que sim. Mas adaptações precisarão ser feitas. Uma delas foi anunciada recentemente: o Spotify agora está passando clipes. Muito embora isso queira dizer que essas produções serão consumidas pela tela de um celular, o que incomodaria muitos realizadores, a tendência é que sejam mais vistas. Ao menos parte delas. É um sinal dos tempos, mas é o que é.
No final das contas, acima de lucros ou prejuízos, a indústria musical deveria continuar a apoiar e investir na produção de videoclipes de alta qualidade. Por quê? Mais do que nunca, precisamos de algo que nos fascine verdadeiramente. No TikTok, não acharemos isso. À medida que nos aprofundamos no vórtex sem fim de pequenos vídeos vistos pela tela do celular, sem ver ou sentir a vida passar, esquecemos da intensidade e complexidade dos nossos sentimentos — algo que um videoclipe tem o poder de traduzir, visto que sua função primária é representar as principais sensações contidas naquela canção. Precisamos nos entregar novamente ao que quer que esteja dentro de nós, deixando a passividade de lado.
Precisamos disso, nem que seja por míseros três minutos e meio