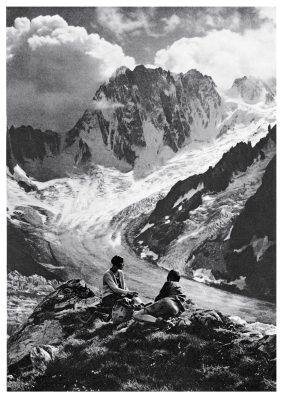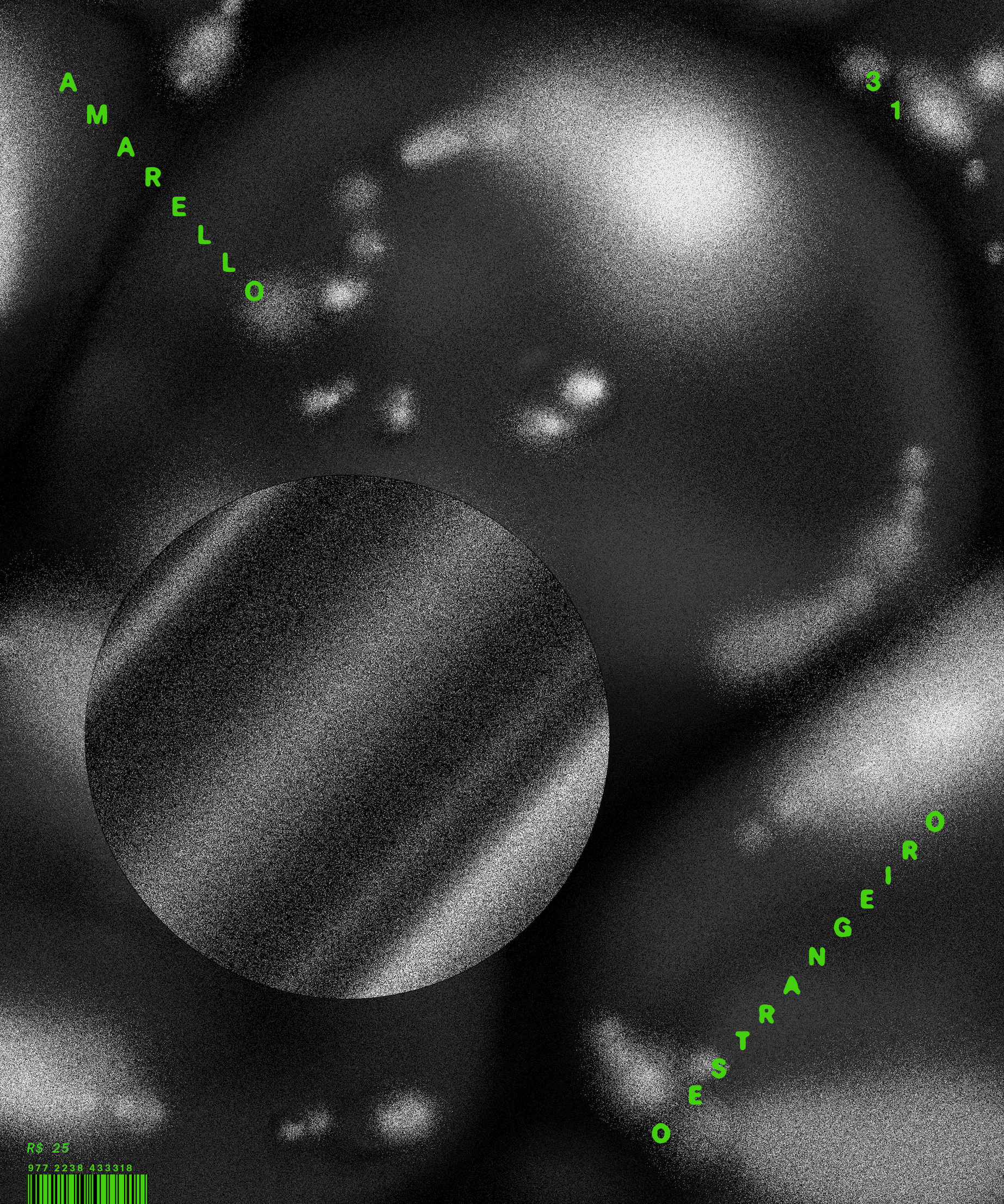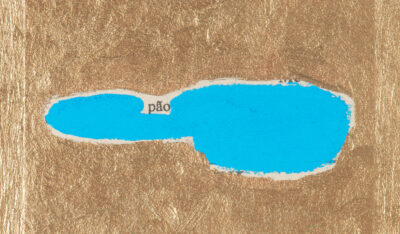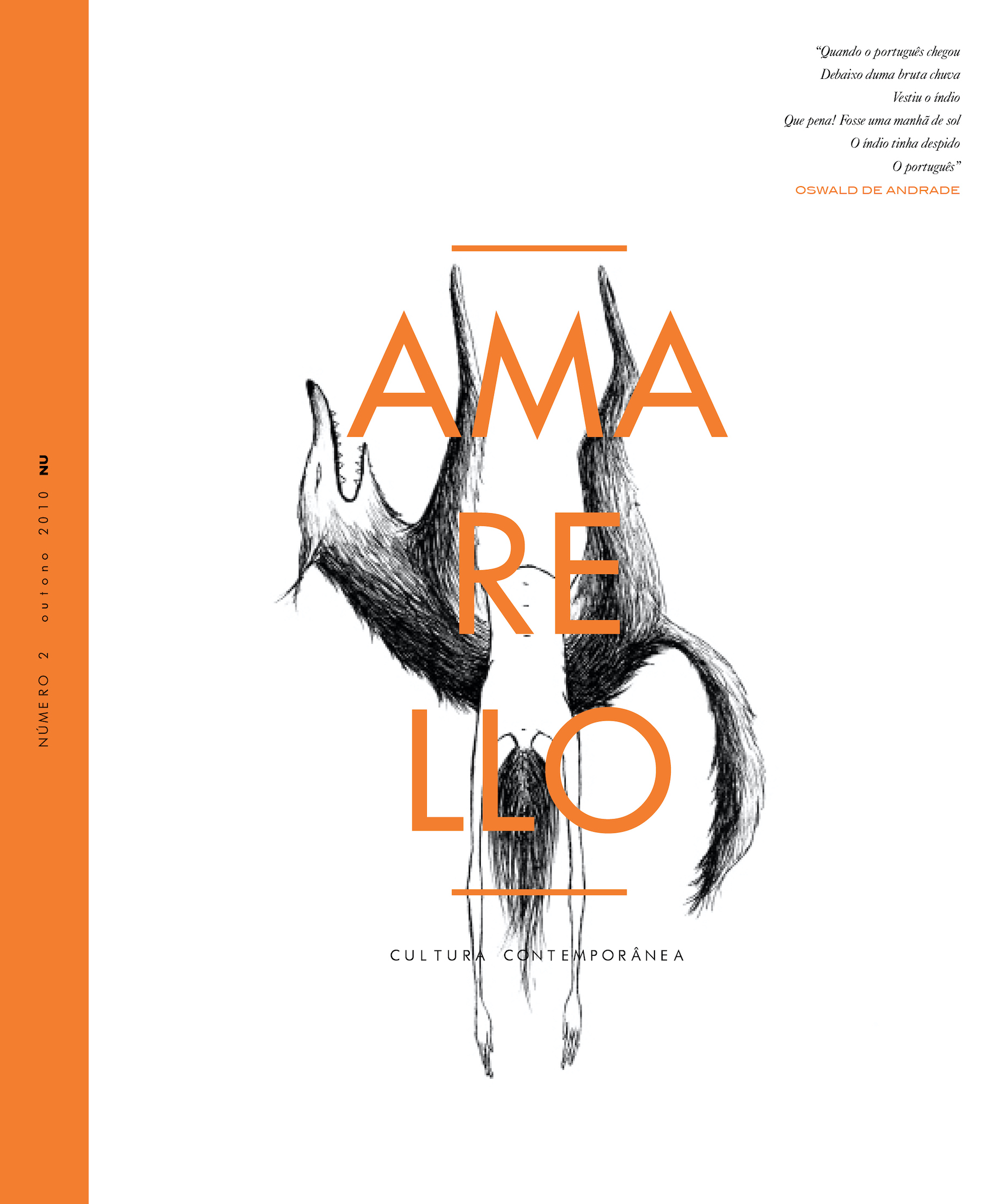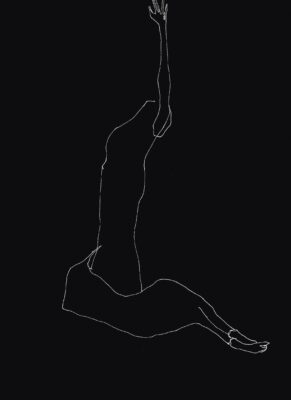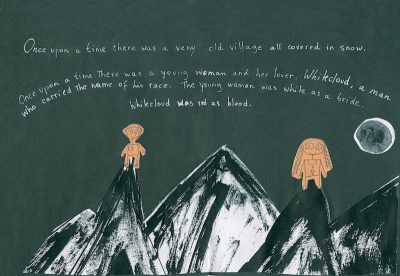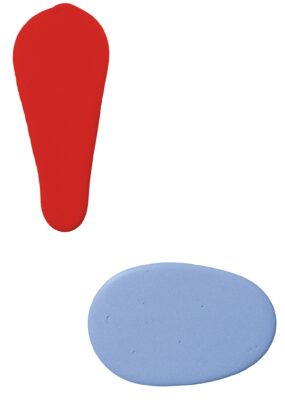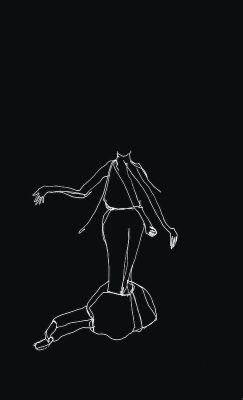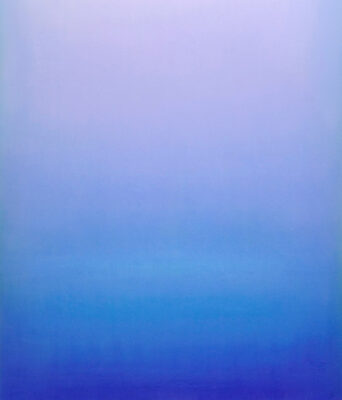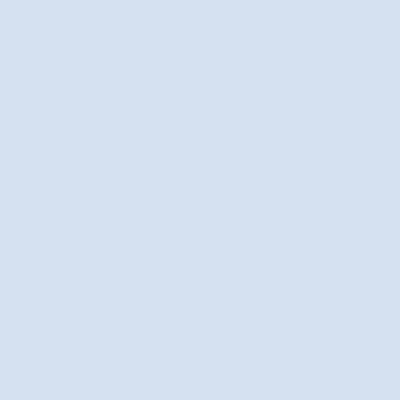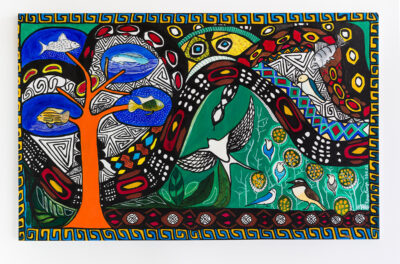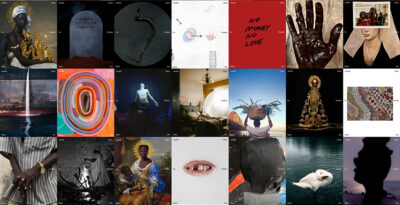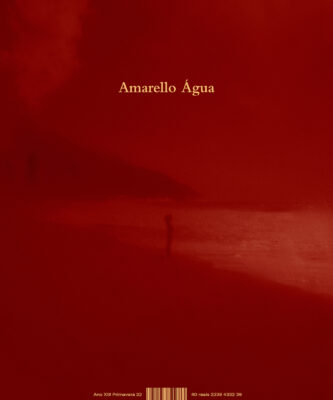Editora convidada da edição Ilusão
Preâmbulo
Soa inevitável, ouvindo a palavra ilusão, que esta escorra deliciosamente para uma outra, num contágio que logo se sugere – poesia. Poderia alargar este rio para o encontro fundo entre ilusão e arte, ilusão e vida, ilusão e consciência, ilusão e sagrado, mas, a mim, como me vem, é mais espessa a musculatura da soma quando, sob a ampla palavra, ancora-se o estro que a levita. Chamo poesia a toda arte da palavra, independentemente das toadas que acione em sua elaboração. Gostar de mais ler e escrever, é algo que, em mim, aconteceu à sombra sem repouso dos livros de Fernando Pessoa. A vertigem álacre que se nos é aberta nesta obra veio-me sob o impacto inelutável com que Pessoa entende, escrevendo, o sentido de seu fascinado labor-labirinto: escrever é emaranhar-se na ilusão, e toda ilusão é já possibilidade de outra visibilidade das coisas, outro lado (oculto?) daquilo que, por ter sido demasiado visto, por força do hábito, quase perdeu a qualidade viva de se poder ver. Desabituando os olhos, acionando o real em toda a sua carga ilusória, galeria de imagens reflexas sem “a imagem autêntica” num fundo, Pessoa sabe que “a literatura consiste num grande esforço para tornar a vida real”.
É de Bernardo Soares, em seu conjunto de frascos vazios – ou o Livro do Desassossego, vulgo LD – a sentença acima. Passeio por essa bíblia ajambrada pela ironia, desde que não pude mais largar mão da loucura leitora, outra coisa que Pessoa alimenta em quem convive com ele e com o LD. De volta às páginas cosidas a esmo e erro, lembremos que o LD é um não livro e que seu autor, o semi-heterônimo B. Soares, é uma metade ou uma quase (semi) voz outra (heterônimo), conforme o epíteto legado pela mão que, sobre a sua, assombra e assina um outro. Lembremos que o LD faz-se do conjunto de papéis desordenados, marcados por mesmo ou semelhante sinal, em margens e rodapés, nas páginas chegadas à morte, num baú imodesto – continente de uma obra aguda em sua dispersão, território em que os textos se nutrem, em autofagia e reação, de si mesmos e de sua vizinhança, aquele coral fantasmático, plurivocal, que conhecemos desdobrado do nome Fernando Pessoa: Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, António Mora, Raphael Baldaya, Alexander Search e inúmeros.
Todo este giro abarrocado para quê?
Faço essas graças ao leitor, essas marras de piscadelas, pois é minha maneira de saudar o mestre, antes de trazer trechos seus para já, pondo-me ao pé de conversar com ele, como se nas britadeiras ocupantes da av. Rebouças, em setembro de 2018, há exatos 130 anos do nascimento dele, eu, por força de ser sua leitora, delirasse um rio, o Tejo, sobre as malhas desviadas dos esgotos de São Paulo e assistisse a seres marítimos e barcarolas e cais e pedra e um sotaque cheirando a sardinhas e árvores e grandes tormentas me embalassem, como uma mãe a um filho de areia e distância.
Um cais, aqui, paulista. Ou ainda, saudando-te, Fernando, uma grande estação, a gare da equação tempo-espaço em que somos possíveis um para o outro, onde cada um espera a sua “diligência do abismo”, o seu Uber para lugar nenhum. Contigo, estourou de vez esse manancial de perdição: contigo, afago a descoberta da paixão pelas ambiguidades da ilusão, girando a mola desta maquinaria desejante a que chamamos poesia.
Saudar a ilusão
Sobre a parelha indissolúvel da poesia e ilusão, em Pessoa sobretudo, me veio à memória um trecho em que, já não sabendo bem quem, se Pessoa, ou Bernardo Soares, ou António Mora (a voz que Pessoa emprestou ao filósofo do “neopaganismo” de sua obra), diferenciava, entre as posturas antigas ainda não corrompidas pela malaise do cristianismo (que, para o autor, teria sido a grande cocaína – p.s. leia-se, por favor, com o gozo do espírito esportivo – herdada por todos nós, viciando a maneira como lemos o mundo e fabulamos o real): aquela do epicurista e a do estoico. Se me lembro bem, Pessoa (ou Soares, Mora, outro?), aproximando-se mais da postura dos estoicos, dizia que ao epicurista coube a grandeza efêmera do presente, podendo resultar numa entrega excessiva às sensações, na duração de seu instante; ou também, de forma oposta, na recusa abstinente e descomplicada dos afetos, pois a experiência agora é ainda e já a sombra de uma foice que vem caindo.
Os estoicos, por sua vez, mantinham um jogo mais mental com a própria consciência da finitude e da impossibilidade de conhecimento das coisas. Admitiam que fosse possível haver alguma espécie de conhecimento superior (em grande parte, entendiam-no como destino) em que leis inexoráveis (que para nós só são acessadas via interpretação, ou seja, pluralidade, traduções) regiam o andamento e o curso das vidas. Diante desse pressuposto, os estoicos elaborariam um jogo audaz: sabem que não sabem (que o saber cava-se até uma escala cujo tom não alcançam) e gozam desse saber do que não têm. Há um orgulho interior em ter prazer, entre um bando de gente que acha que sabe ou é possível saber, de saber que não se sabe e que estamos todos sujeitos à ignorância suprema, num impedimento de “conclusão” que a maioria, querendo ou não, desconhece, e assim vive, imersa em promessas “civilizatórias, definidoras e progressistas”: avanço, saúde, conquista, vitória, esclarecimento, verdade e, no topo das vontades à venda, a desilusão como compreensão, enfim, da “natureza das coisas” por meio de qualquer ciência e/ou um qualquer deus.
Não reencontrando o trecho que tentei parafrasear acima para citá-lo aqui, à letra, espero estar corrompendo apenas o que, do que acima disse, diz de mim. Ressalvas feitas, chego ao ponto delongado: abraçar a intimidade entre ilusão e poesia é regozijar-se com as delícias ambíguas de uma figura retórica muito especial: a ironia.
B. Soares deixou-nos uma variada sorte de fragmentos cujo tema pode ser lido como “a grandeza irônica do sujeito”, em que supera a todos os vencedores de todas as vaidades pela delícia de perder. No fragmento 54 (F54), zombando das “seduções de distração” em que nós, bichos mortais, passamos horas “sonhando” com uma espécie de fama ou celebridade, Soares, sem se excluir da fauna sonhadora que somos, diz: “Vejo-me célebre? Mas vejo-me célebre como guarda-livros. Sinto-me alçado aos tronos do desconhecido? Mas o caso passa-se no escritório da Rua dos Douradores (…)” e, depois de apresentar-nos um buquê de metáforas de sua indisposição congênita à ação vencedora, e dizendo-se falho até mesmo nelas (“o meu sonho falhou até nas metáforas”), na vaidade de julgar-se lúcido, ironicamente, Soares inverte os termos do tabuleiro e vence-nos a todos, pelo exímio de sua desistência: “Levo eu ao menos, para o imenso possível do abismo de tudo, a glória de minha desilusão como se fosse a de um grande sonho, o esplendor de não crer como um pendão da derrota – pendão contudo nas mãos débeis, mas pendão arrastado entre a lama e o sangue dos fracos, mas erguido ao alto, ao sumirmo-nos nas areias movediças (…). Levo comigo a consciência da derrota como um pendão de vitória”.
Noutro fragmento (F90), encontramos o postulado que é uma espécie de corolário da escrita pessoana: “Reconhecer a realidade como uma forma de ilusão e a ilusão como uma forma de realidade, é igualmente necessário e igualmente inútil”. É a graça chistosa de um tanto faz para nós todos que tanto fizemos ou julgamos ter feito.
Além de dar corda àquela “estética do artifício” em que Pessoa insistentemente trabalhou, dizendo-se viver “esteticamente em outro”, cultivando sua “artificialidade, flor absurda” (F114), um dos ganhos irônicos com a mobilidade dotada ao par ilusão-real está no aprofundamento do mistério. Sublinhando na linguagem (sem a qual não acessamos nada de nada, mas que, em si, não é mais do que um instrumento reflexivo, uma faca de dois gumes) sua opacidade e seu poder de obscurecimento, ao invés do fácil consenso, da gentil miopia dos espelhos, da forja banalizadora das mesmices, das sínteses, das grandes conclusões, Soares anota: “Assim organizar a nossa vida [para] que ela seja para os outros um mistério, que quem melhor nos conheça, apenas nos desconheça de mais perto que os outros” (F115). Ou, de maneira mais dramática: “Repudiei sempre que me compreendessem. Ser compreendido é prostituir-se. Prefiro ser tomado a sério como o que não sou, ignorado humanamente, com decência e naturalidade. Nada poderia indignar-me tanto como se no escritório me estranhassem. Quero gozar comigo a ironia de me não estranharem. Quero o cilício de me julgarem igual a eles. Quero a crucificação de não me distinguirem” (F128).
Não é sem vaidade e brio que Soares exalta seu fracasso, sua pequenez, embora lúcida; sua desconhecida e vibrante inutilidade, embora sabida. Ronda a obra pessoana o capitão espectral da consciência de sua genialidade, e Pessoa, sendo o poeta que é, vai saudá-lo na sua forma íntima: fazendo-se texto infinito deste vazio ruminante, assolador de nossa consciência – nós, um bicho da terra tão pequeno, tendo em si “todos os sonhos do mundo”. Como conciliar nossa miséria com nossa delirante grandeza? Em que vírgula dos argumentos estaria aquele trono gramatical em que se sentasse “o real”?
A saúde de uma afirmação trágica
Quero pensar que um dos grandes dilemas da chegada ao terminus da “desilusão” seja o fato de conduzir nossa percepção à ideia de que, com algum alívio triste, enfim foi solucionado o erro de uma ilusão. Sorrio a meia-boca enquanto o penso, escrevendo-o. Já ouvi mais de uma vez o elogio de ter perdido uma ilusão, como se acordasse de uma lastimosa bebedeira e retomasse os meus juízos, de volta ao mundo, reaceita “ao trabalho” com um tapinha camarada nas costas. Que bom que não foi bem assim.
O mais esperado é que, diante da ameaça de uma ilusão, aumentemos o receio, como se estivéssemos dando as mãos a um logro, um golpe ou, no mínimo, algo que nos fizesse perder tempo, pois, ilusão que é, faz troça, engana, não leva a nada. A parte fiscalizadora do mundo lidaria conosco como se, durante um período, ou intervalo de tempo, um estado molemente nocivo, uma espécie de preguiça danosa, tivesse assumido em nós a posse da lucidez, deixando-nos disponíveis a todo tipo de malefício e, principalmente, cegos aos deuses da razão. Associarão a ilusão a um torpor – idiotia, “cabeça nas nuvens”, “mundo da lua”, ou seja, situação em que o sujeito é tomado pelo pathos de um sentimento alienante que o desvincula da massa aceite enquanto prova de fé e evidência do “real”. Ainda que passageiro, tal torpor indica algo de um entorpecimento que não caberia na vida (em) comum, nas necessidades organizáveis de um dia a dia, corrupção da saudável e produtiva dinâmica do sujeito, excluindo dele a lógica de visibilidade, a lógica de reconhecimento dos valores – ou melhor, extirpando dele a condição de leitor do mundo “oficial”, como se seu corpo e sua consciência modulassem as coisas às avessas, o que sempre irritou o curso de uma visão de mundo que se esforça para se levar a sério e converter aqueles que, por qualquer razão, caíram nas garras críticas e poéticas, no limbo do limbo sem fundo, da consciência e da sensação como ilusão. Eis, porém, nela o acaso poético de nos aproximarmos de nossa condição cindida, multiplicada, diversa, como escreve Soares: “Conhecer-se é errar. (…) Desconhecer-se conscientemente, eis o caminho. E desconhecer-se conscientemente é o emprego ativo da ironia. Nem conheço coisa maior, nem mais própria do homem que é deveras grande, que a análise paciente e expressiva dos modos de nos desconhecermos, o registo consciente da inconsciência das nossas consciências, a metafísica das sombras autônomas, a poesia do crepúsculo da desilusão” (F149).
Ilusão, como vou lendo na poesia que me atravessa, guiada pela mão traquina do ilusionista Pessoa, não é apenas estado de entorpecimento em que “não se vê”, ao certo, o que é o real. Ilusão é estar dentro desse sistema vivente de linguagens, perdidos, eu e tu, mas querendo, dessa crise, dessa possível tragédia, fazer um ato de alegria, escolher a alegria, recusar o embrutecimento pelo medo de não sabermos mesmo nada.
Em tempos em que nós, partícipes do século XXI não faz pouco, ainda consideramos, para a fatalidade geral, que o que um ou outro pensa pode ter mais ou melhor registro de veracidade, convicção e testemunho “do real”, que uma ou outra versão da máscara do mundo (porque mais próxima do meu sonho do espelho e do meu terror noturno) é mais certa e mais justa para um e para outro – esse que amamos desconhecer, altivamente, enquanto achamos que conhecemos; em tempos em que um gesto de dedos imitando um revólver se acha legítimo em convencer as gentes em prol do medo asfixiante; em tempos em que “a verdade”, cadáver da empatia e do pensamento, parece ser (e)legível, circulando múmia indigesta em encouraçadas fake news, perdida (quase) toda ironia…
Em tempos como o nosso, eu saúdo o grande Pã-Pessoa, brindando na ilusão a matéria mesma do que somos, a linguagem com que falamos, os ditames & recalques & sonhos & covardias que vamos, confinados, amainando e regularizando, pela convivência surda, cega e muda. Que venham os xamãs, Walt Whitman, Álvaro de Campos, Hilda Hilst, Ana Cristina César, Llansol, Hadewijch, Octavio Paz, Baudelaire, Roberto Piva, Artaud, Anaïs Nin, Anne Carson, Mário de Sá-Carneiro, Pascoaes e toda a trupe de endiabrados! Quebrem todas as janelas! Evoé, Bartleby!
Bartleby, uma espécie de primo-irmão de Soares e um dos personagens mais sedutores da literatura, respondendo ao patrão de seu escritório, sobre toda e qualquer demanda de ordem prática (desde, por exemplo – invento –, o pedido de pegar um café no cômodo ao lado) dirá, entre selvagem e apático, “acho melhor não”, levando toda percepção de praticidade ao cúmulo do absurdo.
A grande sacada irônica de uma vida desopilada dos convencimentos de que o mundo é um ou outro, bem ou mal, certo ou errado, feio ou bonito, etc., etc., etc., nos é ofertada pela poesia, pela arte, por meio do irônico e pessoanamente estoico gozo de recusar as tais medidas de um mundo que se comporta como “patrão”. Digo de outro modo: estou aqui, no jogo, convosco, visto o hábito de monja louca, por exemplo, ou de carpinteiro sádico, ou de esposa enfadada, ou de engraxate criança, ou de empresário adulto, ou de manobrista de túmulos, ou de peixe fora d’água, ou de escritor desmemoriado, ou deles todos, que seja: independentemente do lugar com que a veste me indica o baile, do prestígio das aparências com que enceno os movimentos do corpo, ao fim e ao cabo, chegamos e chegaremos nus, absolutamente prontos a perder, sem ter entendido quase nada que não tenha sido inventado. Nulo, cômico – tragicômico? Acalenta-nos Soares: “E sempre, desconhecendo-nos a nós e aos outros, e por isso entendendo-nos alegremente, passamos nas volutas da dança ou nas conversas do descanso, humanos, fúteis, a sério, ao som da grande orquestra dos astros, sob os olhares desdenhosos e alheios dos organizadores do espetáculo. Só eles sabem que nós somos presas da ilusão que nos criaram. Mas qual é a razão dessa ilusão, e por que é que há essa ou qualquer, ilusão, ou por que é que eles, ilusos também, nos deram que tivéssemos a ilusão que nos deram – isso, por certo, eles mesmos não sabem” (F255).
Reembaralho as visões que desenhei e, mui ironicamente, respondo que sim e não, simultaneamente, às coisas todas, dizendo-lhes e a mim, querida, acho melhor não. Em seguida, dionisiacamente, abraço a virulência das ambiguidades alcançadas, querendo-me a graça mais propensa a esta viagem errática, em que todos somos os ilusos de tantos jogos, virtuosos de ilusões. Temer o labirinto que se oferece em febre? Acho melhor não. Rasurar a loucura do que experimento, talhando uma mordaça que me force a responder ao mundo pela via domesticada dos maniqueísmos? Acho melhor não. De maneira cintilante, sigilosa, escusa, a ilusão pode ser a ferida de um riso irônico libertário, um jeito de corpo de não opor-se à desilusão (afinal, mais uma faceta da ilusão?), mas driblando a violenta demanda de uma identidade que quer para si todos os atributos consideráveis e valorativos de uma excludente “via virtuosa e verdadeira do real”.
Chamo Pessoa, Melville, chamo bruxas fazendo da tecelagem do real um emaranhado viscoso, exótico e íntimo de ilusões. Chamo Drummond, que irônico sabe que “ganhei, perdi meu dia”. Na recusa de uma versão acachapante e doutrinadora, chamo, com Nietzsche, uma “gaia ciência”: quero a atitude alegre de um “saber trágico”, em que a intensidade da alegria possa ser medida conforme a qualidade do saber trágico que ela implica. E chamo Herberto Helder, rindo com ele, que a “ironia não salva, mas ressalva”. Na companhia dxs indisciplinadorxs do desejo, dxs que jogam com as cartas dispostas ao encontro, dxs que desconcertam a banalidade, dxs que cultivam o desconhecerem-se mais de perto (e fingir é conhecer-se) levanto um brinde e um quebranto, evoé, à proliferante ilusão que nos dá corpo ao estranhamento e gozo às maneiras de querermos perder ironicamente.