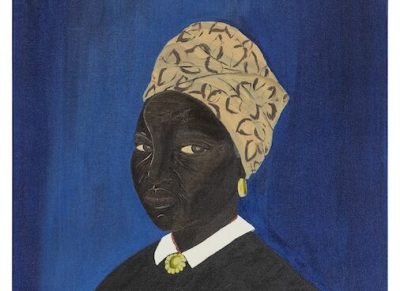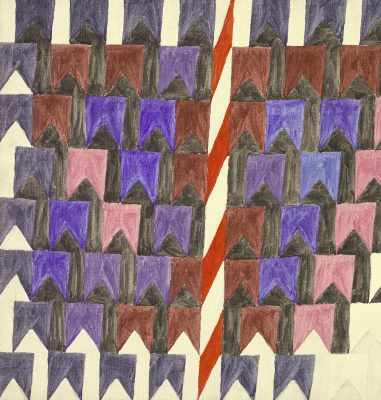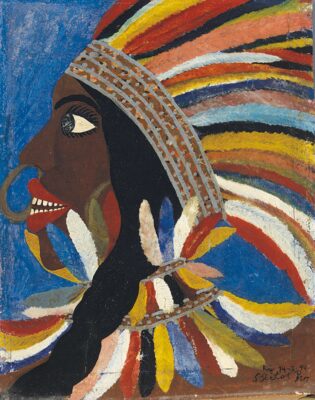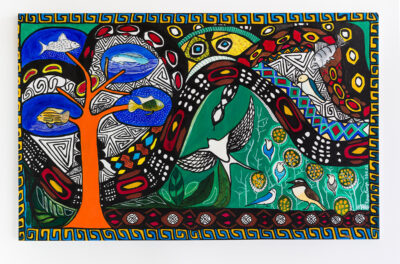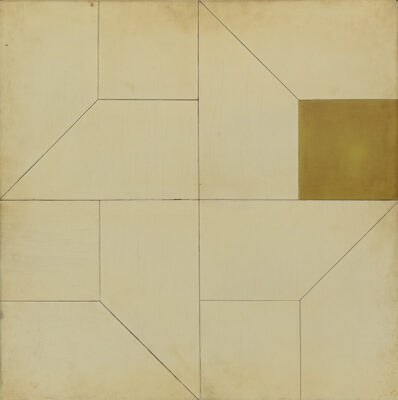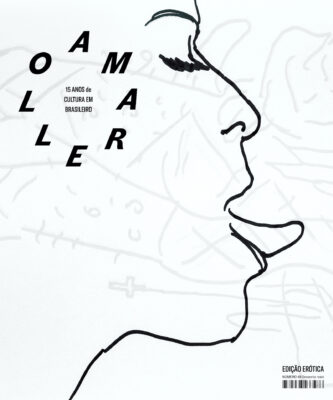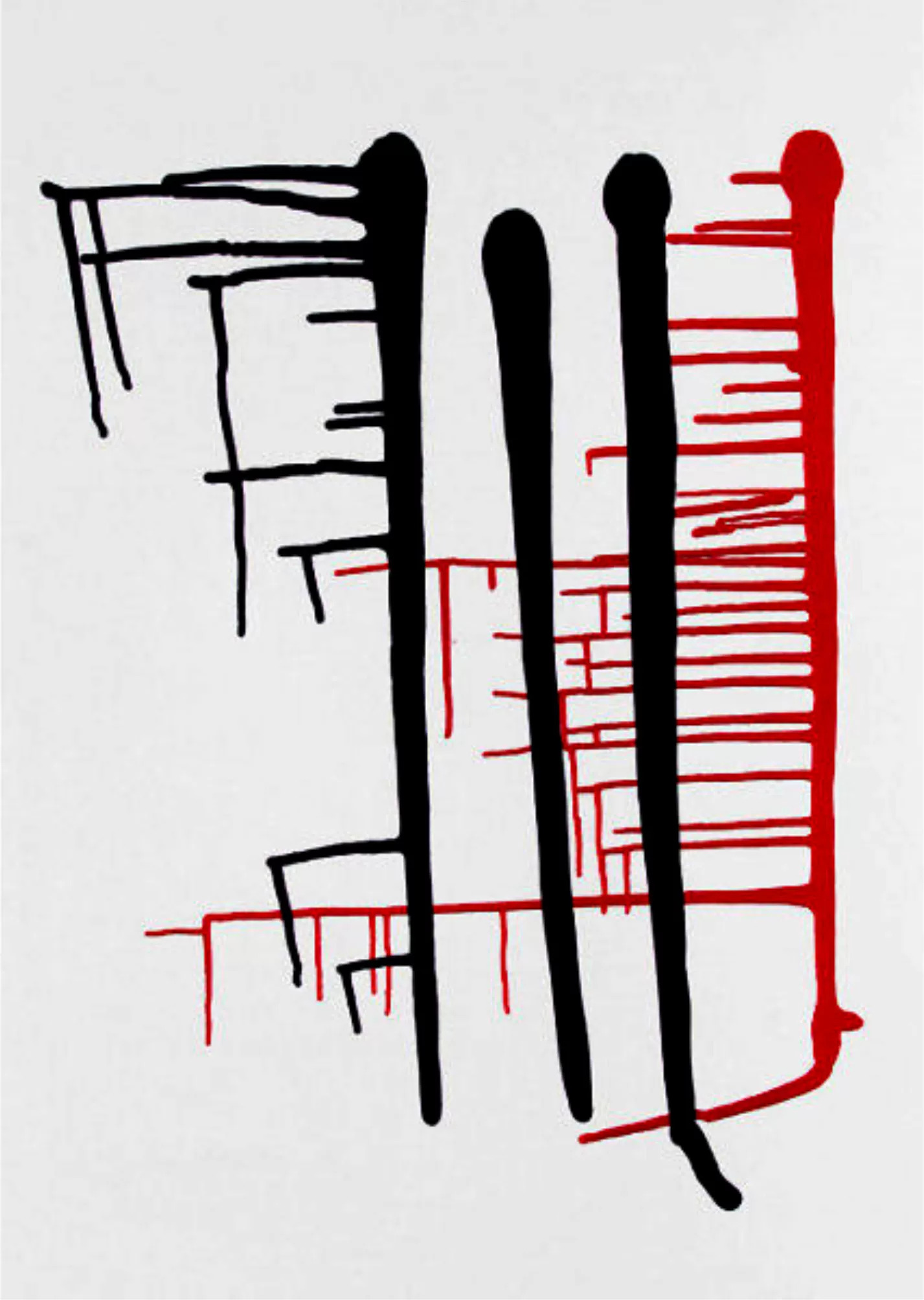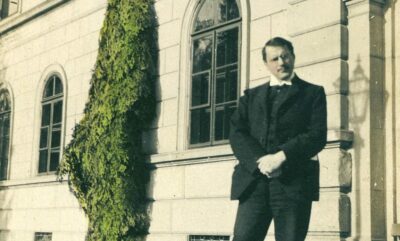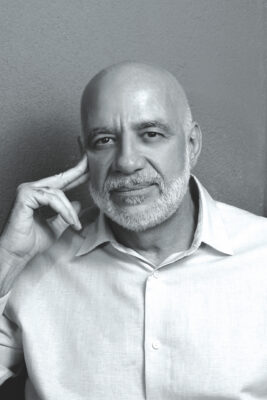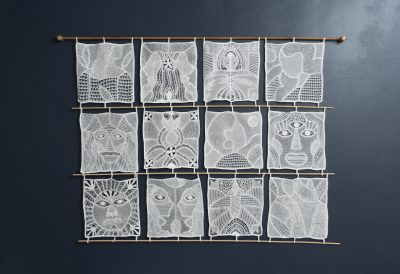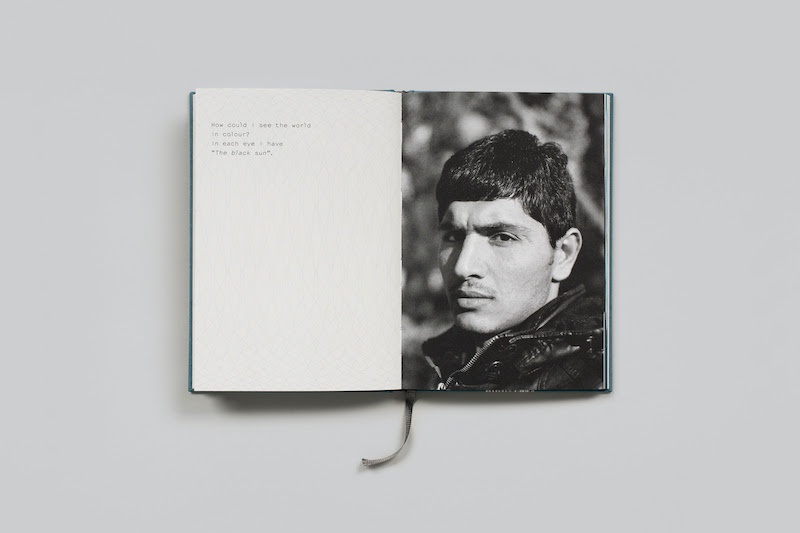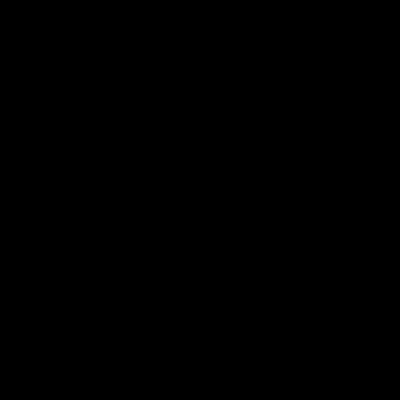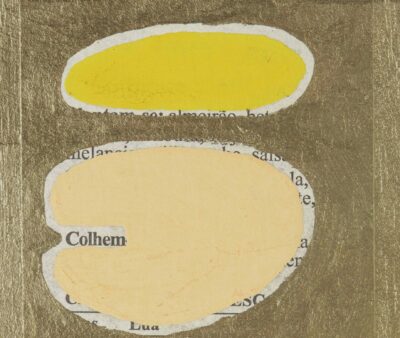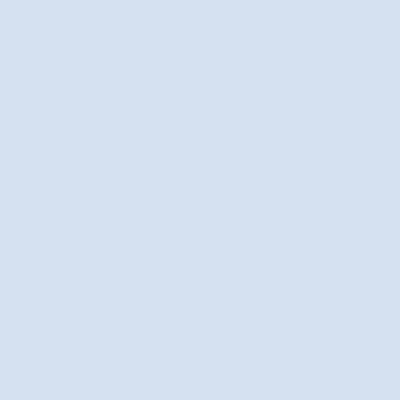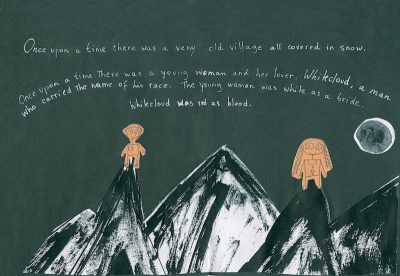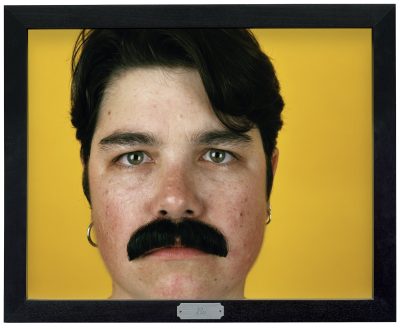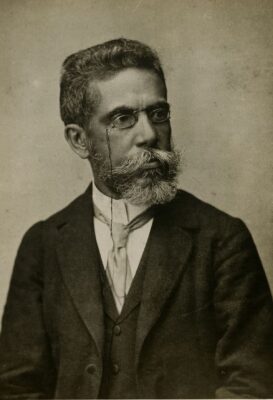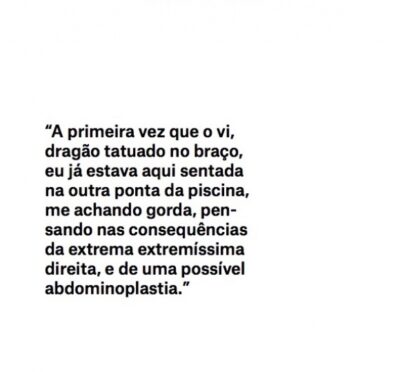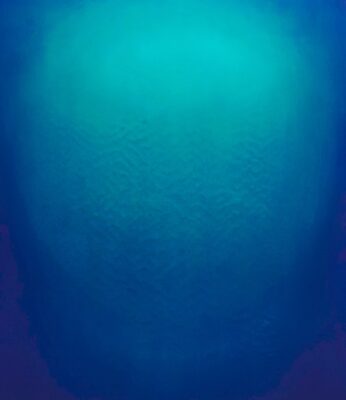Arquivos: Autores
Autores
Café, água e bolacha: Teo Vilela
por Revista Amarello
Você nasceu em Araçatuba. Me conte um pouco sobre como veio parar em São Paulo.
Eu me formei em Direito e vim a São Paulo para trabalhar. Trabalhei com direito por um período muito curto, dois, três anos, e nesse período já estava superinsatisfeito com o que fazia, porque não gostava, e só fazia por uma obrigação familiar. Nunca fui de ficar parado, e, como sempre gostei de decoração, de arrumar a casa, deixar a casa mais bonita – não com um projeto novo, mas com o que tinha mesmo, com o que já existia –, resolvi fazer um curso de decoração. Comecei a fazer uma graduação na Belas Artes – era a primeira faculdade com curso de Design de Interiores que existia no Brasil –, mas aí, por falta de paciência minha, um professor me sugeriu mudar para um curso livre no SENAC, que era bem mais curto, e com certeza eu iria chegar também aos meus objetivos. Como já havia cursado quase um ano na Belas Artes, fiz o curso do SENAC em um ano, e já comecei a trabalhar nesse período na Tok&Stok, no final de semana. Durante a semana ainda trabalhava num escritório de advocacia. Teve todo um processo, porque minha família não queria muito que eu fizesse outra coisa além do direito, mas resolvi mesmo que não era o que queria e decidi correr atrás do que gostava. Nessa época, conheci uma senhora que trabalhava com antiguidade; ela comprava e vendia peças informalmente, e comecei a me envolver com isso e fazer também compra e venda informal de antiguidades.
E isso foi quando, mais ou menos?
Em 2001, me associei à Associação dos Antiquários de São Paulo. E, logo depois, já comecei a fazer as feirinhas de antiguidade, a comprar e vender – comprava para vender nos finais de semana na feirinha, tanto a da Benedito Calixto, no sábado, como a do MASP, no domingo.
Não sabia dessa sua passagem nas feirinhas.
Sim, durante a semana entrava no D&D às dez horas da manhã. Antes disso, acordava às seis e ia a vários pontos estratégicos onde conseguia garimpar coisas; Família Muda-se, etc. Mudei meu horário de trabalho para conseguir fazer todo o garimpo na parte da manhã e trabalhar à tarde. Mas passou um tempo, e a coisa do empreendedor, que sempre tive muito forte, falou mais alto, e não dava mais para ficar trabalhando exaustivamente durante a semana, e no final de semana também trabalhar nas feirinhas. Foi aí que comecei a perceber que o meu próprio trabalho estava dando mais lucro que meu emprego fixo, e que poderia me dedicar a ele durante a semana também.
Então, em 2004, fui passar um período em Londres, e foi lá que comecei a reparar que o mobiliário brasileiro já estava sendo muito comentado, e que os antiquários já estavam meio que abandonando a parte clássica e entrando em um período modernista.
Você voltou em 2005 para abrir a loja?
Voltei já com o intuito de abrir a loja. Como tinha ficado um ano de folga, tinha que trabalhar de novo, e acabei abrindo-a em novembro de 2007. Mas, até 2011, continuei fazendo as feirinhas de fim de semana, para pagar as contas.
E qual é a peça mais procurada na loja?
O que as pessoas mais compram são poltronas. Acho que é um detalhe importante e que dá um charme diferente na casa. É um lugar que você chega, senta, descansa, você vai ler ou vai bater papo… Então, acho que é uma das principais coisas que você vende.
E para você, qual é seu objeto de desejo?
Eu olho sempre tudo, gosto de tudo. Quando entro em um lugar, faço um raio-x de tudo que existe ao meu redor. É impressionante. Às vezes fico até sem graça, porque é instintivo. Olho do rodapé ao teto. Sou preocupado com uma linguagem, sei identificar o que não está feito direito ou que foi totalmente alterado. Quando fazemos um restauro, uma tapeçaria nova, tento deixar a peça o mais próximo da originalidade possível. Então, isso me chama muito a atenção. Está vendo aquela poltrona? (Aponta para uma poltrona perto de onde estávamos sentados). É uma Zalszupin forrada com tecido de nuvem. Como uma pessoa chegou em algum momento e resolveu colocar um tecidinho de nuvem em uma poltrona feita de couro há sessenta anos?
Excelente!
É muito doido isso, são modismos que passam. Oitenta por cento dos móveis que compro já sofreram algum tipo de intervenção.
Então existe um trabalho de pesquisa imenso?
Sim, e o material didático praticamente não existe. Quando vou comprar algo, de uma pessoa, por exemplo, fico batendo papo com a senhorinha, com o senhorzinho um tempão para pegar alguma informação nova, porque essas coisas não existem! A pesquisa é muito grande. Você vai procurar uma revista, às vezes, da época, uma Casa e Jardim, que existe há mais de cinquenta anos, a Casa Cláudia, ou então busco uma revista estrangeira mesmo. Existem fábricas aqui da década de 1920 que já faziam mobiliário moderno, mas pouca gente fala disso. Quando começaram a falar aqui no Brasil, o principal era o Warchavchik, que veio para cá nos anos vinte com a família, mas deve ter começado a trabalhar na década de 1940. O primeiro dado de que falam é que o Warchavchik começou a fazer o móvel modernista para combinar um pouco com a arquitetura que estava sendo feita na época. Mas Niemeyer também, Sérgio Rodrigues, Lúcio Costa, todos eles fizeram um pouco de mobiliário para acompanhar a arquitetura que faziam.
Mas, se Warchavchik começou a produzir nos anos 40, quem são essas pessoas dos anos vinte de que você falou?
Móveis Cimo, que era uma loja em Lageado, no Paraná, e já era uma fábrica da década de 1920. Essa fábrica funcionou por muitos anos, e é muito difícil encontrar um dado a respeito do design, de quem desenhou. Eles fizeram muitos móveis – não era um móvel superfino, mas teve uma inserção no mercado muito grande.
Como você formou sua equipe?
Está cada vez mais raro encontrar essa mão de obra. Antigamente era um ofício, as pessoas estudavam no Liceu de Artes e Ofícios para se tornar marceneiros. Um deles trabalha na parte de estofamento há mais de trinta anos, e o outro deve trabalhar com isso há quase trinta anos também. São pessoas que, com o tempo, vão absorvendo essas técnicas no trabalho de pai para filho. Eu me lembro que, lá atrás, quando fiz o curso de decoração e ainda nem sabia que iria trabalhar com o que trabalho, fomos visitar uma marcenaria, aqui perto de São Paulo, com a Etel Carmona (proprietária da Etel Interiores). Na época, ela havia pego grande parte do pessoal do Liceu de Artes e Ofícios e levado para trabalhar com ela. Me chamou muita a atenção, era um trabalho superartesanal, um trabalho de amor.
Tem um tapeceiro meu, baiano, que é muito cuidadoso. Ele pega o tecido e fala: “Ah, não, esse tecido é muito mole, vai acontecer isso e isso, tudo bem? Quero que você saiba.” “Esse tecido é muito duro, vai acontecer isso, porque a curva…” É uma pessoa que pega um móvel e não olha simplesmente como uma coisa que tem que cobrir de tecido. Olha com carinho, como um médico vai olhar para um paciente. Porque, muitas vezes, para essas pessoas mais antigas, a capacitação fazia parte do processo. Ele falou que trabalhou dois anos numa tapeçaria que até hoje é considerada uma das melhores de São Paulo, como assistente na mesa. Após dois anos, se fosse capacitado, aí poderia assumir outra posição. É demorado, toma tempo. Existem tapeçarias em cada esquina, restaurador de móvel em toda esquina, mas a pessoa às vezes não está preocupada com o que no móvel precisa ser feito, e faz de qualquer jeito, coloca um prego em um móvel que foi todo construído, colado e encaixado. É muito complexo, e de repente você detona, porque espana, estraga, muda a estética.
Sempre procurei saber pesquisando, perguntando. Às vezes você tem que trocar uma folha de uma madeira de um móvel, mas essa madeira não existe mais. Então às vezes você tem que comprar um móvel que está totalmente danificado, ou você procura o resto de uma peça, que foi abandonada em algum lugar, para poder restaurar.
Como você acha que o local de trabalho influencia a sua produção?
Ter espaço é essencial, porque consigo manusear com facilidade, e ver as peças de diversos ângulos. A minha área de trabalho sempre foi muito mais cheia, funcionava como depósito e restauro. Antes era tudo junto. Agora, com as áreas separadas, a produção fica melhor. Conseguimos ver melhor os defeitos, temos mais tempo para cuidar dos móveis e prepará-los bem para o mercado novamente.
Existe algum projeto específico pelo qual você tenha mais carinho?
Existe. Recentemente comprei uns móveis de uma senhora judia que sempre foi supercuidadosa com as peças. Ela encomendou um projeto de mobiliário do Tenreiro, em 1969, 70. Ela tinha um amor tão grande, sabia de toda a história. Foi muito legal bater papo com ela porque ela contou da negociação, contou de como foi feito o processo, como ele desenhou os móveis. Ela não estava interessada só em vender. Estava preocupada com o destino daqueles móveis. Eram peças de 46 anos, que nunca tinham sido mexidas. Comprei a casa toda.
Era tudo de jacarandá?
Tudo de jacarandá! Você vê o peso desse sofá? (Mostra o sofá em que estamos sentados). Está vendo? Tudo maciço, e tudo torneado. Imagina quantas árvores usaram para fazer isso, não existe mais.
Que coisa linda a estrutura dele por dentro.
É uma preciosidade. O trabalho do Tenreiro é um trabalho que não existe. É trabalho feito por artesões, trabalhos artesanais de séculos. No caso dele, a geração do pai dele era de marceneiros, o avô dele era marceneiro. É uma coisa que você vê a construção, o jeito, é tudo muito bem pensado. Ele não fazia o móvel só pela beleza. Fazia pelo conforto. O móvel dele é, muitas vezes, muito delicado também, mas, por exemplo, as cadeiras dela, ela soube cuidar muito bem, e estavam todas intactas. É lógico, um verniz está feio, ou outra coisa. Mas é coisa simples de corrigir. Acredito que o móvel do Tenreiro é o móvel brasileiro mais inspirador. O móvel mais bonito.
Teo, existe alguma peça de desejo que você procura e até hoje não encontrou?
Existe. A cadeira de três pés do Tenreiro. Essa eu gostaria de ter para mim, que é um móvel raro, feito numa edição superlimitada. Desde que comecei aqui, já chegaram pelo menos umas três na minha mão, mas vieram réplicas, não as originais.
Falando dessa questão da réplica, que é uma boa discussão – que, por um lado, democratiza a possibilidade de pessoas poderem ter…
Mas, quando falo da réplica, é quando alguém produz dizendo que é original, e não uma releitura.
Existem pessoas que acabam extraindo um jacarandá (jacarandá está em extinção, e não pode ser mais usado para fins comerciais) que existe por aí ainda, ou uma madeira muito similar ao jacarandá, e produzem móveis dizendo que são originais. Inclusive, recentemente, um artista plástico comprou as cadeiras e eu falei: “Essas cadeiras já vieram para mim, e não são originais. Não tenho por que te falar que é original, não estou querendo acabar com o seu tesão pelas peças”. Mas existe uma turma aí, de bons marceneiros, que está fazendo para ganhar dinheiro.
É porque uma coisa é réplica, né?
É, e uma outra coisa é uma releitura. Eu acho que a releitura faz parte. Acho que é bacana que o trabalho de um designer, depois de ter caído no esquecimento por décadas, volte à tona, como foi o caso do Sério Rodrigues e do Zalszupin, que ainda está vivo. O Sérgio Rodrigues teve altos e baixos enormes na vida dele. Uma pessoa que ficou durante um bom tempo sem nada. E uma pessoa que sempre foi supercriativa, premiada, mas de repente é esquecida. Acho que democratizar o design é importante, mas uma coisa que eles não vão conseguir é a qualidade. Incentivar esse mercado paralelo de madeiras que não existem mais também, porque é totalmente insustentável. A madeira certificada brasileira, que é plantada para produzir a madeira maciça boa, praticamente 90% vai para fora do Brasil. E é um processo que é tão caro que a indústria nacional não consegue absorver. Os lotes bons, as melhores pranchas de jacarandá, iam para a Escandinávia, não para cá.
Você troca bastante as coisas da sua casa?
Moro num apartamento que é dos anos 60, e que até hoje não reformei. Ele está com as paredes originais, as tomadas originais. Tenho que fazer uma reforma nele, mas fico um pouco tenso de ver essas mudanças muito grandes, fico um pouco preocupado. Mas tudo tem uma evolução.
E quais seriam as suas maiores fontes de inspiração?
Acho que a minha família é uma das minhas maiores fontes de inspiração. Tanto meu pai como minha mãe foram pessoas que trabalharam a vida inteira, sempre gostaram do que faziam, e ficaram orgulhosos do que me tornei independente do que tivessem traçado na cabeça deles.
Sempre gostei muito de antiguidade, isso veio muito da minha mãe, ela gostava muito. Lembro que em Araçatuba tinha uma mulher chamada Tereza Cacarecos e que minha mãe adorava ir na tal da Tereza Cacarecos. Era uma mulher que juntava coisas, ia nas fazendas lindas de Minas Gerais, comprava tudo, e empilhava tudo na casa dela – parecia com isso aqui que vocês estão vendo. (Aponta para o galpão de centenas de móveis que ainda serão restaurados). Era uma diversão ir até lá, nem que fosse para tomar um café com aquela senhora. No dia em que minha mãe falava que iríamos lá, ficava sentado na cadeira esperando ansiosamente. Minha mãe sempre gostou muito de reciclar coisas – sempre foi preocupada em reutilizar coisas que talvez já não tivessem mais uso, não jogava nada fora. Venho pensando muito nisso. Talvez o meu gosto venha muito daí. Acho que o design, de uma maneira geral, me inspira.
Conversa Polivox: Márcio Oliveira
por Revista Amarello
Márcio, como e por que surgiu o convite para fazer o show em homenagem aos 10 anos da revista Amarello?
Semanas depois de assistir à apresentação de Tramundo, na Casa de Francisca, em São Paulo, Tomás [Biagi Carvalho, editor da Amarello] me procurou para contar que estava desenvolvendo um trabalho audiovisual sobre Os Sertões, mais precisamente sobre “A terra”, primeira parte do livro de Euclides da Cunha. Ele comentou que havia pensado em utilizá-lo como espetáculo na comemoração de sua revista. Foi nesse momento que veio o convite para realizar a curadoria e participar da direção artística desse show, chamado A primeira chuva não molha. Acredito que o convite tenha vindo porque Tramundo também fala a respeito de um Brasil profundo, sertanejo.
Como será e do que se trata o show?
Apresentei inicialmente para Tomás alguns artistas que trabalham com essa temática e por quem tenho grande admiração. Nesse processo, surgiu a ideia de criar um show envolvendo três coletivos cariocas que dialogam muito entre si: Tramundo, Selva Lírica e Pietá. Conversando com Marcos Campello, Claudia Castelo Branco e Fred Demarca [integrantes dos grupos citados] sobre como seria o espetáculo, decidimos rever o nosso repertório, selecionar algumas canções que envolvessem o tema proposto e, a partir dessa ancoragem, começamos a estruturar um roteiro que apontasse para as várias leituras de “A terra”. Ou seja, expandimos o repertório para, à nossa maneira, falarmos de diversos aspectos que envolvem não só Belo Monte e o semiárido nordestino, mas também as múltiplas visões do que é o sertão e o povo sertanejo. Nesse processo, optamos por amalgamar os três grupos e formar uma banda de onze músicos: Zé Manoel, Lívia Nestrovski, Juliana Linhares, Ilessi, Fred Demarca, Rodrigo Maré, Claudia Castelo Branco, Fred Ferreira, Marcos Campello, Thiago Thiago de Melo e Rafael Lorga. Fizemos um entrecruzamento total, tanto de repertório quanto de músicos.
Você pode falar um pouco dos artistas que participarão do show?
De início, a escolha foi bastante intuitiva. Com o tempo, porém, percebi que acabei criando um recorte da cena musical carioca – uma cena que me atrai bastante, tanto estética quanto afetivamente. Para mim, esses artistas são o que há de mais interessante e vigoroso no Rio. Claro, muitos não consegui inserir no projeto, caso de Thiago Amud, Vovô Bebê, Luisa Lacerda, Julia Vargas, Aline Gonçalves, por conta das limitações do próprio show. Durante esse processo, fiquei um pouco ressabiado por colocar tantos cariocas para falar de sertão. Afinal, dos onze, apenas Zé Manoel e Juliana Linhares nasceram no Nordeste. Mas, nesse meio-tempo, acabei lendo Sertão, sertões: repensando contradições, reconstruindo veredas (Elefante Editora , 2019), um livro com diversos artigos que expandem a obra de Euclides. Em um dos textos, é explicado que o termo favela tal qual o conhecemos hoje surgiu por conta da Guerra de Canudos: os soldados ficaram boa parte do combate alojados no Morro da Favela, que levava esse nome por conta das faveleiras (Cnidoscolus quercifolius) que havia por lá. Ao voltarem para o Rio, aguardaram do Estado a prometida terra que ganhariam em troca de terem ido à guerra. Logicamente, a promessa não foi cumprida, e os soldados foram morar no (atual) Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro. Lá, a região foi apelidada de Favela. Essa informação me fez perceber a enorme ligação que há entre Canudos e o Rio de Janeiro, principalmente as favelas e periferias. O sertão é periferia, é o que está à margem, o que deve ser escondido, evitado, suprimido. Isso me fez perceber que minhas escolhas faziam todo sentido.
Qual sua relação com o tema escolhido para a edição e para o show?
Como mestiço, gay e de origem periférica, o estar à margem é algo que sempre me atravessa. A luta histórica pela terra e pelo reconhecimento de uma existência são questões que me tocam profundamente. O apagamento é algo, para mim, aviltante e asqueroso. E é disso que Os Sertões fala. Mesmo a primeira parte do livro, “A terra”, gira em torno de uma concepção absolutamente positivista, impregnada de darwinismo social. Tudo isso é algo que atinge a mim e aos meus de modo muito forte.
Você falou que não havia muitos artistas nordestinos e que isso seria uma preocupação para falar do sertão. De fato, os artistas são oriundos da canção autoral de classe média, residentes no Rio. Qual a relação deles com o tema do Brasil profundo? E, mesmo, qual a sua relação, para além do sentimento de ser periférico? Você acredita que só pode falar do sertão o sertanejo? O lugar de fala é imprescindível?
Na realidade, a história dos artistas envolvidos nesse projeto é muito diversa, e nem todos moram na Zona Sul. Seria um equívoco fazer esse tipo de simplificação. Rodrigo, por exemplo, mora no Complexo da Maré. Ilessi, até bem pouco tempo, morava em Jacarepaguá e, hoje, mora no Grajaú. Além disso, muitos deles são descendentes de nordestinos e nortistas. Seria cansativo falar aqui a respeito da ligação de cada uma dessas figuras com o universo sertanejo. Na verdade, acho que é algo extremamente pessoal e subjetivo. No meu caso, minha família é toda de Itaperuna, divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Nasci em Nova Iguaçu e morei por lá até os 20 anos. Trabalho como professor há quase 30 anos na rede estadual e sempre atuei na periferia: Parque União, Vila Isabel, Méier, Pilares, Encantado, Inhaúma, Bancários, Morro do Borel etc. Já tive alunos mortos tanto pela polícia quanto pelo tráfico. Há pouco tempo, um dia após a eleição do Bolsonaro, dois alunos LGBTs, negros, foram violentamente espancados. O genocídio está aí, promovido pelo Estado. Ontem, foi em Belo Monte, hoje é na população negra e periférica do Rio. Veja, nós estamos aqui conversando basicamente por conta de uma obra que representa a perspectiva e a voz do vencedor. Mesmo que Euclides tenha ficado atordoado com a carnificina que presenciou durante o conflito, ainda assim Os Sertões é fundamentado pelo seu olhar de ex-aluno da Escola Superior de Guerra e de jornalista d’O Estado de S. Paulo. Não estamos aqui por causa das anotações de Conselheiro ou de qualquer registro de João Abade, Pajeú, Maria Bibina, Pedrão, Manuel Quadrado e Macambira (moradores de Belo Monte). Não mesmo. Por isso a importância do lugar de fala. É indispensável ler e ouvir o outro. Dar espaço para que se tenha acesso às mais diversas narrativas, às mais diversas vozes. E, principalmente, dar espaço a quem, historicamente, sempre foi calado e invisibilizado.
O que você está fazendo especificamente no show e o que o Tomás está fazendo? Como ficou a divisão de tarefas?
Tomás é o diretor geral e divide a direção de arte comigo. Eu fiquei mais voltado para os músicos, criando, em parceria com eles, o roteiro do show, acompanhando os ensaios e supervisionando o figurino. Tomás acompanhou um pouco esse processo e está mais voltado para a parte audiovisual do projeto. Na semana passada, foi para o sertão baiano fazer as filmagens para o espetáculo.
Fala um pouco sobre a ideia do Tramundo, que, como você disse, deu origem a esse espetáculo.
Tramundo é um show inspirado na obra de Guimarães Rosa, onde tento aproximar seu universo à cultura e às religiões de matriz africana. Faço a direção e sou o letrista das canções. Hoje, penso que Tramundo foi a forma que encontrei para retomar o contato com minhas raízes e minha religiosidade e, ao meu modo, honrar meus antepassados.
Originalmente publicado na edição Terra
Assine e receba a revista Amarello em casa
O Masculino — Amarello 36
por Revista Amarello

O Masculino
Em sua edição 36, a Amarello faz um convite à desconstrução do conceito de masculinidade, a fim de imaginar um mundo mais plural e equilibrado.
O Masculino recebe o psicólogo José Ernesto Bologna como editor convidado e apresenta capa de Gal Marinelli e Rodrigo Pinheiro.
Garanta a sua edição
O masculino transpassa as distensões que existem entre gênero, sexualidade, sexo biológico e, inclusive, a ideia de feminino. Pensá-lo para além do homem é fundamental para romper com o esmagamento que a ficção da masculinidade impôs, e ainda impõe, ao mundo há séculos.
O feminismo expõe a violência inerente ao paradigma heroico e o velado desdém do patriarcado pelo universo das mulheres. O novo masculino parte daí, e está essencialmente ligado às movimentações sociais.
A associação do masculino ao homem macho, se é que um dia funcionou, não funciona mais. A quebra da performatividade dominante nos sugere que os homens podem encontrar novas formas, mais complexas e livres, de desfrutar e se conectar com o seu interior.
Falar do masculino não é falar somente do gênero, mas de um jeito de estar no mundo: múltiplo e difuso. A divisão rígida entre homem e mulher, masculino e feminino, é uma construção social que precisa ser atualizada. Para isso, é importante ampliarmos o nosso limitado espectro de diversidades e possibilidades destinadas ao existir. Estar no mundo é encarar, diariamente, nossa vulnerabilidade. Encarar fantasmas e preconceitos impostos pela sociedade construída pela masculinidade dominante, permitindo-nos estar abertos aos movimentos que a vida nos propõe.
Esta edição é um convite à desconstrução, um ponto de partida para homens, mulheres e pessoas não binárias escutarem o seu masculino, de forma que naturalizemos a desconstrução a fim de conseguirmos, de fato, habitar um mundo mais equilibrado.
Precisamos dar exemplos melhores e mais reais do que significa ser masculino para as futuras gerações.
Tomás Biagi Carvalho
Dedico esta edição a Thiago Blumenthal, colaborador de longa data e intelectual brilhante, que nos deixou precocemente em novembro deste ano. Sua partida deixa saudade e, sem dúvida nenhuma, o mundo menos interessante.
Arquitetura Rural e os novos modelos de vida
por Revista Amarello

Idealizada como a expressão de uma concepção de vida, a Arquitetura Rural busca soluções para integrar o mundo rural aos desafios atuais.
Leia a conversa com a arquiteta e fundadora Martina Croso Mazzucco
Normalmente, pensamos a arquitetura como um termo associado ao mundo urbano. O que é a Arquitetura Rural e como ela nasceu?
A “arquitetura rural” é uma expressão da minha pessoa, porque eu sempre fui muito ligada à natureza, à biologia, sempre gostei muito de estudar as plantas, os animais, o céu, a água, o solo, e, quando eu comecei a estudar Arquitetura, percebia que ela não ia até esse ponto. Na Arquitetura se fala muito sobre bem-estar social, sobre as dimensões humanas, sobre conforto ambiental da construção, mas a gente não amplia isso para como criar essa ponte de integração entre as pessoas e o ambiente natural, o mundo natural, ou como a arquitetura se integra a isso, porque ela não é – ou não deveria ser – uma cápsula isolada do resto do planeta. Então, como pensamos esse fluxo entre esse o ambiente construído e o meio biológico? E também pensando nas pessoas que vivem nesse espaço, porque acredito que as pessoas constroem seus pensamentos, seus valores, seus sentimentos, muito a partir do ambiente que elas habitam. Como que a gente incentiva isso, para as pessoas se integrarem melhor, ou se verem mais como parte da natureza? Foram essas as minhas primeiras reflexões logo que entrei na Arquitetura: que ambientes estamos criando? Essas reflexões me levaram a elaborar a estrutura teórica da Arquitetura Rural. Eu sempre vivi muito o ambiente natural, seja com a minha família, seja com o esporte. Há dez anos, comecei a frequentar a Serra da Mantiqueira e passei a perceber como a Mantiqueira estava mudando em decorrência da visitação de turistas – e o que são essas casas turísticas que ocupam a paisagem natural de repente, de uma forma um pouco congelada, sem um desenho que reflita a complexidade do ecossistema. Um dos motivos disso é porque temos poucos especialistas focados em desenhar o território rural. A partir dessas reflexões, entendi que queria desenvolver uma arquitetura voltada à propriedade rural como um todo. Fazemos o projeto de reflorestamento, restauramos as nascentes, criamos um sistema agrícola vivo, que respeite o solo, que respeite a biologia, e a arquitetura é um reflexo disso, dessa integração. A arquitetura precisa vibrar essa intenção de integração.
Existe um termo dentro da arquitetura para lidar com o mundo rural?
Não, não existe. O nome Arquitetura Rural nasceu de uma forma quase ingênua, porque veio de uma arquitetura que tinha vontade de trabalhar com a área rural. Mas eu sinto falta também desse termo, um conceito de “ruralismo” que pudesse dialogar com o urbanismo. Na faculdade, o mais próximo disso era a arquitetura vernacular, que é a arquitetura dos povos, digamos assim. É a arquitetura feita pelas pessoas, sem o auxílio dos arquitetos, o que significa ser basicamente o que vemos no planeta inteiro fora das cidades: arquitetura indígena, arquitetura islâmica, arquitetura dos povos inuítes, etc. Nessa arquitetura, é possível perceber uma integração muito forte entre o objeto da construção e o ambiente no qual ele se encontra. Isso acontece porque quem projeta a edificação é também quem a habita, então está tudo muito afinado nesse sentido. Não é alguém de fora que tem essa ideia e implementa, é a própria pessoa que, a partir da percepção das suas necessidades e da percepção do ambiente, cria isso. A arquitetura vernacular me inspirou muito na construção da Arquitetura Rural.


A Arquitetura Rural nasceu logo após você sair da faculdade?
Não. Eu me formei e trabalhei com projetos de revitalização urbana de espaços subutilizados, e abri uma ONG que se chamava Nomas com outros cinco parceiros. A gente começou com a ideia de se tornar um braço de uma ONG estrangeira que se chama Architecture for Humanity, mas o processo de representar a organização aqui se tornou muito burocrático, então resolvemos desenvolver uma iniciativa própria com a intenção de revitalizar espaços urbanos que estavam subutilizados. Durou dois anos, mas nunca me encontrei muito na cidade. As coisas não faziam sentido de uma forma tão clara. Foi quando entendi que a Arquitetura Rural era o que me motivava, isso em 2016.
Como é o processo de trabalhar em um empresa que converge conhecimentos tão independentes como arquitetura, ciência da terra e economia?
A economia é uma parte fundamental, porque desenha os espaços físicos, desenha os ambientes, sejam eles ambientes naturais ou não. Quando comecei a estudar a fundo a agricultura – e a agricultura no nosso país é uma porção enorme da nossa economia –, eu percebi que é necessário entrar no desenho econômico e nos fundamentos da economia: que tipo de economia, com base em quais princípios, em quais valores, em quais ideias de lucratividade, crescimento e expansão estamos trabalhando. Você precisa estar atento a tudo isso para entender como desenhar e materializar esses sistemas. Além disso, a grande maioria dos nossos clientes são pessoas que querem mudar de estilo de vida, em uma transição para o mundo rural, e quais os caminhos possíveis a partir daí. Então você tem que auxiliar essas pessoas a identificar e criar novos nichos econômicos nesse novo território que elas querem habitar. Em geral, são dois os perfis que nos procuram. Aqueles que estavam no mundo rural mas tinham uma cabeça mais tradicional, uma abordagem mais convencional, de agrotóxicos, monocultura e tal, e que, de repente, se viram diante de uma nova geração – por exemplo, a fazenda foi herdada pelos filhos, e os filhos começaram a trabalhar esse novo olhar, a entender que alguma coisa tinha que mudar. Assim como recebemos clientes urbanos que querem ter um novo estilo de vida e buscam isso no campo. Normalmente, esse segundo grupo tem uma mentalidade radical, que vai da forma como você se alimenta até a organização do seu dia. Por isso, eu sempre falo que esse processo é um desenho de modelo de vida. Você vai revisitar muitas coisas com os clientes – quais são os conhecimentos que você tem hoje e quais conhecimentos você precisa adquirir para manejar essa propriedade de uma forma integrada.
Em média, quanto tempo leva essa transição?
Vou dar um exemplo. A gente está desenvolvendo o projeto de uma agrofloresta numa propriedade em Itu, que está na família há quarenta anos. Eles estavam até pensando em vender essa fazenda, mas a pandemia os obrigou a passar mais tempo nela. Isso fez com que olhassem para ela de outra forma. Eles ligaram querendo fazer um projeto pontual na casa, mas a conversa evoluiu e passou a ser sobre a propriedade como um todo. Estamos estruturando um sistema agroflorestal que será um novo sistema econômico para a família. Começamos a trabalhar com eles há seis meses, e agora eles estão lá praticamente diariamente construindo, montando a agrofloresta. Eu diria, então, que essa transição pode acontecer em uns seis meses, porque não é apenas um projeto de arquitetura. Uma coisa é idealizar um projeto, outra coisa é implantar. Na implantação de uma propriedade rural, as escalas são muito maiores, então as ações que você toma – a não ser que você seja uma pessoa com um poder aquisitivo enorme, e mesmo assim não é indicado fazer uma transformação tão brusca –, você começa aos pouquinhos. Você começa adaptando um sistema aqui, fazendo uma construção ali, regenerando uma nascente, redesenhando a estrada, restaurando a floresta. São vários projetos dentro de uma propriedade rural. É uma coisa orgânica. Porque o ideal é que você também cresça com o projeto, você também se transforme como pessoa e passe a entender o funcionamento do ecossistema. Não é como uma construção, que você entrega a chave na mão do proprietário e isso está finalizado.
Depois de apostar no boom urbano dos anos 70, você acha que o Brasil está reencontrando o seu interior, que é a própria essência desse país tão verde e natural?
Eu acho que o planeta está passando por isso, na verdade. Você vê em várias partes do mundo as pessoas voltando para o mundo rural e se interessando por ecologia, alimentação, na própria saúde, nas práticas naturais. É um movimento mundial e no Brasil poderíamos estar vivendo isso mais intensamente, especialmente se considerarmos o potencial que temos para abraçar isso como um estilo de vida, abraçar essa biodiversidade, como caminhos econômicos reais e viáveis, vivendo isso no nosso dia a dia. Mas, sem dúvida, acho que muita coisa mudou, e isso já está acontecendo.
Você sente como se houvesse um preconceito no Brasil com esse mundo rural? Um entendimento equivocado de que ele é menos desenvolvido e sem conhecimento?
Eu vejo que o mundo rural às vezes é tomado por um conceito um pouco marginal e alternativo. Acho que são estereótipos que a gente constrói e que precisam ser revistos. Porque, por exemplo, na nossa abordagem de trabalho, não tem nada de alternativo no sentido “hippie” da palavra, sabe? Trabalhamos de uma forma muito consciente, muito precisa, muito pé no chão. A gente olha para a natureza não somente através da ótica romântica, mas tentando entender o valor biológico dela, para a nossa sobrevivência, para a estabilidade do planeta. Talvez falte desmistificar o lado romântico disso e ver como uma coisa do nosso dia a dia mesmo. Eu vejo que as novas gerações estão chegando com outro olhar, com uma visão de muito mais naturalidade para esse assunto. Falar sobre natureza no dia a dia é normal, biologia não é uma disciplina à parte, é tudo que a gente vive. Então acho que isso deve estar cada vez mais integrado às nossas conversas, aos assuntos que a gente lê e pesquisa e entra em contato, na mídia, não só no setor de ciência do jornal, mas como um assunto que encontramos nas notícias, assim como cinema e arte.

Além da arquitetura vernacular, quais as principais referências para montar a Arquitetura Rural?
A arquitetura islâmica tradicional, com sua estética detalhista e diversidade de materiais, sempre me chamou a atenção. Em seguida, me deparei com a arquitetura islâmica rural e passei a estudar muito as estruturas feitas de terra. Como trazer conforto ambiental para construções no meio do deserto? Como captar e utilizar a água em ambientes extremos? Passei a estudar também a arquitetura indígena, que foi referência para um dos nossos projetos, a Cabana OCA; e a arquitetura dos inuítes, que vivem no ártico, seus iglus e como eles trabalham a questão térmica dentro de construções de gelo. Além dessas referências, a permacultura é uma base teórica fortíssima dentro do nosso trabalho, porque ela faz a integração das várias disciplinas no desenho do território e na construção de modelos de vida. Estudei também ecologia – ecologia pura, processos biológicos e processos hídricos. A verdade é que combinei vários conhecimentos que se prestam a entender como as pessoas de diferentes partes do mundo, fora das cidades, fora do ambiente pós-industrial, vivem, produzem seus alimentos, se organizam socialmente e constroem suas casas.
Quais são as principais tecnologias utilizadas nos projetos?
Do ponto de vista do planejamento, trabalhamos muito com desenhos de sistemas hídricos e tecnologias biológicas. Pensamos como a integração da vegetação com o relevo e com a água pode produzir um ambiente de qualidade; como o consórcio entre plantas vai contribuir no aumento e na potencialização do sistema agrícola, por exemplo – isso é uma tecnologia, no sentido de que é um entendimento de como esses componentes naturais se integram e potencializam esses espaços. Do ponto de vista construtivo, a gente procura muito trabalhar com tecnologias de construção de terra ou madeira. E no aspecto mais tradicional, utilizamos o ArchiCAD, trabalhando com o planejamento em 3D da propriedade. Fazemos muitos desenhos a mão, muitos registros fotográficos, muita análise de dados de satélite e estudos de referências bibliográficas.

No contraponto dessa ideia de tecnologia, há algum saber ancestral envolvido e praticado?
Muitos, pois fui aprendendo no dia a dia, estudando e conversando com as pessoas. Eu acho que você nunca aprende tudo na sua área de atuação. Pelo menos eu percebi isso trabalhando com arquitetura rural, que a gente é muito interdisciplinar e multidisciplinar. Buscamos constantemente referências da física, biologia, ciências agrárias, economia, ciências humanas. Não poderia dizer que há um saber que fez toda a diferença. Como sempre dizemos ao apresentar a Arquitetura Rural, ela é um design de sistemas integrados. São vários sistemas pensados de forma unificada e interconectada.
Entre os projetos, qual foi o mais difícil de ser implantado?
Certamente, o primeiro projeto foi um dos mais desafiadores. Eu estava num momento de tentar assimilar todo o processo. Apesar de saber a direção a seguir, ainda sentia uma insegurança sobre todas as ferramentas que precisaria. Além, é claro, de entender quais outros profissionais eu precisaria ter comigo para concretizar a visão de desenho integrado de uma propriedade. O projeto era o de uma propriedade rural de três hectares em São Bento do Sapucaí. Para um ambiente rural, é uma escala pequena, porém significa a transição de uma família que queria deixar a cidade para viver no campo. Quando começamos a desenhar o sistema, a área era um descampado com 30 mil metros só de passagem. Eu olhei para esse lugar e pensei, “nossa, como que a gente vai restaurar esse sistema? Como vamos criar o que eles querem – uma casa e uma pousada? Quais serão os valores dessa pousada? Qual será a experiência desse espaço?” A ideia foi construir um sistema agrícola que abastecesse a casa e a pousada, assim como uma área de reflorestamento que evoluísse para uma floresta natural. Nela, eles teriam uma área de manejo sustentável, em que viriam a utilizar a madeira de alguma forma, economicamente, no futuro. Planejamos o sistema hídrico, como a água seria captada, utilizada e reabsorvida através do sistema de esgoto. Abordamos a propriedade tanto na parte conceitual quanto na materialização da obra. No momento, estamos desenvolvendo um sistema agroflorestal para ser implantado numa região que vem passando por mudanças climáticas muito fortes, no interior de São Paulo. Atualmente, ele sofre com períodos de estiagem de seis meses e clima muito seco. O desafio desse sistema agrícola é como responder tanto às mudanças climáticas de hoje quanto às que virão. Ali, estamos trabalhando na modelagem da terra para captar a água da chuva no terreno, e a utilização de espécies que estejam adaptadas a cenários extremos. Em paralelo, pensamos no desenho social – quem serão as pessoas que vão cuidar dessa propriedade, com qual frequência e quais conhecimentos.
Onde se localiza a maioria dos projetos?
Temos um projeto no Tocantins, dois na Bahia e muitos aqui no Sudeste. Temos também um em Brasília, que foi fruto de um concurso.

Em um país com grandes diferenças econômicas, sociais e de pensamento como o Brasil, você acha que essa concepção de integração homem-natureza ainda é vista com preconceito ou desconfiança?
É uma pergunta difícil, mas eu acho que, talvez aqui, no Sudeste, tenhamos uma abertura maior para essa ideia. É possível que em outras regiões isso seja conversado mais como uma prática ancestral, ligado, quem sabe, ao fazer dos antepassados. Sinto que o Sudeste aposta nessa informação de forma mais midiática, e é provável que a concentração de poder aquisitivo ajude a levar a ideia adiante, com pessoas adquirindo propriedades e criando esses empreendimentos nos últimos anos.
A Arquitetura Rural já pensou em operar fora do país?
Sim, algumas vezes. Sempre comentamos um dado interessante, que é o de que as cidades e centros urbanos ocupam 3% do planeta. É um dado chocante, porque, no nosso mapa mental, as cidades ocupariam tudo, mas, no mundo real, as áreas não urbanizadas são a vasta maioria do território terrestre. Nós entendemos ser um desafio fundamental a restauração desses espaços, porque são mais de 2 bilhões de hectares degradados no mundo, algo maior que a América do Sul. E quando me refiro a degradados, quero dizer territórios em processo de desertificação, com quebras do ciclo hídrico, quebra do ciclo dos nutrientes, territórios em que as pessoas precisam migrar para sobreviver. Por ser uma profissão essencialmente multidisciplinar, a arquitetura precisa assumir para si a responsabilidade de participar de projetos que promovam uma melhora nos ambientes e na qualidade de vida das pessoas. Eu vejo a Arquitetura Rural atuando na restauração de territórios e na construção de modelos de vida mais saudáveis e mais compartilhados, colaborando um pouco para a harmonia e a felicidade de todos.
Além dos projetos que realiza, a Arquitetura Rural também ministra cursos. Como eles funcionam?
Começamos a dar cursos em 2017, em parceria com o Instituto Terra. O Instituto Terra é a ONG do Sebastião Salgado, em Aimorés, que trabalha na revitalização e restauração da antiga fazenda da família. O instituto tem duas frentes. A produção de mudas para a restauração de nascentes na região — e eles têm um programa ambiental maravilhoso de conscientização da atuação nas propriedades da região — e uma frente educativa, que conta com um programa chamado NERE (Núcleo de Estudos em Restauração Ecossistêmica). Nessa frente, trabalham com aproximadamente trinta adolescentes durante um ano. É um programa em que eles ficam praticamente num internato, morando no Instituto Terra, e aprendem sobre diversos assuntos, como ecologia, agricultura, planejamento. Fazemos parte oferecendo um módulo de ensino sobre planejamento. A partir disso, começamos a oferecer cursos aqui em São Paulo também, na Escola de Botânica, e em algumas outras instituições parceiras. Normalmente, são workshops ou cursos de dois dias. No ano passado, realizamos um curso online chamado Introdução ao Planejamento de Propriedades Rurais. Ele é voltado para o público geral, interessado em aprender sobre o tema. Esse ano vamos lançar a segunda edição.
Saiba mais sobre a Arquitetura Rural

Após séculos de guerras, revoluções e disputas territoriais, que culminaram em nada menos do que no terror da 2a Guerra Mundial, a Europa parecia ter finalmente encontrado um caminho para o continente. Mesmo os desafios pontuais, representados tanto pela polarização da Guerra Fria quanto pela ascensão constante de grupos nacionais separatistas, não desmobilizaram a convicção em um projeto chamado União Europeia.
Diante de um período de bonança econômica, paz política e bem-estar social, a Europa começava a desconhecer a possibilidade de mudanças profundas na sua estrutura, quando o século XXI bateu à porta. Nele, o desafio inédito de lidar com o fluxo migratório de milhões de pessoas, oriundas em sua maioria da África e do Oriente Médio, em busca de melhores condições de vida.
Nesse contexto, Passport, do fotógrafo François-Marie Banier, é uma experiência de dar voz a essas pessoas, que são facilmente transformadas em números quando desembarcam nas fronteiras da Grécia e da Itália.
Conhecido no mundo cultural francês como escritor, ator e dramaturgo, Banier retrata os imigrantes nas ruas de Paris, de forma a evocar uma atualização visual e contemporânea de Os Miseráveis (1862), o romance clássico do seu compatriota Victor Hugo.
Concebido de forma a simular um passaporte, o livro se propõe justamente a denunciar o apagamento da individualidade daqueles que deixaram para trás suas identidades para recomeçar. A abertura, extraída da peça de Sófocles, Édipo em Colono, introduz a condição do estrangeiro, dando o tom para os versos livres de Atiq Rahimi. Escritor e cineasta afegão, Rahimi ilustra as fotografias reproduzindo a sua experiência como imigrante, após fugir de Cabul durante a guerra, nos anos 80.

Medo, preconceito, incertezas, peregrinação e busca por dignidade são alguns dos temas entregues ao caráter lírico de Rahimi. Se a experiência pessoal do afegão busca reconstituir o desejo e os sentimentos dos refugiados em território europeu, a nota final revela, por sua vez, o caráter contraditório da condição da própria Europa.
Assinada por Banier, o trecho final relembra o momento em que François se questiona sobre quem seriam esses homens, que, da noite para o dia, começaram a surgir nas ruas de Paris, ora na Place de la République, ora em frente à estação Gare de l’Est, e por vezes nas margens do Canal St. Martin. Quem são eles que ousam modificam o cenário desta França? Espelho de um continente fragmentado, em que franceses têm avós do norte da África; italianos, raízes austríacas; e alemães são filhos de turcos e húngaros, o espanto do autor está no próprio ato de ainda espantar-se com as próprias questões.
Esses homens somos nós.
Passport
de François-Marie Banier
Steidl, 2020
72 páginas
www.steidl.de

O Nordeste chega para ser realidade, desta vez na voz de Juliana Linhares. Mais conhecida como vocalista do grupo Pietá, a cantora estreia o seu primeiro álbum solo, Nordeste Ficção. Além de carregar a originalidade característica de Juliana, o projeto autoral busca resgatar as raízes de um nordeste afetivo, desapegado de estereótipos. Na conversa a seguir, Juliana nos conta a experiência de lançar o primeiro álbum, as suas principais influências e a sensação de trabalhar com nomes como Zeca Baleiro, Tom Zé e Chico César.

Mesmo tendo uma trajetória musical como vocalista da banda Pietá, como tem sido a experiência de encarar a estreia de Nordeste Ficção, o seu primeiro álbum solo?
Um disco solo é um aprendizado diferente. Já fiz alguns discos e, ao mesmo tempo que tem um lado que é rico, da troca, de não fazer as coisas sozinho, tem também o lado de você às vezes passar por cima de um desejo seu pelo coletivo. No disco solo, eu tentei ouvir muito os meus desejos e o que eu queria. Sempre fui uma pessoa muito da ideia do colaborativo, do trabalhar em conjunto, e eu não deixo isso de lado, mas eu quis muito olhar para mim, para a força que estava gritando aqui dentro, como eu me potencializo como artista através da minha voz e da minha música. Eu queria que isso fosse fluido, que me sentisse firme nas coisas que eu estava escolhendo. Então eu acho que está sendo muito interessante, porque você se conhece muito depois que o disco sai. E é muito rico o retorno, porque você não sabe muito bem quem você é quando o disco é lançado. Você vê que uma música ou outra é boa, mas não sabe muito bem como o todo vai soar. A escolha de realmente lançar um álbum inteiro traz isso, do olhar para a dramaturgia, para a obra, para uma história que você conta sem saber como vai chegar. E está sendo muito interessante ver minha história e minha trajetória chegando nas pessoas, sendo ouvida, compreendida e questionada.
A parceria com Zeca Baleiro resultou no single Meu amor afinal de contas, uma composição intensa, tomada por uma atmosfera lírica e teatral. Como essa música antecipa e dialoga com o álbum?
Eu acho que essa música antecipa o álbum, trazendo um compositor e artista nordestino que agregou à música brasileira uma obra que quebrava, e quebra, estereótipos da música tradicional nordestina. Então era uma coisa que eu queria. E a gente apostou numa composição que fosse mais densa, mais lírica mesmo, mais orquestral. Tem uns arranjos de cordas. Eu queria quebrar uma expectativa, também, de abrir um disco com uma música que já remete diretamente a uma imagem de um Nordeste que é mais estereotipado. Além, claro, de querer contar com o Zeca, que é um cara que tem um grande público e poder de abrir caminhos para o disco. Tudo isso ao mesmo tempo. O clipe, da mesma forma, veio nesse desejo de trazer um roteiro poético que construísse imagens diferentes das tradicionais remetidas pela ideia de Nordeste.

Tom Zé, Chico César e Carlos Posada também estão presentes no álbum. Como essas parcerias foram pensadas e aconteceram?
O Pousada é uma pessoa por quem eu tenho uma admiração muito grande há muitos anos. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu busquei. Em 2019, eu estava numa crise de garganta, perdi a voz, no meio da gravação do disco de Iara Ira, e mandei uma mensagem para o Pousada dizendo, “preciso fazer meu disco, preciso de um ponto de partida, estou querendo ouvir canções, você tem alguma coisa?” E ele me mandou umas canções e, entre elas, estava “Bombinha”, que é a música que abre o disco, não à toa. Foi a música que realmente abriu meu desejo com mais segurança, sabe? “Bombinha” foi a primeira música que eu escolhi desse repertório todo. Quando eu ouvi, eu disse “é isso”. É isso que eu quero cantar. E ela me deu um futuro. O Tom Zé veio através do Marcus Preto, que é diretor artístico do disco. Quando a gente conversou, ele teve a sensibilidade de sugerir, a partir da minha vivência na música e como atriz, uma canção. Ele falou: “Juliana, lembrei de uma coisa. A gente encontrou no rolo de fita do Tom Zé de 1972 essa música”. Quando eles fizeram um disco juntos, acho que foi o Vira Lata na Via Láctea, ele falou que o Tom Zé não curtiu a letra da música e preferiu mudá-la. E o Marcus chegou para mim com a letra original e falou: “eu acho que você devia gravar essa”. Eu ouvi e falei “caramba, que curioso, interessante isso, bate, gosto”. E o Tom Zé, para mim, era um símbolo tropicalista muito rico para essa desconstrução do estereótipo nordestino também. E aí eu juntei tudo. O Chico César é um cara que eu amo, admiro muito. Escutei Chico minha vida inteira. Meus pais, meu irmão, todo mundo que conheço é fã dele, sabe? E eu tive a oportunidade de fazer um espetáculo como alternante da Laila Garin em A Hora da Estrela, que estava em cartaz aqui no Rio, e o Chico fez a trilha toda da peça, inédita. Assim fui me aproximando dele, acompanhando mais de perto. O Chico já participou de músicas do Pietá também, então é uma pessoa que me inspira politicamente, poeticamente e no ofício da composição. Eu acompanhei o Chico durante a pandemia, e ele quase todos os dias postava um vídeo com música nova. E eu achei aquilo genial. Pensei “cara, vou escrever para ele, já que ele faz uma música por dia, quem sabe ele joga duas aí para mim, com as minhas letras?” E rolou. Foi muito legal.
Quais as principais influências que você levou durante a produção de Nordeste Ficção?
Eu acho que a música nordestina – digamos assim, quebrando esse estereótipo mas se utilizando dele – dos anos 70, Amelinha, Belchior, muito Alceu Valença, Elba e Zé Ramalho, Ednardo. Desde uma coisa mais Geraldo Azevedo, “Talismã”, mais mística, mais moura, até “Frevo Mulher”, da Amelinha, que eu queria no Nordeste Ficção, na música-tema. Então essas são as referências principais do disco. Abrindo para outras possibilidades, essas são referências que quando ouvia queria me transportar pra esse lugar. Queria lembrar disso em mim, desse fazer de Nordeste rock’n’roll, Nordeste quente.
“Eu gostaria de trazer um Nordeste cada vez mais amplo na cabeça das pessoas”

O que podemos esperar do novo álbum e como ele retrata Juliana Linhares em sua versão solo?
Eu acho que o disco é um convite a um diálogo sobre a invenção do Nordeste. Era o que eu queria, que o disco abrisse uma fresta, uma porta, para a gente conversar. Não que ele resolvesse alguma questão. Eu não me proponho a isso. Mas eu queria que o disco fosse uma brasa, sabe? Para a gente assoprar a fogueira dessa discussão sobre a invenção do Nordeste, para que as pessoas hoje possam, cada vez mais, olhar o Nordeste como um lugar múltiplo, rico, profundo, menos superficial e estereotipado, como a gente vê ainda hoje se repetir nas discussões, no imaginário. O nordestino ainda é visto de uma forma muito estereotipada, e às vezes muito inferior, e ainda submissa. Então eu queria que o disco fortalecesse a discussão sobre a pluralidade e a quebra desse estereótipo, lembrando que a região é uma invenção e, se ela é uma invenção, ela não existe. Mas ao mesmo tempo existe, não de uma criação natural, não fruto da natureza, e sim de uma escolha geopolítica mesmo. Fronteiras são escolhas políticas da humanidade, assim como os preconceitos. E eu queria que o disco abrisse um pouquinho essa luz na cabeça de quem fosse ouvindo, de quem fosse vendo a capa, “caramba, vamos ouvir, vamos pensar um pouquinho”. Eu gostaria de trazer um Nordeste cada vez mais amplo na cabeça das pessoas. E eu, como versão solo, estou ainda descobrindo. No meio dessa pandemia, tudo que eu queria era poder fazer show com o disco. Não vejo a hora de poder me colocar à disposição do público mesmo, da troca, do calor. Quero poder potencializar essa discussão a partir da minha presença, ao longo da minha trajetória solo. Essa discussão do Nordeste ficção, “Nordeste nunca houve”, como disse o Belchior.


Reprodução: Filipe Berndt
Pinacoteca de São Paulo inaugura exposição destinada a revisar a narrativa de artistas colocados à margem da história
Em cartaz a partir do início de maio, Enciclopédia Negra marca um momento importante na trajetória da Pinacoteca de São Paulo. Inspirada no livro homônimo de Flávio Gomes, Lilia M. Schwarcz e Jaime Lauriano, a exposição atua como um desdobramento do projeto editorial, ampliando o debate acerca de narrativas mais diversas e inclusivas.


A mostra apresenta 103 trabalhos inéditos, concebidos por 36 artistas contemporâneos, a partir das 550 biografias negras presentes no livro publicado pela Companhia das Letras, no início do ano. Organizada a partir de seis eixos temáticos — Rebeldes, Personagens atlânticos, Protagonistas negras, Artes e ofícios, Projetos de liberdade e Religiosidades e ancestralidadesproposta não apenas recupera, dentro das possibilidades, parte da invisibilidade social causada a nomes apagados ou nunca registrados na história cultural brasileira, como serve de manifestação dos interesses atuais da curadoria e de uma política mais heterogênea para constituir o acervo da instituição.
Para falar sobre esses assuntos, conversamos com o pesquisador e autor do livro , Jaime Lauriano, e a curadora da Pinacoteca, Ana Maria Maia.


Como nasceu a ideia da exposição Enciclopédia Negra e como se deu o processo de transportar o conteúdo do livro para o espaço da Pinacoteca?
Jaime: A ideia de realizar uma exposição com os retratos produzidos para a Enciclopédia Negra acompanha o projeto desde seu início, pois mesmo antes de pensarmos em quem convidaríamos para retratar os biografados, eu, a Lilia Schwarcz e o Flávio Gomes já sabíamos da importância de exibir as obras originais. Porém, ainda não tínhamos um formato que nos agradasse, porque não gostaríamos que as obras integrassem o acervo de um museu privado, ou então que o conjunto fosse desmembrado em diversas coleções particulares. Nosso maior receio era que se tornasse impossível a realização da exposição completa no futuro. Como sou conselheiro da Pinacoteca e conheço de perto o importante trabalho de renovação do acervo, propus que, junto aos artistas, doássemos os retratos para o acervo da Pinacoteca e montássemos uma exposição para mostrar a importância dessa doação para a história da Pina. Por isso, o que pode ser visto na exposição não é a simples conversão do conteúdo do livro em um espaço expositivo. O que se vê ao adentar as 3 salas destinadas à mostra é a ação conjunta de muitas pessoas que trabalharam arduamente para fazer, mais que uma exposição, uma importante intervenção na história da arte brasileira.
Ana Maria Maia: A Pinacoteca tornou-se parceira da enquanto a escolha de artistas e o comissionamento de obras estavam sendo planejados. Esse processo criativo resultou em 103 obras em diversas linguagens a serem doadas pelos artistas para o museu. Diante do conjunto, discutimos algumas premissas para iniciar a curadoria da exposição. Pensamos que, contrariando a lógica alfabética do livro, seria interessante agrupar as obras em núcleos temáticos, que enfatizassem aspectos e permitissem aos visitantes acessarem histórias de vida e luta afins, mesmo que muitas vezes ocorridas em momentos e lugares bem diferentes. Também pareceu imprescindível preservar o teor literário e discursivo da e, para isso, editamos pequenos verbetes que apresentam as personagens e podem ser vistos logo abaixo das obras. Por fim, destacaria o modo como procuramos aproximar a coleção que chegou com a Enciclopédia Negra (a dita Pinacoteca Negra) com obras que já pertenciam ao acervo do museu. Criamos uma sinalização gráfica para marcar as salas de exposição de longa duração com a presença de artistas biografados pelo projeto. Ainda para situar artistas biografados, e para estabelecer relações mais próximas deles com os núcleos curatoriais, trouxemos para as salas de exposição temporária estudos de Sidney Amaral e esculturas de Mestre Didi e Rubem Valentim. Além dessas obras, destaco a opção por mostrarmos a obra , um comodato do Museu Paulista, com autoria desconhecida, feita no século XIX, quando dificilmente uma pessoa com esse perfil de gênero e raça era retratada individualmente. A pintura apresenta uma mulher negra cuja caracterização mistura vestes de mulheres brancas de elite a colares de matriz africana e afro-brasileira. Apesar da natureza afirmativa da imagem, a autoria desconhecida faz perceber como as estruturas sociais e artísticas podem ter mantido essa identidade invisível por tanto tempo. Essa invisibilidade é muito significativa para se pensar a que contexto e herança se dirige um projeto como a Enciclopédia Negra.



A exposição exibirá um conjunto de 103 obras, de um total de 550 personalidades negras registradas no livro. Em que consistiu o desafio de realizar esse recorte e qual foi o critério utilizado para tal?
Jaime: Nosso principal desafio foi conseguir reduzir uma lista gigante, que conta com maravilhosas narrativas, para uma lista um pouco menor. Para isso, tivemos que adotar alguns critérios, que conduziram o recorte que podemos ver na exposição. Eu vou elencar, aqui, os principais critérios que utilizamos para escolher os biografados que seriam retratados. O primeiro deles foi escolher biografados que não possuíssem retratos, ou que, se possuíssem, não condiziam com a sua história de vida. Outro critério que adotamos foi buscar um equilíbrio de gêneros, porque queríamos, sempre que possível, fugir da obviedade de nomes – e por que não dizer de representações? –, da história do povo negro no Brasil. Mais um critério que posso destacar foi mostrar a complexidade das histórias da população negra brasileira; por isso escolhemos retratar diversas lutas, diferentes profissões e múltiplas formas de existência.

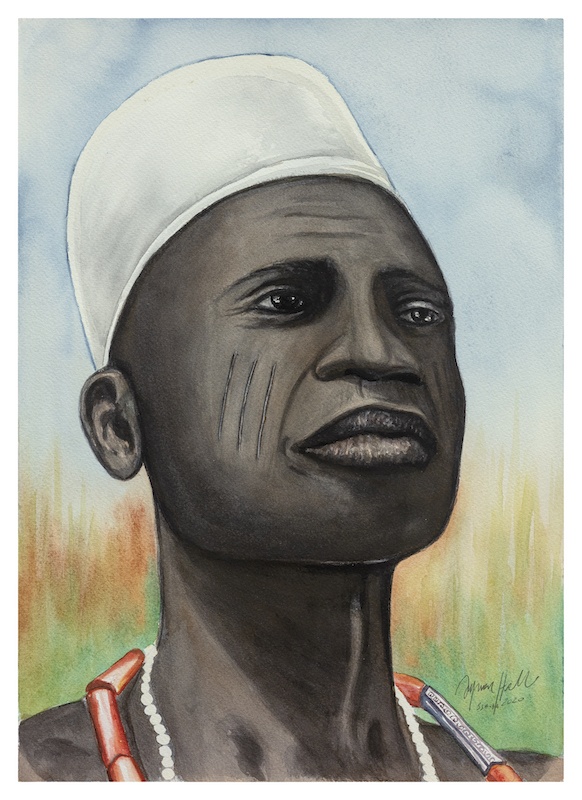

As obras são assinadas por 36 artistas contemporâneos. Como se deu a escolha desses nomes? É possível pensar um diálogo uniforme entre as obras ou cada artista produziu de forma independente?
Jaime: Desde o princípio do projeto, a descentralização do eixo Rio-São Paulo foi um dos fios condutores tanto para a escolha dos biografados retratados quanto para a escolha dos e das artistas que os retratariam. Por isso, pesquisamos em diversas fontes (mídias sociais, exposições, publicações e perguntando para nossos pares) nomes de artistas negros e negras de todas as idades e níveis de inserção no circuito institucional de artes e, principalmente, que residissem e trabalhassem fora do eixo. A partir disso, reunimos informações de diversos artistas e começamos a fazer uma conta que, no final, equilibrasse gênero, localidade, idade e inserção no circuito institucional de artes. Com isso, chegamos à lista de 36 artistas que compõe tanto o livro quanto a exposição .
Outro ponto importante de destacarmos aqui é que a escolha dos biografados retratados pelos 36 artistas se deu a partir do cruzamento da história da personalidade retratada com o trabalho e a história de vida do ou da artista retratante. Essa foi uma escolha curatorial; queríamos que a obra fosse produzida a partir do impacto desse encontro, pois assim o resultado seria um retrato com afeto (no sentido de produzir afetos múltiplos). Por isso, mesmo sendo 103 obras únicas e distintas entre si, podemos traçar alguns diálogos que norteiam toda a exposição/coleção. E o mais importante deles é que, em sua grande maioria, as obras refletem, também, a história de quem produziu uma imagem sobre a história de outra pessoa negra.
Talvez a principal diferença entre o livro e a exposição esteja no método de apresentação das biografias. Enquanto o livro segue a ordem alfabética, a exposição optou por seis eixos temáticos. Como esses temas se articulam e que história sua disposição pretende revelar ao público que visitar a ?
Jaime: Eu não diria que a divisão por núcleos seja uma diferença entre o livro e a exposição, pois todo o projeto foi pensado a partir desses núcleos. Porém, por se tratarem de mídias diferentes, a exposição e o livro têm particularidades que são impossíveis de serem replicadas. Por isso fica a percepção de que existem diferenças gritantes entre uma e outra. Falo isso porque o projeto se desdobra em diferentes frentes, e sempre que isso acontece todos os envolvidos pesquisam a fundo as particularidades de cada mídia que vamos trabalhar. Pegando como exemplo o que você apontou na sua pergunta, a é organizada alfabeticamente no livro, pois é assim que as enciclopédias são organizadas. Porém, ao expandirmos o conteúdo do livro para uma sala expositiva, tivemos que pensar como trazer uma outra forma de leitura para o conteúdo produzido, pois aqui o protagonismo é das obras originais. Por isso, precisamos, além de evidenciar os núcleos (que estão presentes no livro nos apontamentos de leitura ao final de cada verbete), adaptar os verbetes para textos que pudessem ser lidos em uma exposição. Essas e outras adaptações tornam o projeto um organismo vivo, que se molda ao mesmo tempo que transforma as estruturas com as quais se relaciona. Assim, constrói, a cada novo desdobramento, diversas possibilidades de contar e escrever a História do Brasil.


Nos últimos anos, a Pinacoteca, os museus e os agentes culturais como um todo estão fazendo sua parte para interromper e reparar uma história de invisibilidade evidente. De que forma podemos pensar a como um novo momento na trajetória da Pinacoteca em termos de exposições futuras, aquisição de acervo e formação de público?
Ana Maria Maia: Não sei se a reparação é tão simples e imediata assim, mas encarar o problema do racismo e do colonialismo nas diversas instâncias da sociedade brasileira é urgente, e cabe às instituições culturais fazer os movimentos que estiverem ao seu alcance, tanto na programação quanto nas suas estruturas de trabalho e poder decisório. A Pinacoteca tem vivenciado essa reflexão, o que envolve também pensar a história da instituição e o perfil do seu acervo. A gestão de Emanoel Araújo, entre 1992 e 2002, teve um papel fundamental na busca por representatividade negra. Nos últimos anos, criar bases para confrontar a prevalência da branquitude voltou a ser uma missão central do museu. Isso envolve refutar hegemonias, revezar vozes e paradigmas, tornar cotidianos não só a temática e tampouco só as obras, mas artistas, pensadores, curadores negros e negras, indígenas. A nova exposição de longa duração do acervo do museu, inaugurada em 2020, conta com obras de 26 artistas afro-brasileiros, enquanto a anterior só tinha 7. Apesar de ainda tímido em relação à presença de artistas brancos, esse número já é resultado de diversos esforços que a Pinacoteca tem feito e continuará a fazer. A programação de 2022 terá maior protagonismo de artistas negros, por meio de um projeto no Octógono e uma individual na Pina_Estação, de artistas cujos nomes ainda serão divulgados.
A mostra e a doação darepresentam um aporte muito importante para essa construção institucional. Ao trazer obras de 36 artistas negros e negras que, em grande parte, ainda não constavam no acervo do museu, o projeto cria uma intervenção imediata nessa representatividade. Para além dos números, o faz enfatizando um caráter coletivo, as possibilidades de articulação de artistas de diferentes gerações, regiões e circuitos. A rede, isso que chega ao museu junto com a , fica posta como uma estratégia contundente para se lidar com problemas de ordem estrutural, como a necropolítica e as diversas formas de invisibilização das populações negras e indígenas no Brasil.
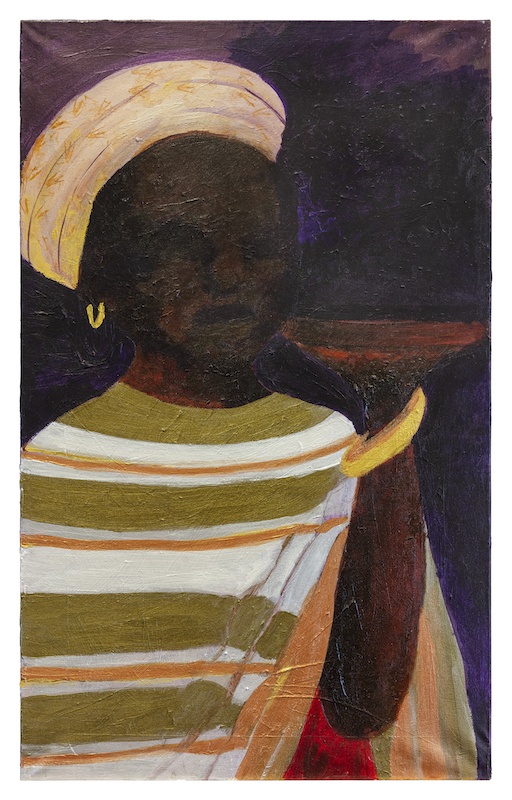


Exposição N
Pinacoteca de São Paulo
01.05.21 a 08.11.21
Curadoria: equipe do projeto e da Pinacoteca de São Paulo
Mais informações: www.pinacoteca.org.br

“A mais enxuta e gratificante crônica sobre a Paris da Geração Perdida”
Gerald e Sara Murphy foram um casal de expatriados americanos que se mudou para a França, após a Primeira Guerra Mundial. No Velho Mundo, tornaram-se o centro da boemia e da vida cultural do período de grande efervescência dos anos 20, os chamados “anos loucos”.
O casal vivia cercado de pintores, músicos e escritores. Entre eles, F. Scott Fitzgerald, seu hóspede mais assíduo, que se inspirou no casal para compor os protagonistas de “Suave é a noite”, publicado em 1934. Além do escritor e de Zelda Fitzgerald, as reuniões dos Murphys recebiam Cole Porter, Hemingway, Picasso — que retratou Sara em uma de suas pinturas —, Léger, Gertrude Stein, Cocteau e Satie como convidados assíduos.

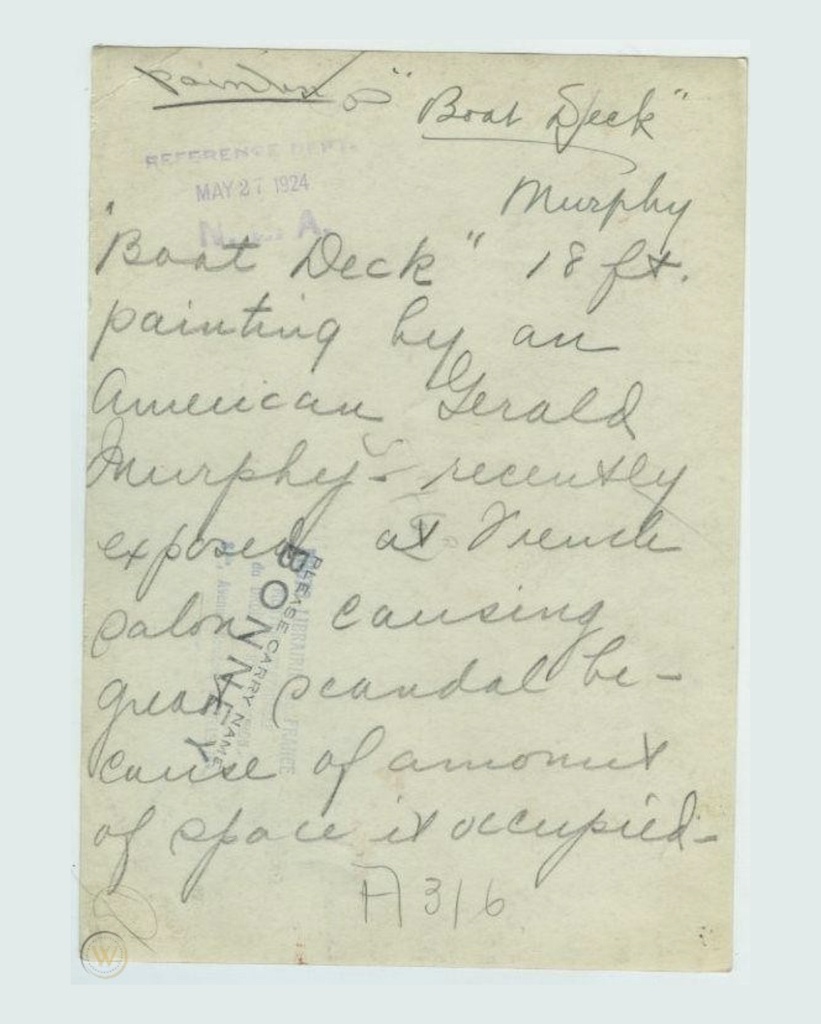
Entre 1921 e 1929, Gerald produziu 14 pinturas de objetos cotidianos, como lâminas de barbear, as engrenagens internas de um relógio e naturezas mortas de arestas duras e estilo cubista. Hoje, restam apenas 7 obras espalhadas pelo mundo. As outras, nunca mais foram vistas. Alguns dizem que sumiram durante a Guerra, outros que o próprio artista se desfez delas.


Nos anos 1960, pouco antes da morte de Gerald, seu trabalho foi reavaliado: de rejeitado artista bon-vivant, tornou-se precursor da Pop-art, pelo trabalho com temáticas da cultura pop, como os elementos mundanos, inspirados tanto nos comerciais de produtos americanos quanto na estética do design publicitário.

A história desse casal fascinante é contada — e um pouco romantizada, é claro — no delicioso livro Viver Bem é a Melhor Vingança, de Calvin Tomkins. Segundo o jornalista Sérgio Augusto, Calvin Tomkins escreveu nada menos que “a mais enxuta e gratificante crônica sobre a Paris da Geração Perdida e seu mais glamouroso casal de expatriados, Gerald e Sara Murphy”.

Alguns momentos nos marcarão mais do que outros. No caso de Lila, a cantora e compositora amapaense radicada no Rio de Janeiro produzia o seu primeiro disco, depois de uma série de e EPs nos últimos anos, quando a maternidade surgiu de forma a arrebatar qualquer prioridade. Neste instante, percebeu que não havia outro caminho senão o de recomeçar do zero, incorporando a experiência pessoal como matéria artística.
Destaque do cenário musical brasileiro desde o Prêmio Multishow, em 2015, quando figurou como artista revelação, Lila lança com Puérpera o seu aguardado álbum solo. Com produção de Diogo Strausz e Tomás Tróia e participações de Letrux e Ana Lomelino, o disco chega acompanhado de um zine digital, para complementar visualmente a proposta de um intenso percurso sonoro nas transformações do corpo e da alma. Ou, como Lila mesmo descreve a energia deste trabalho: “Puerpério é a vivência do luto da mulher que você era e nunca voltará a ser”.
Leia a seguir a conversa que tivemos com Lila sobre o processo criativo de Puérpera, e com Pepe Garcia, parceiro na concepção do zine.
Escute Puérpera aqui e leia o zine aqui.

“Sei que trago no corpo e na alma tudo que aprendi nesses três anos”
Como você enxerga o papel do feminino em Puérpera?
O Feminino é o princípio e o fim desse disco. A musa inspiradora e a arte criada. A fagulha e as cinzas. Uma tentativa minha de capturar, em forma de música e depois imagem, provas internas irrefutáveis da existência do númem Feminino Selvagem.
Você abriu mão de um um álbum que estava preparando para começar Puérpera do zero. Em que momento sentiu que abordar a maternidade e uma experiência tão pessoal seria o material que daria forma ao seu disco de estreia?
Eu estava já mergulhada na feitura de um disco, ou seja, imersa em processos criativos, quando me vi cercada de inspiração e sensações que precisavam ser transmutadas de alguma forma. Foi inevitável e imperativo que fosse sobre isso, e só sobre isso, o disco. Nada mais me dava tesão para criar e o que tinha feito até então já não tocava fundo a minha alma. Fazer arte pra mim é sobre dar vazão e transbordar o que tem te preenchido internamente. Um registro poético sobre o estado da sua alma naquele momento. É sobre o presente.
Como nasceu a ideia de convidar a Letrux e a Ana Lomelino para participarem do álbum? Como se deu o processo de trabalharem juntas?
Queria muito ter outras vozes femininas nesse disco. Ampliar as mulheres, suas falas e ideias dentro desse universo que eu estava propondo. Letícia e Ana sempre foram inspiradoras e muito poderosas para mim. Duas mulheres que, com sua autenticidade pessoal e artística, me moviam criativamente a cada show e troca que eu tinha com elas. Os processos foram todos à distância, mesmo antes da pandemia. No caso da Letícia, mandei a base musical para ela e expliquei um pouco do que eu estava fazendo no disco e ela me devolveu já com melodia e letra de um grande pedaço da música, fomos ajustando juntas até o fim da forma que está no disco. Já a Ana, fui trocando com ela ao longo do disco. Chamei ela para ser parceira em Lunação, mas quando mandei as idéias que eu tinha de letra e melodia ela me disse “essa música tá linda, mas já está pronta”. Continuamos trocando até que tive a ideia de que ela fizesse um texto para abrir a música da Letícia para que ela pudesse declamar. A primeira ideia que ela me mandou já foi essa revelação poética linda que está no disco.
A composição das letras foi surgindo aos poucos, durante as gravações, ou foi um processo intensivo, vindo diretamente do que estava acontecendo na sua vida?
Cada música teve seu processo e nasceu de um jeito, mas esse disco teve uma peculiaridade em comum muito desafiadora. Como já estávamos em estúdio produzindo outro disco, Diogo me propôs de começarmos as canções pelas bases musicais para que eu compusesse em cima delas. Seria uma forma de continuarmos com a mão na massa e eu poder, ao longo das minhas vivências, ir transformando tudo aquilo nas canções. Tomás e ele foram então estruturando toda parte de harmonia e beats e depois de algumas trocas e alguns dias de estúdio eu estava com umas sete bases para criar em cima. Um jeito novo pra mim de compor que acabou ressoando com toda aquela novidade de sensações e vivências. Claro que houve momentos difíceis em que achei que não fosse conseguir, mas os momentos recompensadores em que criei melodias e letras que traduzem exatamente tudo o que eu estava sentindo me fortaleceram como artista.

Os produtores Diogo Strausz e Tomás Tróia estiveram com você desde o início do projeto? Qual foi a contribuição deles para o resultado final?
Sim. Assim que decidi que ia começar meu primeiro disco com algumas canções que eu já tinha prontas, chamei o Diogo, que tinha acabado de se mudar para São Paulo, e ele achou que Tomás somaria muito bem para nossos processos. A amálgama criada por Diogo, Tomás e eu fez o disco ser o que é. Trocamos muito em relação às estéticas musicais e referências que eu gostaria que estivessem presente e eles, com suas sensibilidades, foram traduzindo e produzindo toda a parte musical para que eu pudesse criar as canções em cima. Algumas músicas eu interferi mais como em Puérpera e outras, eles não interferiram em quase nada como Criadora, mas a grande maioria das faixas já estavam bem próximas da versão final que está no disco. Pensando em retrospecto agora, acho que a principal contribuição deles foi terem tido calma e respeito para esperar esse disco acontecer. Foram quase 4 anos para o álbum ficar pronto e ser lançado e acho que o tempo foi fundamental para que ele fosse amadurecendo sem pressa e viesse ao mundo no tempo certo.
Puérpera chega acompanhado de um zine digital, do qual você assina a direção criativa junto ao Pepe Garcia. Além do evidente trabalho conceitual vigoroso e do diálogo com a natureza e o selvagem, como se deu o processo de criação e produção desse material visual? Quais foram as principais referências?
O disco ficou pronto no início do ano passado e seguramos seu lançamento por causa da pandemia. Mesmo pronto ele continuou amadurecendo dentro de mim. A pandemia possibilitou também um encontro entre a minha artista e a do meu companheiro. Eu e Pepe ficamos isolados na roça numa espécie de residência artística e nos jogamos nas experimentações sem pretensão de nada em especial. Com o tempo nossa linguagem foi amadurecendo, chamei Rachel Sioli, estilista, e minha irmã, Malu von Kruger, que é figurinista e carnavalesca, para trocarmos e produzirmos alguns figurinos com tecidos de carnaval que já tinha. Nossa ideia era produzir imagens simbólicas para criar um repertório que desse conta dos universos poéticos das músicas.
Pepe Garcia: Apesar da criação da zine ter sido feita muito em conjunto, ela estava totalmente a serviço da mensagem da Lila. Ou seja: quanto mais estivesse potencializando a mensagem do álbum, mais potente ela seria. Como convivo muito com a Lila, sei de todas as camadas que estão por trás das suas letras, e de como isso abriu muito a minha cabeça, conhecendo tão profundamente sua visão de mundo e da energia feminina que ela tem. Tudo na zine foi pensado para conseguir fazer com que muitas dessas mensagens fossem se sedimentando em camadas no que estávamos produzindo.
Como imagina que será o desdobramento e o impacto de Puérpera nos seus próximos trabalhos?
O processo de amadurecimento que vivi para produzir esse disco e essa zine ampliaram muito minha visão e atuação artística. Difícil pensar hoje em como será o trabalho de amanhã, mas sei que trago no corpo e na alma tudo que aprendi nesses três anos.

Além do talento para a dança, Mayara Magri demonstra habilidade para encurtar o tempo e o espaço. Foi assim que a menina, que ensaiou os primeiros passos apenas com a pretensão de melhorar a coordenação motora, transformou a obsessão por um vídeo em realidade: “eu era fascinada pelo DVD de La Bayadère, com Darcey Bussell e Irek Mukhamedov. Assistia sempre no Brasil, sabia de ponta-cabeça a coreografia”. Se nos primeiros anos em Londres, quando a jovem ainda precisava provar aonde poderia chegar, Mayara compensava a falta da família e a distância do Rio de Janeiro com ligações diárias pelo Skype, foi com o mesmo talento que fez do balé de Darcey Bussell parte do seu cotidiano, ao assumir o posto de bailarina principal de um dos palcos mais prestigiados do mundo, o do Royal Ballet.
Em uma conversa diretamente de Londres, Mayara nos contou um pouco da sua trajetória, do planejamento para alcançar seus objetivos e de como tem sido viver seu sonho de infância.
Mayara, como você ficou sabendo da sua promoção para bailarina principal do Royal Ballet?
A pandemia trouxe a incerteza também para dentro da companhia. Eu tive uma reunião com meu diretor em novembro do ano passado, e ele me falou que não tinha como ser promovida naquele momento. Eles estavam mandando muita gente embora, então era impossível, mas que eu estava no caminho, que não precisava me preocupar. Estou na nona temporada na companhia e posso perceber que ele confia muito no meu trabalho, até por ter feito vários papéis principais mesmo sendo primeira solista. Após o segundo lockdown em Londres, recomeçamos as atividades unindo vários programas e balés. Então, uma semana antes de abrir o teatro, em maio, ele me ligou e falou: “dá um pulinho no meu escritório, que eu quero falar com você”. Fiquei pensando: “tem apresentação hoje à noite, provavelmente vou ter que assumir o lugar da menina para quem eu faço o segundo cast”. Na minha cabeça, estava prevendo a desculpa que daria. Quando entrei no escritório, ele falou: “sei que a gente conversou em novembro passado, mas acho que consegui uma brecha e vou poder promover você. Vamos anunciar na semana que vem. Será para a próxima temporada, a partir de setembro”. Foi muito de surpresa. Ele não me deixou nem sentar na cadeira. Fiquei emocionada somente quando liguei para a minha família. Tem sido maravilhoso ainda não ter a pressão da estreia [a temporada de Mayara como bailarina principal inicia apenas em setembro de 2021], mas poder sentir as pessoas. Percebi a mudança de atenção há algumas semanas, durante uma abertura de Apollo. Eu estava de primeiro cast da Royal junto com o Vadim Muntagirov, que é uma estrela russa, e pensei: “nossa, nunca fiz este papel e estou sendo jogada na noite de abertura”, que é quando vêm as pessoas mais badaladas assistir. Foi ali que me atingiu a pressão. Mas eu tento ver de uma forma positiva.

Qual é a sua primeira lembrança envolvendo a dança?
Eu comecei aos 6 anos, e lembro de ter visto uma amiga fazendo balé na Petite Danse. Na época, eu fazia apenas umas aulas recreativas, para trabalhar coordenação motora, quando essa menina veio mostrar que conhecia uns passos diferentes. Foi aí que ela disse: “eu faço aula na Petite Danse, na Tijuca, pertinho da gente. Por que você não tenta uma bolsa?”. Coloquei isso na cabeça e fui perturbar minha mãe com essa ideia. Iniciei em um projeto chamado Projeto Social Dançar a Vida, pois meus pais não podiam pagar, inclusive porque éramos três irmãs, e o que uma fazia as outras também tinham que fazer. Minha família não tem uma história com o mundo artístico. Eu nunca tinha ido ao teatro ou assistido a um balé, mas sabendo desse projeto social, minha mãe arrumou a gente direitinho, de sapatilha, de collant, e fomos tentar uma bolsa. Quando chegamos lá, tinha se passado uma semana dos testes, muita gente tinha entrado. Por sorte, a dona da escola, a tia Nelma, que até hoje chamo de “Fada Madrinha”, aceitou dar uma olhada nas minhas irmãs e em mim. E ficou apaixonada pelo nosso potencial físico. Ganhamos três bolsas e começamos a estudar. A Petite Danse é excelente nisso, porque, mesmo sendo uma escola privada, ela consegue integrar os bolsistas nas turmas, então não há diferenças. O senso de inclusão é muito grande, o que se torna essencial nesse momento de diversidade que estamos vivendo. A partir de então, tudo se transformou. Comecei a viver o balé a toda hora, de uma forma muito intensa.
Quando percebeu que você estava dançando balé e realmente gostando?
Eu sempre curti muito a disciplina da técnica clássica. Sempre fui muito organizada com as minhas coisas, cuidadosa com os detalhes, e acho que essa característica funcionou muito no ambiente do balé. Foi aí que eu me encontrei, nessa forma de buscar o que é necessário para aperfeiçoar uma pirueta, por exemplo, ou como melhorar a flexibilidade. Esse sentimento de responsabilidade e disciplina que tem em mim me ajudou muito, desde pequena. Lembro até de pedir para minha mãe para deixar a aula de Educação Física da escola porque eu não queria virar o pé e me machucar por causa do ballet, não queria jogar vôlei de manhã e ter que fazer balé à tarde. Mas ainda tendo essa consciência de priorizar e focar, nunca imaginei que faria carreira no balé ou quão longe poderia ir. Mesmo a diretora comentando que eu tinha possibilidades de ter uma trajetória fora, isso sempre foi algo um tanto distante, tanto para mim quanto para minha mãe.
Dos oito anos que você passou na escola, quando sentiu que poderia realmente se tornar uma profissional?
No Brasil, a maneira como a gente treina passa por colocar a criança no palco o mais cedo possível para dançar, ganhar experiência e se soltar. Então, comecei a perceber o meu potencial através das competições regionais e nacionais, ganhando medalhas e ficando várias vezes em primeiro lugar. Mas quando competi internacionalmente, em Cuba, foi um baque, porque fiquei em segundo lugar. Depois disso, fui para Nova York, e também não ganhei nada. A partir daí comecei a pensar que, se eu quisesse realmente trabalhar fora do Brasil – que é onde podemos desenvolver o balé como carreira – era preciso me dedicar completamente e ter um planejamento. A decisão dos meus professores de me treinar para ir para fora ocorreu mais ou menos quando eu tinha uns 14 anos, junto com a patrocinadora que eu consegui para esses dois anos – uma mulher que era apaixonada por balé e esporte, apoiando jogadores de vôlei, nadadores, e queria também patrocinar uma bailarina. Lembro que foi a primeira vez que eu realmente sentei de uma forma um pouco mais profissional para discutir o que faríamos nos próximos anos e quais as nossas metas. E foi fantástico. A gente fez uma linha do tempo, e a Nelma [diretora da escola] falava: “ela vai para Joinville; ganhando em Joinville, ela vai para Córdoba; ganhando a competição de Córdoba, ela vai para o Prix de Lausanne. Quando chegar ao Prix de Lausanne, se ela ganhar, tem a opção de escolher para onde quer ir”. Quando essa trajetória se cumpriu, eu escolhi o Royal Ballet de Londres, mas não pude ir direto para a companhia, porque era muito nova. Fiz um ano na escola do Royal. Olhando para trás, parece até bizarro de acreditar que cumprimos todas essas etapas para as coisas darem certo. Quando se tem um foco, algo com começo, meio e fim, isso ajuda te direcionar em todos os sentidos.

Quando você pôde decidir para onde ir, surgiu a possibilidade dos Estados Unidos. Como foi a decisão pelo Royal?
Para mim, a decisão foi óbvia. Talvez por assistir a muitos vídeos do Royal Ballet. Mas a Patrícia [Patrícia Salgado, professora e ex-solista do Balé de Stuttgart] até falava: “não, o seu estilo é mais América, você tem que ir para San Francisco”. Quando perguntam por que não escolhi outra companhia, penso que foi porque botei na cabeça que queria o Royal e vim. Muito estranho. Eu acredito muito nesse negócio de energia, de destino, assim como não consigo me imaginar em nenhuma outra companhia. O início foi um pouco difícil. Precisei me acostumar ao estilo deles, com a metodologia diferente, sem falar bem inglês. Cheguei aqui sozinha e procurei não enxergar isso de forma negativa. Falava com minha família todo dia pelo Skype e procurei manter o mesmo foco de quando estava no Brasil. É normal imaginarmos, hoje, que ter feito o último ano na escola do Royal ajudou a me lapidar, mas acho que o meu diferencial está em ter tido muito mais tempo de palco do que todas as outras estudantes da escola. De certa forma, é triste, porque as minhas colegas passaram oito anos na escola do Royal, enquanto eu cheguei no último ano e ganhei o contrato. Éramos 15, e apenas duas conseguiram. A diferença do brasileiro é essa, ele não tem medo de palco. Essa confiança na apresentação vem desde muito cedo, no solo, na técnica, e isso entrega algo de diferente.
Como foi seu encontro e a adaptação à técnica inglesa de balé?
Foi bom ter vindo para Londres muito jovem, porque eu estava ainda nesse processo de aprender e me adaptar. E quando se mistura o jeito brasileiro de dançar com a técnica inglesa, funciona, porque, por um lado, os balés ingleses, de MacMillan, são muito reais. Há os clássicos, A Bela Adormecida, O Lago dos Cisnes, que são tradicionalíssimos e têm uma forma específica de serem feitos, e os balés do século XX, que são mais dramáticos e humanos, eu diria. Acho que, quando os brasileiros têm a oportunidade de fazer o Romeu e Julieta ou Manon, cai como uma luva. Você tem a técnica, que é ainda bem inglesa, quadradinha, até simples — não como a técnica russa, de perna muito alta, de saltar o máximo que conseguir. O estilo inglês é mais contido, e é fundamental o bailarino ter a capacidade de se adaptar, em todos os sentidos. Desde que eu entrei, a companhia mudou muito. Quem me deu o contrato foi a Monica Mason [antiga diretora do Royal], e minha primeira temporada foi com o Kevin O’Hare. Agora, nós temos uma variedade enorme de balés. Isso significa que você não faz tanto os clássicos, mas um pouco de tudo, inclusive os contemporâneos. Então é essencial ter essa habilidade de se adaptar a estilos, movimentos e tipos de dança diferentes. Essa versatilidade de se mover de várias maneiras é uma das principais características do bailarino brasileiro.
Antes de a pandemia fechar os teatros, vocês estavam ensaiando O Lago dos Cisnes. Como foi esse momento de interrupção e incerteza para vocês?
Faltavam duas semanas para minha primeira apresentação, que, no caso, seria o auge da minha carreira. O Lago dos Cisnes é realmente um marco para qualquer bailarina, e ficou tudo para depois. Pensaram em retomar entre o final do ano passado e este, mas perceberam que seria pouco tempo para entrarmos em forma tão rápido. Vai ficar para a próxima temporada, o que não é tão ruim, pois vou poder fazer com meu namorado, Matthew Ball, que é um bailarino fantástico. Talvez isso gere um pouco mais de pressão, por já ter de surgir em O Lago como primeira bailarina, mas é um balé que estou esperando muito para poder fazer, então será uma experiência incrível.
Você passou por várias posições no corpo de bailarinos do Royal. Qual foi a mudança mais significativa na sua rotina nessa evolução de responsabilidades até chegar a ser primeira bailarina?
Eu passei três anos no corpo de baile, fazendo tudo que era papel, enquanto eles me davam oportunidades, aqui ou ali, de fazer um solo em A Bela Adormecida, por exemplo. Nessa época, o trabalho acumulava, porque juntava a obrigação com o corpo de baile e mais esses extras, que você acaba aceitando porque quer mostrar que consegue fazer. Quando você se torna solista, a responsabilidade aumenta. No meu caso, foram três anos entre ser solista e primeira solista, algo complexo de conciliar, inclusive com as limitações do corpo, de encontrar um momento em que consiga estar satisfeita com o seu trabalho e não esteja com dor ou brigando com alguma lesão. Quando ainda era corpo de baile (chamamos aqui de um cargo elevado no corpo de baile), tive a oportunidade de fazer Myrtha, um papel importante em Giselle. Assumi a responsabilidade de fazer esse papel no primeiro ato e as Willis no segundo ato. Se só de ensaiar você já fica exausta, quando acumulei todos os papéis acabei me lesionando. Arrumei uma lesão no metatarso, fraturei um osso do pé e fiquei parada três meses por causa disso. E acontece muito quando você entra na companhia. Especialmente quando você é jovem, quer muito fazer tudo, e o corpo não aguenta. Foi minha primeira lesão, aos 22 anos. Conforme você avança no rank da companhia, as apresentações diminuem, você passa menos tempo no palco, mas os papéis se tornam mais difíceis e com mais pressão. Comentei com o Kevin, que é o nosso diretor, que eu não quero fazer menos papéis agora que sou bailarina principal, porque acho muito importante para o balé ter os bailarinos principais em outros papéis também; é saudável.
Falando em papéis, quais foram os mais marcantes na sua carreira?
Eu adorei fazer Kitri, em Dom Quixote, porque me identifiquei muito com o personagem. Era como ser eu mesma no palco, sabe? São três atos de pura energia, um balé bem virtuoso e técnico. No ano passado, fiz Coppelia, e curti muito viver essa história de garota jovem, que está amando pela primeira vez, que está sendo sapeca, brincalhona. Esqueci que estava no palco quando interpretei Swanilda. E adorei fazer Gamzatti, em La Bayadère, um papel incrível também. Outra dessas coisas do destino, aliás: eu era fascinada pelo DVD de La Bayadère, com Darcey Bussell e Irek Mukhamedov. Assistia sempre no Brasil, sabia de ponta-cabeça a coreografia. Cheguei aqui para fazer, e de quem era meu tutu? De Darcey Bussell. Dancei com o tutu da Darcey Bussell! Incrível a conexão. Ontem teve ensaio de palco de A Bela Adormecida, que a gente vai fazer só o terceiro ato nesse último programa, e quem faz o príncipe é o Federico Bonelli, primeiro bailarino aqui da companhia há vinte anos, um italiano maravilhoso. Ele estava ensaiando com uma bailarina nova, e eu olhei para ele e disse: “Federico, quando eu estava no Brasil, uns doze anos atrás, eu estava sempre louca com um DVD de Bela Adormecida com você a Alina”. E ele falou assim: “uau, e olha onde você está hoje”. A gente teve essa conversa, de perceber que loucura que é a vida, sabe?
Tenho certeza de que são esses momentos que tornam essa sua conquista tangível, não é?
Sem dúvida. Eu não sei se é porque agora eu estou meio que procurando por esse momento, ou seja, estou percebendo que não existem muitos momentos como esse que estou vivendo. Fico pensando, nossa, como que eu, nascida no Rio de Janeiro, vinda de uma família tão simples, acabei aqui, trabalhando nessa companhia e fazendo parte dessa vida superartística, única, diferente de todas as pessoas que eu conhecia antes.


Olhando para frente, quais papéis você gostaria de fazer?
A companhia aqui é grande, e eu estava sempre de stand-by para a Sugar Plum Fairy, a principal de O Quebra Nozes, e vou fazer, finalmente, em dezembro. Já tenho minhas apresentações marcadas. Outro papel que eu sempre quis muito é Julieta, em Romeu e Julieta do MacMillan. É um balé que eu sempre quis fazer, porque é dramático, e tão pessoal. A maneira como você interpreta, ninguém vai vir e assistir à sua apresentação e querer que você faça de uma maneira diferente. Acho que os balés clássicos, como O Lago dos Cisnes, A Bela Adormecida, têm essa pressão extra de que tem que ser dessa forma, a perna tem estar alta em certa altura, e às vezes eu fico um pouco aflita com isso, porque, por mais que você queira ter sua própria interpretação, você fica com aquilo na cabeça, um pouco presa à imagem que tem do balé. Mas os balés mais humanos são os de MacMillan. Você pode fazer da maneira que quiser e como estiver se sentindo no dia, sabe? Se quiser mudar tudo que estava pensando durante os ensaios e tiver algo diferente no dia, você faz. E ninguém vai te julgar dessa forma. Então estou muito animada para fazer esse papel. Acho que vai ser incrível.
Você comentou que vai mudar de partner para O Lago dos Cisnes. Como se dá essa escolha do parceiro de dança dentro da companhia?
É uma decisão do diretor de colocar uma pessoa para dançar com outra e ver se funciona. Depois de algumas apresentações, se as duas partes gostarem de trabalhar juntas, e o diretor entender que funciona, então a parceria começa a se repetir, a ficar mais fixa. Por agora, eu acho que ele ainda está testando. Os três papéis grandes que eu vou fazer na próxima temporada são com dançarinos diferentes. Mas a ideia é que, dentro de alguns anos, eu tenha um bailarino fixo para poder desenvolver uma parceria artística.
Em geral, o que tem inspirado você, tanto no mundo da dança quanto fora dele?
Nossa, muita coisa. Na dança, sempre tive meus olhos em Darcey Bussell, Marianela Núñez, essas bailarinas maravilhosas. Mas, agora que estou aqui dividindo espaço com essas pessoas, eu não consigo escolher uma delas para ser a minha ídola. Acho que cada pessoa tem algo diferente, em cada papel, que, se você é esperto o suficiente para perceber e colocar no seu trabalho, é muito legal. É difícil você ter um bailarino que consegue fazer tudo maravilhosamente bem, então cada um tem seu ponto forte em algum aspecto. Na vida, em geral, eu adoro dirigir por Londres. É tão calmo. Adoro meditar também. Viajo para o campo, e lá encontro uma paz maravilhosa. Eu e meu namorado também adoramos música clássica e vamos a uma casa de concertos que tem aqui. Desde a pandemia, a gente passou a curtir muito música clássica, então eu assinei a The Berlin Philharmonic e, nossa, adoramos assistir às sinfonias e buscar sobre os compositores. É algo muito ligado, também, ao que a gente faz, e às vezes eu penso que os bailarinos não estão tão conectados com a música da maneira que deveriam estar. Às vezes, ficamos muito focados na coreografia e esquecemos que, se você interpretar a música de uma maneira diferente, única, você consegue adicionar a essência que ela transmite para o passo que está fazendo. Isso é um aspecto que tenho começado a buscar. Comprei um teclado e tentei me ensinar a tocar piano, mas acho que é um pouco tarde para mim [risos]. Em Londres, ainda, tem toda a programação de museus, que é um tipo de inspiração muito rica. Para você poder criar as histórias na sua cabeça ao interpretar um papel, você tem que ter visto maneiras diferentes de se pintar, de se atuar. Você tem que ter provado disso para poder escolher como interpretar.
Você está evidentemente muito adaptada, Mayara. Se você gosta de dirigir na mão inglesa, então você passou no teste.
Minha mãe fala isso! “Você está muito inglesinha.” Mas realmente, agora minha vida está aqui. Estou até fazendo o curso da Royal Ballet School para ser professor.
Imagino que ensinar seja uma vontade sua para o futuro. No Rio de Janeiro ou em Londres?
O fato de estar aprendendo a ensinar me ajuda muito como bailarina, é algo que acaba funcionando muito para o meu desenvolvimento atual, inclusive no palco. Sobre ensinar e onde ensinar, bem, isso é uma ideia. É uma boa ideia, mas, por enquanto, fica para o futuro [risos].


O Rosto é o tema da nova revista Amarello. Nesta edição, convidamos a escritora Matilde Campilho e a artista visual Gabriela Machado para pensarmos a múltipla presença da face – e suas responsabilidades – na vida em sociedade, desde a expressão artística representada na pintura figurativa até o aprisionamento de dados resultante da biometria facial.
Garanta a sua revista Amarello O Rosto aqui.

A presente entrevista nasceu de uma parceria entre a Revista Amarello e um grupo de estudos intitulado Desbunde: corpo, cidade, canção. Trata-se de uma pesquisa interuniversitária, coordenada por Eucanaã Ferraz (UFRJ), Guilherme Wisnik (USP), Paola Berenstein Jacques (UFBA), Rafael Julião (UFRJ) e Washington Drummond (UNEB), que busca compreender as relações que se estabeleceram entre os corpos, as cidades e as canções no Brasil dos anos 1970, mais especificamente por meio do conjunto de manifestações comportamentais, filosóficas, culturais e artísticas associadas à ideia do “desbunde”. As questões foram formuladas pelo grupo, em colaboração com Bruno Cosentino, também pesquisador de canção popular e parceiro frequente da Revista Amarello. Em seguida, foram enviadas a João Paulo Reys, o produtor que vem sendo fundamental para o processo de organização e divulgação da obra de Jorge Mautner, que também contribuiu com suas perguntas e colocações para a entrevista que segue.

PRA ILUMINAR A CIDADE
Seu primeiro disco se chamou Para iluminar a cidade, de 1972. Vamos então começar conversando sobre as cidades pelas quais você passou e a sua história com elas. Onde você mora agora, Mautner? Como tem sido a sua relação com as cidades em que você vive nos últimos anos?
Moro no Rio de Janeiro e aqui fiquei durante a quarentena, no meu apartamento. A minha relação com as cidades é relacionada primeiramente, e segundamente (risos), aos seus habitantes. Então, nesse Brasil, seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, seja Recife, você encontra os brasileiros que gostam de histórias, gostam de anedotas, é o Brasil que me alimentou, desde pais de santo até ateus geniais. Não há limite. O próprio Brasil, ele é o mais original dos países.
Você passou a sua infância e a sua adolescência entre o Rio de Janeiro e São Paulo, nas décadas de 1950 e 1960. Como foi crescer nessas duas cidades, nesse período?
Uma coisa é que no Rio tinha o mar e em São Paulo não tinha, mas tinha outras coisas que compensavam o mar. As pessoas. A minha história é… por exemplo… vou contar direito, olha só: do um ano de idade até sete anos de idade… Minha mãe estava paralisada. Então quem cuidou de mim era minha babá, que era mãe de santo. Então, durante cinco, seis dias por semana, ela era minha babá e depois ela me levava pro candomblé, onde eu ficava três dias no candomblé. Então, do um aos sete anos, a minha vida era essa. Eu não só participava das cerimônias; ela me botava no colo, os tambores tocando, e ela dizia assim: “seus pais vieram de um lugar de gente muito ruim, muito cruel, mas aqui você vai encontrar os seus amigos e suas amigas para sempre”. Enquanto os tambores tocavam, eu adormecia no colo dela. Depois da cerimônia, ficávamos mais dois dias lá, nos quais eu brincava com a garotada que era toda de etnia negra, mas eram meus irmãos e a gente brincava o tempo todo. E tinha uma vigilância da minha babá e de outros adultos também nas brincadeiras das crianças. Eu nunca vi coisa mais impressionante, educativa e amorosa.
Aí encerra essa fase e chega São Paulo. Como foi a experiência de mudança da cidade?
É o seguinte: meu pai era um gênio, mas ele era jogador. Viciado no jogo, roleta, tudo, ia para o Cassino da Urca. E quando ele teve dinheiro para comprar um apartamento para ele, para minha mãe e, naturalmente, para mim, ele foi para o cassino e torrou tudo. Aí minha mãe ficou… Nós tivemos que mudar do lugar em que nós estávamos, porque o dinheiro tinha ido embora, e fomos morar seis meses no Rio, na pensão de um cara chamado Dr. Frankestein. Acontece que nesse lugar, minha mãe já estava com ódio do meu pai e estava nessa pensão um alemão brasileiro, primeiro violinista do Theatro Municipal de São Paulo, Henri Müller. E minha mãe se apaixonou por ele. Se apaixonaram. Aí, de repente, eu tinha um novo pai e fomos para São Paulo. E em São Paulo tudo acontece. Porque, veja só, o meu padrasto, que era o primeiro violino, ele admitiu a presença do meu pai dentro da nossa casa! Então, tinha minha mãe, o ex-marido e o marido atual, e ela mandava nos dois. Então eu fui educado… Eu podia fazer tudo! Receber pessoas. Ideias avançadas de ambos os lados. Primeiro, do candomblé. Depois, deste meu padrasto genial que me ensinou violino, e o meu pai que era realmente um gênio de literatura, de filosofia e de ciência.
Nos anos 1960, você esteve nos Estados Unidos. Que cidades você conheceu? Nessas cidades você chegou a viver, a conhecer a cena underground americana?
Primeiro eu morei a maior parte em Nova York. Morei no Village, morei em outro lugar. Eu passei uns cinco, seis, sete anos lá, porque eu fui secretário literário do poeta laureado Robert Lowell, que por sua vez foi também do Ezra Pound e tudo. Em Nova York, eu encontrava com o grupo de brasileiros, entre os quais despontava o Neville de Almeida, cineasta. E era impressionante, porque era bem na Guerra do Vietnã, mas tinha uma barraquinha que era para dar dinheiro para favorecer a vitória dos americanos na guerra, isso em Nova York. Ao lado tinha uma tendinha, sei lá, espírita, e na outra tinha uma tendinha comunista…
De apoio ao vietcongue?
Exatamente. Na mesma calçada. Do Robert Lowell, eu tenho memórias incríveis e eu me admiro porque ele era fascinado pelo Brasil. Então, ele me pedia para contar histórias do Brasil. E tem uma pessoa, que é amiga dele, que é aquela poeta, Elizabeth Bishop…
Tem uma figura, Jorge, que eu acho que é importante nessa cena underground e bastante nova-iorquina, para ficar na coisa das cidades, que era uma figura que era uma espécie de decano dos undergrounds, porque ele era de uma outra geração, mas foi uma pessoa que você conheceu, que era o Paul Goodman, e se você pudesse falar um pouco das ideias dele…
Ah, sim. Outro grande. Eram pessoas quase cotidianas, o Robert Lowell e o Paul Goodman. O Paul Goodman foi muito, muito, muito, porque ele se interessava pelo Brasil e todas as ideias dele também estão, de certo modo, na minha obra literária. Me influenciou demais porque ele era à esquerda, né? Enquanto o Robert Lowell era da alta sociedade, que era outro mundo. Mas o Paul Goodman foi genial.
Tem uma outra cidade, que eu sei que você esteve, se você puder dar um pouco do relato, que foi Washington DC, que eu me lembro de uma história, se você puder contar melhor, que era um cara do Peace Corps, que você já conhecia do Brasil e você foi para a casa de um senador. Você se lembra dessa história? Um senador e o filho dele ouvia música negra, você ouviu rock em Washington…
Eu me lembro vagamente, mas é tanta coisa… Eu conheci Albuquerque, conheci o Texas, conheci o Novo México…
Foi quando você foi morar no Chelsea, não foi?
Foi, exatamente! Aí eu morava no Chelsea Hotel. Não era só um apartamento, eram três. Era de um grande amigo meu, que também faleceu, ele era pintor e paraplégico. E eu sou também massagista. E ele me encontrou assim: eu fui massageá-lo e aí começamos a conversar e nos tornamos amigos, e ele abriu aquele mitológico Hotel Chelsea pro meu pai morar lá e a Ruth também. Então no apartamento ao lado desse.
Essa figura, cujo nome eu não me recordo, mas depois eu sou capaz de me lembrar, ele era um cara muito rico, não era? Ele era mecenas, apoiava artistas…
Apoiava artistas… Bill Bomar (William “Bill” Bomar, 1919 – 1991). A terceira cidade principal lá do Texas era dele, Forth Worth. Ele era realmente muito, muito, muito, muito rico. Por exemplo, nós recebíamos as pessoas que vinham do Brasil, veio um grupo italiano, e tinha três quadros de Van Gogh, dois do Gauguin e de outros. A tal nível ele era milionário. E eu era massagista e escritor e então nós ficamos amigos. Eu fazia uma massagem que fazia muito bem para ele.
Há uma cidade que foi muito importante na sua trajetória. De uma certa maneira, a primeira cidade da contracultura brasileira foi Londres, porque lá estavam os exilados brasileiros, que se reuniam sobretudo em torno das famílias de Gil e Caetano. E a sua presença, Jorge, foi fundamental pelo intenso fluxo de ideias e também pelo mais significativo registro das movimentações do grupo no período, o filme O Demiurgo (1970). Você poderia falar um pouco sobre esse período?
Quem morava em Londres era um amigo meu, do Colégio Dante Alighieri. Um cara genial, o Arthur de Mello, com a esposa dele, Maria Helena. E eu estava em Nova York e ele mandou um recado: “olha, venha para Londres porque Caetano e Gil, por causa da Ditadura, saíram do Brasil e eles estão aqui quase hóspedes”. E aí eu fui para lá, com a Ruth, e então você imagina… Eu, a Ruth (minha esposa), com Gil e sua esposa na época (Sandra), e Caetano com sua esposa na época (Dedé), e o Arthur de Mello Guimarães com sua esposa. Então, a Londres que eu conheci era essa. Todos eles foram ver o festival da Ilha de Wight. Acontece que eu fui lá, mas só fiquei três horas. Eu não aguentei. Mas minha esposa ficou, Gil ficou, Caetano ficou e o grande amigo meu e grande pensador Claudio Prado teve a iniciativa de chegar para os diretores do festival e dizer: “Olha, chegaram os maiores músicos do Brasil. Eles têm que se apresentar”, e ele nem sabia. Então, ele conseguiu fazer com que Caetano e Gil subissem ao palco e foi um estrondo de sucesso.
Jorge, e lembrando O Demiurgo, no qual você registra muito aquilo em Londres… aquelas casas, as pessoas, o parque, o porto… Você se lembra um pouco disso? Da feitura do filme em Londres?
Eu pouco focalizei em Londres. Eu ligava só para o Brasil. E a história com o Caetano e Gil, como eles estavam exilados, tinha que ser uma linguagem muito alegórica, com frases subversivas encapuçadas ou mimetizadas ou assim… Gil é o Deus Pã, e Caetano é o Demiurgo, o que é verdade. Então o Arthur de Mello Guimarães participou, minha esposa participou, foi uma coisa incrível. E eu fiz isso com o dinheiro que eu tinha ganho da época de Nova York. Então eu que investi tudo para fazer esse filme. E prontamente o Gil, o Caetano e todos os outros que estavam lá deliraram com a ideia e toparam fazer.
Seguindo novamente no trajeto das cidades, Jorge, você saiu de Londres e aí, logo que você voltou, no início dos anos 1970, você foi conhecer a Bahia. O que você se lembra desse encontro com a Bahia pós Londres?
Primeiro que eu já era amigo de Caetano Veloso e de Gilberto Gil e suas esposas. Então, de repente, ao chegar em Salvador, eu disse: “Aqui é o ápice de tudo!”. É isso. E o tempo todo, realmente, é o Brasil em sua negritude máxima, de cultura infinita e principalmente de carinho humano, de compreensão, de risadas… Imagina só… A Bahia… É com Jorge Amado… É uma coisa que eu sou baiano por adoção, né? E realmente os candomblés de lá… Por exemplo, Filhos de Gandhy… Gil e eu, nós fizemos uma passeata enorme dos vários sábios da sociedade então incluindo… Enfim, aí nasceu uma amizade eterna, porque eu os encontrei na casa do Arthur, onde meu pai começou a falar dos números, do zero e tudo…
Este período da virada dos anos 1960 para 1970, no Brasil, é frequentemente referido pelos historiadores como a época do desbunde. Para você, no seu entendimento, o que foi o desbunde e como foi a sua experiência desse momento?
O desbunde foi a democratização. Eu estava muito bem de tudo. De dinheiro… Houve uma reunião na Venezuela e foi lá que eu conheci o grande poeta Robert Lowell, que logo me nomeou secretário dele e então eu pude ficar muito tempo, aliás, sempre, com artistas, filósofos, e o Neville de Almeida… Nós bolamos fazer o filme, que chama Jardim de Guerra. O Neville de Almeida já morava em Nova York e…
Você falou que o desbunde foi a democratização, mas você pode falar um pouco do que eram as atividades de vocês aqui, durante aquele momento, o que que vocês pensavam, quais eram os valores… O que queria dizer essa ideia do desbunde?
Eu voltei para o Brasil porque eu já era do partido comunista e eu vim e era secretário literário do Robert Lowell, que foi de Ezra Pound e eu fui dele. Mas eu desisti de ficar nessa beleza de plenitude… Porque eu recebi o recado de que era necessária a minha volta para a democratização. Por isso eu voltei. E a primeira conversa foi com Golbery do Couto e Silva. E o Golbery disse: “escreva como será a democratização”. E saíram os Panfletos da Nova Era, que foram editados pelo jornal de notícias e depois publicados em livro.
Então, isso que se chama de desbunde, esse movimento cultural, artístico, no seu entendimento aquilo ali foi a democratização. O desbunde era um desmonte da estrutura autoritária.
Isso.
Tem uma história que eu sei que você conta bem, que é importante pra você… Em uma época em que o direito de reunião das pessoas era muito limitado por causa da ditadura, o fato de que os eventos culturais e os shows eram oportunidades para que as pessoas se reunissem, se encontrassem. Você pode falar um pouco disso? A realização dos eventos e esse papel duplo…
A democratização se fez através da música popular. Quando eu vim para o Brasil, e o Golbery pediu para eu escrever como seria, era uma ordem e uma permissão dada para fazer justamente isso. Então coincidia ali a necessidade histórica daquele momento e uma coisa que sempre existiu, que era essa cultura brasileira da umbanda, do candomblé, do frevo, do xaxado, do miudinho.
Eu me lembro de um contato importante que você conta que foi a uma feira no Parque Ibirapuera onde você viu o maracatu…
Ah, sim! Isso foi no quarto centenário. Foi a primeira vez que vieram dos estados do Brasil os grupos musicais característicos desses estados e o maracatu do mestre Capiba. “De São Paulo de Luanda, me trouxeram para cá… eeeee” [cantarolando]. Então, quando eu vi isso, eu vi que São Paulo… E quem me revelou como escritor foi o poeta Paulo Bomfim, cuja maior obra é a saga em poemas dos bandeirantes.
O KAOS, A FILOSOFIA E A ARTE

Você fez a trilogia do Kaos nos anos 1960. Deus da chuva e da morte (1962), Kaos (1964) e Narciso em tarde cinza (1966). Mas essa ideia, do Kaos (com K) acaba atravessando as suas canções, o seu filme O Demiurgo e as suas conversas filosóficas. Qual é a história desse seu conceito de Kaos com K? Ele foi se transformando ao longo do tempo? Hoje é outra coisa, é a mesma coisa?
Kaos com K, começou sendo o partido político. Kaos. E tinha quatro definições. Kaos de Kristo ama ondas sonoras; Kamaradas anarquistas organizando-se socialmente; Kolofé Axé Oxóssi Saravá; e a última cada um colocava a sua.
Ou seja, era um conceito que já era aberto…
Exatamente isso!
Mas Jorge, a dissolução do partido do Kaos e o seu ingresso no partido comunista não significam o encerramento, para você, do Kaos enquanto conceito…
E nem para o partido comunista! Eles adoravam a ideia porque eles queriam sair do realismo socialista. Eles queriam essa ideia do Kaos.
O Kaos tem alguma coisa a ver com a curtição, com a coisa da contracultura da época dos anos 1960, especialmente 1970? Como o Kaos se materializa no corpo, na canção, na cidade?
Olha, o Kaos é tudo. A imperfeição. Não existe uma formiga igual a outra. É tudo. Não tem a generalização abstrata, então o Kaos tem várias interpretações, como eu disse: K de Kamaradas anarquistas organizando-se socialmente; Kristo ama ondas sonaras; depois vem Kolofé Axé Oxóssi Saravá; e a outra cada um colocaria a sua. Então é nessa dimensão de liberdade, multiplicidade e simultaneidade das coisas. Os opostos não apenas se atraem, eles são enlouquecidamente apaixonados.
Como o Kaos se relaciona com o mistério?
O mistério é tudo, porque tudo é misterioso. O mistério desvelado revela três mistérios. Três resolvidos produzem quarenta, e assim vai. E o Brasil não oficial, o Brasil do candomblé, da umbanda, da quimbanda, dos indígenas… Esse é o Brasil mais avançado que existe. São mentes iguais à de Einstein. E chega a ser grotesco a falta de escola. Mas eu vou repetir uma coisa importante para mim: a principal coisa foi a seguinte… Quando houve a abolição dos escravos que fizeram tudo, Joaquim Nabuco e os irmãos Rebouças disseram: “Não, isso não é libertação de escravos. Tem que haver a segunda libertação dos escravos”, que inclui reforma agrária e educação. Então, reforma agrária para que todos os escravos brasileiros pudessem comprar uma terrinha, ser gente; e depois da reforma agrária, a educação. Do jardim de infância até o diploma universitário, tudo de graça e da melhor qualidade. Esta é a segunda abolição, apregoada pelos irmãos Rebouças e por Joaquim Nabuco. E para impedir que se desse essa segunda abolição é que o exército derrubou o Império. Enquanto o Brasil não fizer isso, exatamente isso, essa segunda abolição, reforma agrária e estudo do jardim de infância até a universidade grátis para todo o povo brasileiro, se não fizerem isso, o Brasil se perderá. Mas eu acho que isso acontecerá. Talvez imposto pelos estrangeiros que vierem para cá… Olha só, esse incêndio do Amazonas já criou… Eu sei que tem um tratado de que se continuarem a incendiar a Amazônia, virão a China, a Rússia, a comunidade europeia e os Estados Unidos ocuparem a Amazônia.
A sua abordagem de temas místicos, religiosos ou míticos é uma mirada, é um olhar político-cultural ou é um olhar existencial-metafísico?
É tudo isso junto. As coisas não são separadas. Isso é uma bobagem cartesiana. É tudo simultâneo e nada é igual a nada. É ao mesmo tempo, é simultaneidade.
Você também, desde antes, sempre abordou muito fartamente as questões de gênero e de sexualidade na sua obra de modo geral – incluindo as canções, as performances, etc. O Kaos com K também se relaciona com esse debate, da identidade de gênero e da sexualidade?
Para nós era óbvio ululante que qualquer prática sexual é uma obtenção do prazer… Não tem lero-lero em cima disso. Isso é gozado… (risos) E o Brasil tem o carnaval, tem Jorge Amado, Guimarães Rosa… Tem tantos poetas geniais e eu recomendaria que lessem, de Gilberto Freyre, China Tropical.
Quando você começou a escrever literatura, você já compunha canções, apesar de só ter gravado discos mais tarde. Como que foi acontecendo essa sua relação, de um lado com a literatura, do outro com a canção popular?
Nunca houve separação. Uma coisa levava às outras. Os músicos adoravam e adoram histórias de política, histórias de literatura, histórias da mitologia. Só que não chegam a conhecer. Só que quando conhecem são essas conversas que interessam todo mundo até hoje, pessoas desde o Robert Lowell, Gilberto Gil, Caetano, Luiz Melodia, Wally Salomão… É tanta gente que mora dentro de mim, porque a primeira categoria de tudo é o amor. É a solidariedade sem palavras. E é o mais profundo dos mistérios.
Dos inúmeros livros que você escreveu, gostaríamos de destacar o Fragmentos de sabonete (1976), e o Panfletos da Nova Era (1980), pois nos dois você elabora uma defesa da canção popular brasileira aglutinando tanto a velha guarda – Ismael Silva, Wilson Batista –, quanto os então novos compositores – como Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil – ou os ainda novíssimos, como em sua defesa do trabalho de Luiz Melodia. É intenso o debate sobre a canção brasileira no período através de livros e artigos em revistas e jornais de grande circulação. Como você vê essa relação da canção popular com o debate público? A que você atribui essa posição de destaque que a canção tem nos debates midiáticos sobre a cultura daquele momento e ainda de hoje?
Porque ela, além da letra, transmite a música e permite a quem a ouve ter suas próprias ideias encadeadas com o que a letra está falando. E mais ainda, tudo é música. Por exemplo, Einstein, quando não conseguia resolver um problema, pegava o violino e tocava, dormia e nos sonhos surgia a resposta. Assim que é. Então, a música ao mesmo tempo é um carinho, uma compensação, é o fim das mágoas, a superação delas, reconhecendo-as mas transfiguradas de que alguma coisa vai melhorar. Alguma coisa foi muito importante. Essa divisão das coisas interessa mais ao mercado capitalista, só isso.
A gente debate a literatura, as canções, a política. E a filosofia? Entra aonde no meio disso? Como você acompanhava o que estava saindo, o que era relevante?
Eu leio; li muito. Não se pode ler tudo, mas eu li os livros principais da cultura russa, da cultura alemã, da cultura francesa, da cultura portuguesa… e aqui dos grandes autores brasileiros, que estão até, não só na literatura, mas nos batuques, no candomblé, eles estão na umbanda. Então o que dirige o Brasil é isso. Na verdade, o governo e as decisões de cima são frágeis e pálidas intenções, são de uma fraqueza monumental. E o medo de que os escravos… Porque para mim não houve abolição da escravatura, tem que ter a segunda abolição, se não, não é ainda. Ainda é um país de escravos.
O seu primeiro instrumento musical emblemático é o violino, e não uma guitarra elétrica, como foi de muitos. Você começou a contar a sua história com esse instrumento, mas você poderia desenvolver um pouco mais?
Foi como eu contei. Nós estávamos no Rio de Janeiro. Eu acabara de fazer sete anos e meu pai jogou todo o dinheiro na roleta e perdeu. Minha mãe ficou furiosa porque nós perdemos o apartamentozinho que era alugado e fomos morar na pensão do Dr. Frankenstein. Lá a minha mãe conheceu o meu padrastro, Henri Müller, primeiro viola do Theatro Municipal de São Paulo. A música era totalmente filarmônica e clássica. O violino foi aos sete anos de idade, dentro de casa. Porque ele se casou com a minha mãe e permitiu que meu pai morasse junto. Então era meu pai e meu padrasto na mesa de jantar e minha mãe mandava nos dois.
E aí outra coisa pela qual você é conhecido, para além do violino, é enquanto performer de música, é o seu canto. E o seu canto tem, como a sua leitura de poesia inclusive, uma dicção muito particular. Qual é a história de Jorge Mautner cantor? Como que isso veio acontecer? Como você desenvolveu esse talento?
Eu tinha verba aberta e ilimitada para comprar livros e discos, e o meu padrasto fazia bico. Além de tocar no Theatro Municipal, ele ia para as rádios acompanhar Aracy de Almeida e tudo. E eu ia com ele. Então eu conheci Aracy de Almeida, Blecaute, Jorge Veiga, toda a turma e íamos às vezes, por exemplo, para Atibaia, ou um lugar desses de excursão… Eu ia junto! Eu fui no colo da Aracy de Almeida.
A sua literatura e até mesmo a sua discografia, a despeito da sua riqueza e da sua importância, acabaram se colocando um tanto quanto à margem do que seria o mainstream comercial ou até mesmo acadêmico. Talvez por isso, houve certa insistência crítica no uso do termo marginal para se referir a você. Como você lidou, lida com esse rótulo de marginal e a que você atribui essa hipotética marginalidade?
Na verdade, é um elogio máximo. Um marginal tinha coragem de ser diferente e, no entanto… O marginal é o que está à margem do que a caretice da lei e da ordem pregam e que, às vezes, é usado para tirania. Então eu fico, logicamente, muito: hay gobierno, soy contra.
Em contrapartida, essa questão da marginalidade, algumas de suas obras se tornaram um estrondoso sucesso como, por exemplo, especialmente, sua parceria com Nelson Jacobina, “Maracatu atômico”. Quais têm sido os seus sucessos ao longo da sua carreira artística e a que você acha que se deve o fato de essas músicas tornarem-se sucesso? Seriam elas menos marginais?
Não, não. São intensamente marginais. Elas são proféticas, são atuais. A palavra encaixa mais logicamente a ideia; na música, ela continua dançando. Então a música é a coisa mais atávica do ser humano, porque são as batidas do tambor do coração. Quando você se apaixona tum-dum-dum [imita o som do coração acelerado] e começa por aí… Os piu-pius de pássaros, os assobios de tribos, e isso começa a ter um encantamento próprio. E a música nos leva para a quarta dimensão e para todas as outras dimensões.
Há duas obras que celebram parcerias importantes na sua vida, que é o show, que depois virou o disco com o Gil, O poeta esfomeado, de 1987, e o disco com Caetano, Eu não peço desculpas, de 2002. Foram parceiros importantes, são obras importantes. O que você tem a dizer sobre esses momentos?
São meus irmãos. São ápices. São momentos de alegria eterna, de esperança e de muita alegria, amor e paixão.
O seu trabalho mais recente, em disco, se chama Não há abismo em que o Brasil caiba (2019). Esse título tenta disputar uma narrativa sobre o Brasil. Como esse disco foi pensado e o que que veio primeiro? As canções ou o título?
Eu não sei te dizer isso, se foram as canções ou se foi o título. Eu acho que não teve separação. Brota naturalmente. Não tem, digamos, uma lógica aguda para definir… Não tem isso. É como o Brasil. É amálgama. É mais do que mistura, é amálgama.
Você, na sua obra, no seu pensamento, você falou de maneira densa sobre duas coisas: uma coisa da experiência íntima, da autorreflexão, desse tempo; do outro lado, as questões da tecnologia, dos seus avanços, da cibernética, das máquinas. Se olhando para o mundo hoje, o mundo capotado, o mundo que estamos, das telinhas e dos barulhinhos, e de um Donald Trump… essas coisas são compatíveis? A experiência íntima, da reflexão, do autoconhecimento, e ao mesmo tempo esse mundo acelerado da capotagem?
Eu vou te dizer que o mundo da capotagem pode ser o nosso Armagedom, porque as coisas estão totalmente atadas ao interesse monetário. Mas a um nível como nunca se viu. Agora, ao mesmo tempo, nunca houve tamanha liberdade também. O que eu lamento é o fato de não ter leitura. Ela ser substituída por imagens e bombardeios propagandísticos e por tudo, causa um enfraquecimento do espírito humano. Agora, veja bem, essas máquinas de comunicação… Hoje ninguém mais lê livro. Isso é o maior terror.
Mas tem uma questão sobre as máquinas de comunicação, que você já falou, que seria interessante você recuperar, que é quando você falou que, da megacorporação multinacional até a quitanda da esquina, ninguém resiste à sugestão da máquina.
Exato.
Isso é ruim?
Não é ruim nem bom, porque depende. Se a máquina estiver irradiando algo que seja bom, seja instigante…
Depende da sugestão da máquina então? Porque eu lembro que quando você falou isso, primeiro você falou assim, que por isso todo mundo pensa que sabe – por causa da sugestão da máquina –, mas não sabem, porque não sabem como aquele resultado veio até si…
É isso aí. São várias coisas, muitas vezes opostas. Os opostos se atraem. Tudo o que existe é caos permanente. A ciência, os cientistas comprovaram, um exemplo de caos que eu gosto de dar é o seguinte: um buraco negro engole uma galáxia. O outro buraco negro engole uma galáxia, mas cria uma outra. Qual o motivo? É a mesma coisa que gente tá fazendo aqui. Não é fantástico?
Você tem escrito, composto, pensado, criado algo novo nos últimos tempos? O quê?
O tempo todo. Às vezes jogo fora. A minha vida é essa: eu fico fazendo arte, em toda hora. Arte no sentido de brincadeira e arte o tempo todo. É intrínseco. Eu agora tô vendo aquela cortina balançando, falando com a gente, mandando um “olha nós aqui”, olha essa árvore que linda! Se entra ali um gatinho, um cachorro, eu enlouqueço. Eu falo com eles.
PRÉ, PÓS E NEO TROPICALISMO

Você começou a compor canções ainda nos anos 1950. Encontra-se com Gil e Caetano no final dos 1960 e começa a lançar discos em 1970. Caetano cita você em Sampa (“seus deuses da chuva”), e em Verdade Tropical ele cita você também como uma referência importante para ele. Você, Jorge Mautner, é um pré-tropicalista, um tropicalista ou um pós-tropicalista?
Tudo isso.
Há, para você, alguma diferença entre o que foi o tropicalismo, ser tropicalista e um pós-tropicalismo?
Não, essa diferença é uma abstração para parecer lógica. Acabou.
Você sempre defendeu a importância de olharmos para as pautas das identidades. Essas questões identitárias parecem, hoje, ter centralizado definitivamente o debate contemporâneo. As coisas aconteceram do jeito que você imaginava?
Sim e não, em parte… Eu diria que 90% sim e está se encaminhando para isso.
No sentido de que houve bastante emancipação?
Houve, é. E as próprias máquinas, quando elas se tornarem superiores àqueles que as manejam, vão ter esse nosso pensamento mais humano. As máquinas serão mais humanas do que os seres.
Mas, por outro lado, há também especialmente nesses últimos anos um grande retrocesso, né, por exemplo, com um presidente do Brasil que é abertamente racista e machista.
Aí, realmente…
Isso já estava no campo das suas expectativas? Você imaginava que isso aconteceria?
Temerosamente sim. Sim, porque, veja bem, eu sei que se continuarem a queimar a Amazônia virão as tropas da China comunista, dos Estados Unidos, da Rússia e de toda a comunidade europeia ocuparem a Amazônia como ponto central, vital, para respiração e a vida do planeta.
Desde os anos 1970, há um encontro entre contracultura e a indústria da cultura e do entretenimento. Do mesmo modo, essas pautas da identidade – as questões da negritude, da defesa do movimento LGBT, do movimento feminista – aparecem hoje mais ainda sob os holofotes das editoras, dos serviços de transmissão de canções, do serviço de audiovisual, do cinema. É uma relação ambígua?
É o sucesso das ideias. É a verdade inserida nessas coisas… É direto.
A tese da originalidade do Brasil enquanto amálgama de raças e culturas, que tem um parentesco com as ideias defendidas pelo Gilberto Freyre, a construção imaginária e discursiva desse país miscigenado racial e culturalmente, alegre e liberto sexualmente, essa tese está hoje sob profunda crítica desses mesmos grupos. O investimento seu na ideia do amálgama cultural precisa ser revisto? Você pensa criticamente sobre isso, diferente de como pensava?
Não, penso cada vez mais aquilo que eu pensava.
Mas você, hoje, tem um olhar muito mais crítico… Por exemplo, a insistência com a qual você fala da segunda abolição, da importância de resolver a permanência do racismo nas relações brasileiras. Isso, em si, já não é uma relativização daquela ideia muito mais cândida do Brasil enquanto encontro e mistura das raças? Não tem um papel importante para você, no seu pensamento, reconhecer que há um conflito e ele precisa ser lidado?
Esse conflito precisa ser lidado. A proeminência desse sentido veio para ser decapitado. A coisa mais importante é a segunda abolição dos escravos. O Brasil ainda é o país que tem escravos e bem mal disfarçados. Então tem que ser isso, que é nosso amálgama. Isso tá em Guimarães Rosa, isso tá em todos os lugares. É o Kaos com K….
Mas o fato da mistura, Jorge, ela não afasta a realidade de que, por exemplo, o Brasil vive com uma grande parte da população, esta principalmente negra, sujeita a…
A maior parte é negra e os índios são esmigalhados e são quase escravos. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. Não é pelo fato de que o Brasil é um lugar que culturas e etnias se amalgamaram, isso não deixa de… Olha, o governo não governa. Ele é pequenininho. É tudo blefe. Por exemplo, já na época da escravidão, quando um quilombo se tornava muito forte, eles iam, a capitania, “olha vocês estão muito fortes, vocês têm que se mudar”, e o quilombo se mudava para 400 quilômetros e assim foi feito o Brasil. O único que se recusou foi o Zumbi dos Palmares, embora o pai dele concordou em mudar o quilombo. Mas ele insistiu.
Ou seja, mesmo a sua fé na ideia de amálgama não te impede de perceber que o racismo, por exemplo, é uma realidade grave no Brasil.
Nossa senhora, claro! É. Aí é a história de poder, né, pura e simples. Imagina, os brancos geniais como Noel Rosa iam ficar com os negros, né? Fazer samba. Os outros que não tem essa… não precisa ser cidadão negro para ter emoções. É a igualdade que nós estamos falando. Egalité, liberté, fraternité. Isso o Brasil puxou raríssima exceção, nenhum país outro se compara ao Brasil, que é um continente e que foi feito assim e tem tudo isso. Agora é rápido, por causa da tecnologia.
O fortalecimento desses debates e também das redes sociais, também deu voz a esses grupos que eram, e ainda são mantidos de maneira subalternizada e que agora se manifestam, por vezes de forma incisiva, sobre os objetos culturais contemporâneos, que passam a ser olhados e julgados por esse prisma. Como você vê as dimensões progressistas ou autoritárias dessas novas manifestações públicas? Parecem em algo com a patrulha dos anos 1960, 1970, ainda que em outros termos, ou são completamente diversas?
Ambas as coisas. O politicamente correto é politicamente correto. É óbvio, né? Pelo amor de Deus. Somos todos iguais. Não tem ninguém superior ou inferior. Essas categorias são categorias do escravagismo. São pensamentos de Adolfo Hitler…
Ou seja, as pessoas que pertencem a grupos que são discriminados às vezes violentamente no Brasil, elas acompanharem criticamente o que é produzido e denunciarem o racismo, o machismo, você considera isso…?
Isso é mais do que certo. Isso é mais do que urgente. Isso vai resultar nas conclusões que eu cheguei de pacificação, digamos, de vida humana, de consideração ao próximo seja ele anão, gigante, negro, mulato, índio, sei lá.
Todo tipo de gente…
É claro. E também os animais. Isso se estende… É um processo de inteligência lógica. O que se faz… Agora, o problema que eu vejo é o perigo da humanidade, é o que você tá vendo hoje… O coronavírus é uma tecnologia que serviu para eleger o Trump. O Zuckerberg – é montanha de açúcar o nome dele –, essa gente… E depois outra coisa, a coisa mais aterrorizante. Vou te dizer o que aconteceu: ninguém mais lê livros.
Ficou célebre sua afirmação de que “Ou o mundo se brasilifica, ou vira nazista”. Nos últimos anos, estamos assistindo à emergência de um Brasil muito mais autoritário, violento e conservador do que esse Brasil que você defende. Como você vê essa tensão entre esse Brasil que você acredita, tem fé e ama, e esse Brasil que está se revelando, que é escroto, machista, autoritário, violento…
É uma guerra aberta, declarada e clarissimamente identificada. Não tem nem entrelinha. Aí é claríssimo. Se eles não fizeram a reforma agrária e não deram educação, do jardim de infância até a universidade de graça para todos…
Você pensa na morte? Você tem medo da morte?
Olha, claro que eu tenho medo da morte. Não gostaria de morrer. Mas é inevitável. Você se rende aos fatos. A velhice torna você mais fraco, mais cansado. Já é um encaminhamento para isso. Mas haverá uma época em que os seres humanos vão viver mil anos, dois mil anos…
Você falou mais cedo, enquanto a gente conversava, sobre como a sua cabeça e o fato de criar poeticamente, para você, é uma coisa ininterrupta. Nesse seu imparável fluxo de consciência e criação e pensamento, a morte entra? Ela habita seus pensamentos, seus sonhos?
A morte sempre está presente. Se existe o nascimento, existe a morte. Em tudo. Para as hortaliças. Em tudo, tudo, tudo. Os astros. Um buraco negro engole uma galáxia. Matou a galáxia. O outro buraco negro engole uma galáxia, mas fabrica uma outra. Essa é uma pista. (Risos).
Gostaria que você contasse a lembrança emocionalmente mais marcante da sua vida.
Ah, meu Deus! Meu pai. Minha mãe. Meu padrasto. Minha babá, Lúcia, que era mãe de santo. Os meus amigos, minhas amigas. É difícil, hein, porque para a pessoa sensível todos os momentos são marcantes. Eu não posso dizer é esse, é aquilo. Não. É tudo. Não dá para diferenciar desse jeito. Isso é um equívoco. É tudo, mesmo porque por mais que você faça as coisas pensando e preparando, tem sempre o inesperado. E o inesperado ele é muito forte. Então sempre tem alguma coisa inesperada.

Dois e dois são dois: MC Martina e Acauam Oliveira
por Revista Amarello

MC MARTINA é rapper, poeta e produtora. Idealizadora do Slam Laje, a primeira batalha de poesia falada do Complexo do Alemão, e um dos slams pioneiros a ser realizado dentro de uma favela no Estado do Rio de Janeiro.
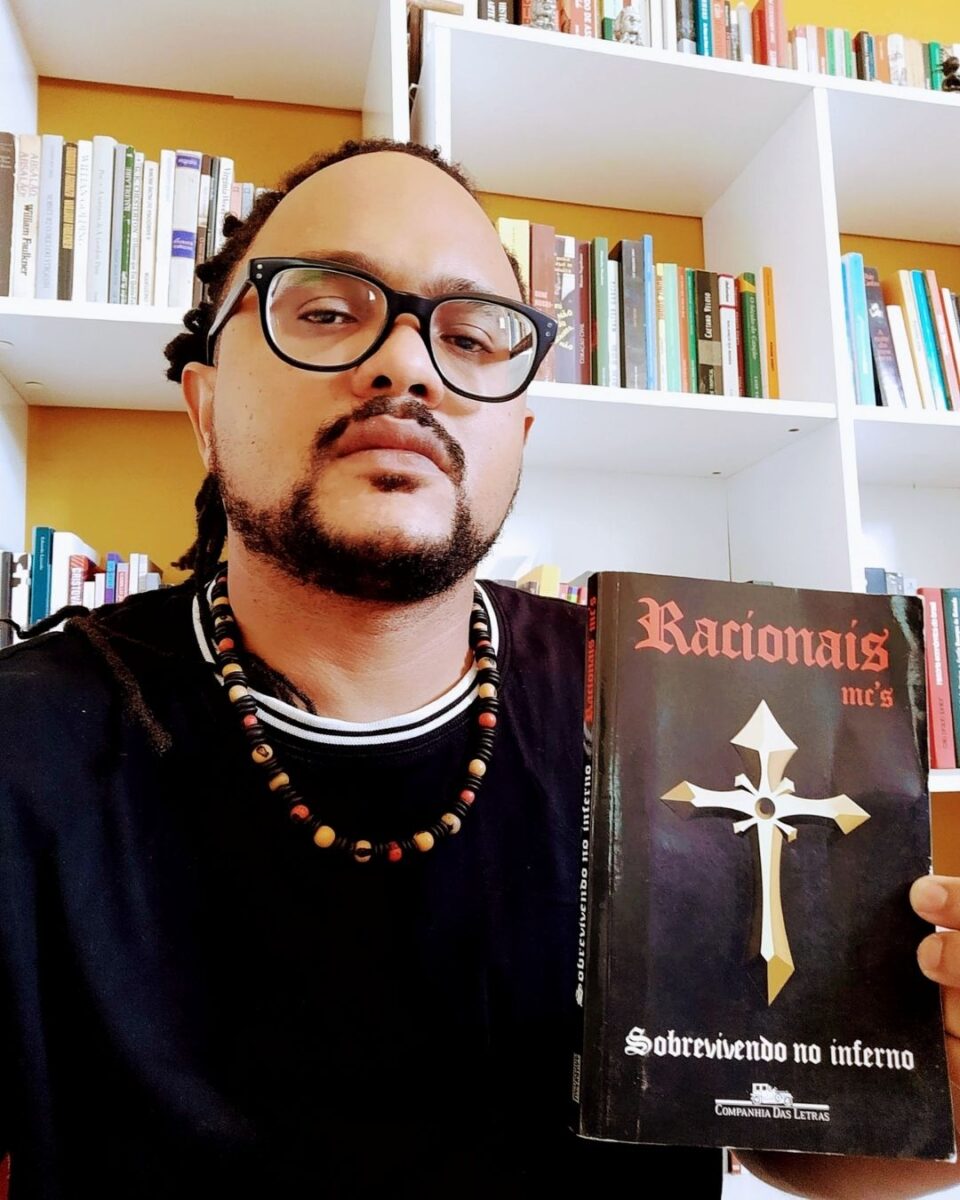
ACAUAM é Doutor em Literatura Brasileira pela USP, professor da Universidade de Pernambuco. Atualmente sua área de pesquisa envolve os campos da literatura, música popular e crítica cultural, bem como questões relacionadas à afrodescendência e às relações étnicorraciais. É autor da introdução ao livro Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MC’s.
MC Martina – Eu sou a Martina, tenho 23 anos e sou poeta do slam e MC. Tudo que eu faço hoje é porque alguém me ensinou. Eu sou cria de projeto social, tanto do Complexo do Alemão quanto do Complexo da Maré. Foram nessas favelas que eu consegui criar senso crítico, e vi uma forma de comunicar as coisas que eu penso, a minha realidade, através da poesia. Eu queria falar em primeira pessoa da minha realidade e uso a poesia para isso. Eu faço o Slam Lage, que é a batalha de poesia; o Ataque Poético, que são ataques de poesia; e me apresento sozinho, de MC Martina. Cada evento é uma metodologia diferente. Já fui em novela, mas vou na escola, na rua, no metrô. Cada lugar é uma dinâmica, uma demanda diferente. Com a batalha de poesia, que se chama Slam Lage, não é só poesia, a gente faz também a batalha de passinho e faz a batalha do conhecimento, além do show. Agora vamos voltar com a batalha de TikTok, pra envolver mais as crianças. No Ataque Poético são um bando de oito pretos recitando uma mesma letra, sempre homenageando algum artista, um escritor preto e periférico. Oito pessoas recitando a mesma poesia, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, em qualquer espaço. É bem legal, as pessoas gostam. Mas tem que tomar cuidado… teve situação que eu fui recitar com meus amigos e as pessoas correram achando que era arrastão. Teve situação que a gente foi recitar e levamos dura. Então são várias situações bem pesadas de racismo. Hoje em dia tá ficando mais acessível. A gente tem tentado humanizar o assunto. Falamos sobre o sistema, mas também queremos falar de amor, de esperança, de outras coisas. Não quero só denunciar algo, eu quero humanizar também. Ano que vem, 2022, faz 100 anos da Semana de Arte Moderna no Brasil e pô, várias coisas aconteceram a partir de lá, eu reconheço, sabe? Só que eu sei que se eu fosse uma pessoa viva na época, eu não entraria dentro do Theatro Municipal de São Paulo. Essas culturas como o Barroco, Arcadismo e Modernismo são muito baseadas na Europa, algo muito embranquecido. Hoje em dia, graças a Deus, passaram outras gerações e a gente tá aprendendo a fazer arte da nossa forma, pegou a visão? Tem coisas que não tem rótulo e outras que é importante ter. O funk, o rap, que é o cenário que eu faço parte, e o slam – que é um grande movimento de literatura tão importante quanto –, a gente precisa ter a oportunidade de valorizar a cultura nacional. De todos os tipos musicais que você for observar – pagode, samba, rap, funk, bossa nova –, a maior parte das músicas e pessoas que têm protagonismo na cena e no mercado são pessoas não negras. E eu acho que isso tem muito a ver com padrão de comportamento. Tem algo errado aí.
Acauam Oliveira – Eu concordo muito com você nessa percepção diversa mesmo do que é um Barroco, de uma inclusão, do Modernismo, para a maneira como a música realmente se organiza. Mas, deixa eu me apresentar… Eu sou o Acauam Oliveira, eu nasci em Marechal, Martina! Meu pai, inclusive, morou aí a vida toda, em Marechal Hermes. Só que daí eu fui para o interior de São Paulo muito cedo. Eu fui criado no interior de São Paulo desde muito cedo, lá em Marília. Depois eu fui fazer universidade na capital e depois, enfim, vim trabalhar aqui em Pernambuco, em Garanhuns. Bom, eu acho que quanto a esse tema maior, o Barroco, quanto em relação a essa questão da pluralidade, na verdade são dois temas que convergem, porque por um lado é uma ideia interessante – essa ideia de que nós somos um país continental, plural, com múltiplas visões, com múltiplas culturas que conversam, que dialogam e que também não se bicam em determinados momentos. Por um lado, tem um Barroco que vai ser legitimado, no interior de uma determinada história da cultura brasileira, da música popular, o Barroco que vai tá lá no Tropicalismo, que vai tá lá no Modernismo, que vai ser recuperado com essa ideia de nação, de mestiçagem. Uma ideia de caldo cultural que forma essa nação a partir de uma pluralidade – preto, branco, índio, tudo misturado – e essa mistura que daria força para a cultura brasileira. Essa é uma narrativa forte. Mas, por outro lado, você percebe que é uma sociedade marcada por processos de exclusão. Então ao mesmo tempo que sim, de fato, tem uma pluralidade muito grande, ao mesmo tempo essa pluralidade é marcada por um processo sistemático de exclusão, em que alguns se beneficiam muito mais dessa dita pluralidade do que outros. É uma pluralidade cultural, mas não necessariamente uma vivência, uma pluralidade dos lucros. Os lucros ficam divididos muito claramente entre quem ganha tudo e quem recebe muito pouco. Então é por isso que a gente pode falar que existe algo dessa pluralidade no Modernismo, mas ela era muito mais plural. Na mesma época da Semana de Arte Moderna aconteceu uma revolução no samba do Rio de Janeiro, nos anos 1930, com o Pixinguinha e a turma do Estácio. No entanto, na história oficial, é muito mais contada a história do modernismo paulista, aquela meia dúzia de sujeitos. Claro que tem a sua importância, mas obviamente não estavam pensando na nação como um todo. Então, existem duas formas muito distintas de se pensar essa pluralidade. A gente pode pensar no lado positivo disso, como no carnaval. Carnaval é essa exuberância barroca, um movimento extremamente popular; por outro lado, se você pensa esse barroco a partir de uma ideia de democracia racial, de pluralidade, integração do Brasil mestiço, do Brasil grande, onde todos estão felizes e contentes construindo a nação, todos juntos de mãos dadas, obviamente que tem uma dimensão ideológica muito forte e carregada nesse discurso. E na música isso é muito claro. A música é um dos ambientes mais plurais que a gente tem na cultura brasileira, mas é também um espaço de exclusão, obviamente. Você tem primeira e segunda classes, e às vezes os gêneros mais populares, como o funk, como o rap, são excluídos. Então em que medida a gente pode falar de uma perspectiva de inclusão, de pluralidade? A gente não pode pensar essa perspectiva sem pensar nas tensões decorrentes desse país que a gente vive. A gente pode pensar a história da cultura, de tudo que se faz da cultura brasileira, a partir desses dois polos, dessa ideia de uma inclusão. Na música isso é muito forte, a impressão de que ela é feita por todas as cores, todos os matizes, pretos, brancos, classe média. Então, você vai ter um movimento de classe média, como a bossa nova e um movimento popular urbano, como o samba carioca dos anos 1930. Mas você também vai ter um movimento rural, do sertanejo e das manifestações de cultura popular tipo maracatu, enfim. Essa é a ideia do Brasil plural-mestiço-barroco. Esse discurso é muito forte, sobretudo até a MPB das décadas de 1970 e 1980. Por mais que tenha uma visão crítica sobre a ditadura, também tem essa visão de que é na música popular que a gente é o Brasil. A partir de um determinado momento nos anos 1980, 1990, principalmente com o rap, com o funk e depois com o slam, vai ficar muito claro que essa narrativa não comporta a totalidade, porque justamente tem esses processos de exclusão que são permanentes. A gente é o Brasil do carnaval, o samba mistura todo mundo, mas quem vai fazer sucesso no exterior com a bossa nova são os brancos, cariocas, de uma região muito pequena da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então foram selecionados meia dúzia de sujeitos. A história da música popular é a história da música do Brasil como um todo. O que tem de melhor na sociedade brasileira é resultado dos momentos em que o povo preto, sobretudo, tem a possibilidade de falar e de construir a sua voz, mas sempre essa possibilidade é barrada em termos de democratização real, no momento de dividir os lucros e dividendos, no momento de dividir quem tem o protagonismo e quem não tem, quem vai falar e vai representar e quem não vai. Então é como se a gente continuasse esses processos do período colonial, em que os pretos produzem aquilo que tem de melhor no Brasil, mas, na verdade, quem fica com a principal parte dessa produção são os brancos. Isso tá na cultura e, logo, na música popular também.
MC Martina – Você falou tudo, hein? Caraca! Tenho que dizer que eu não entendia o que as pessoas cantavam na MPB porque o termo era muito diferente e a forma de cantar também. A sonoridade é uma sonoridade diferente, ainda mais quando eu era mais nova. Eu entendia que era uma música pra branco, sendo sincera. Agora eu entendo que não, não é sobre isso, é sobre muitas outras coisas, mas porque eu tive essa informação. Então eu consigo entender o que eles tão dizendo, mas é um outro dialeto. Um outro vocabulário. Mas também existe uma nova forma de se reproduzir a MPB. Se eu pegar algumas músicas dos anos 1970, do Chico Buarque, talvez eu não entenda como entenda hoje, do Gil, do Caetano Veloso. E eu não curtia tanto, até escutar algumas dessas músicas na voz do Criolo, que fez algumas releituras e me ajudou a entrar nesse mundo. E hoje em dia tem outras pessoas na MPB, tipo Doralice, Bia Ferreira, Luedji Luna, Luellem de Castro. Mulheres pretas, pô! Na periferia a música é mais acelerada. O funk aqui no Rio de Janeiro é em 150 bpm, e em São Paulo, um pouquinho mais devagar. Essas músicas, por serem mais velhas, de uma outra geração, chega diferente aqui. Eu acho que a gente que é jovem tem muita coisa pra falar, aí a gente fala muito. Se tu for ver uma letra de rap… é letra pra caraca! A MPB é metade de uma folha e volta várias vezes o mesmo verso e era isso.
Acauam – Veja, a MPB é uma música que se autointitula Música Popular Brasileira! Então, além de ser a música do Brasil, é a música do povo brasileiro. E daí de repente chega a sua geração, Martina, chega a geração do rap falando “Essa música não é pra todo mundo”. Ou seja, isso que vendiam como música do Brasil, na verdade, tá muito mais localizado numa classe específica, que se comunicava com uma classe específica. Enquanto isso, muita gente criticava o Roberto Carlos, por exemplo, que aí sim é muito mais popular. O que a minha família mais ouvia era Roberto Carlos e pagode. Isso significa que a MPB era muito mais restrita do que acreditava ser. Ela acreditava que tava falando com todo mundo, com todas as classes, com todos os gostos, e de repente ela se reconhece como uma música de uma classe média progressista. É uma classe média ainda menor, porque não é toda a classe média, mas é uma classe média ligada a um certo pensamento de esquerda. Hoje, isso é um baque do qual a galera ainda não se recuperou completamente. Por outro lado, dentro dessa música, acho que não é de todo correto falar que ela é sempre elitizada, sabe? Um exemplo é Jorge Ben, que tocava nos bares. E, no entanto, existe uma disputa pelo Jorge Ben. Tem a galera da MPB, que vai dizer que o Jorge Ben é nosso, o que faz dele o cara do carnaval, do futebol. E tem a galera que vai falar que Jorge Ben é comunidade negra periférica. Jorge Ben falando do Charles, falando do dono do morro, fazendo black music. Existe essa dualidade, mesmo. Quando a MPB percebe isso – na verdade a MPB não percebe, a periferia é que reconhece isso: “Bom, vocês não tão falando pra todo mundo e agora nós temos a nossa voz. Nós podemos construir na nossa voz e agora a gente vai fazer uma voz que nos represente, sem precisar dessa perspectiva integradora que, na verdade, não integra”. Você tem uma história da música brasileira contada até os anos 1980, 1990, quando o rap começa a ganhar força e o funk também, e uma história depois. E, hoje em dia, a narrativa da MPB, essa narrativa de que aquela música tava dizendo respeito a todo Brasil não se sustenta mais, não cola mais. Você não chega e fala: “Ó, essa música aqui tá falando do Brasil como um todo”, porque ela não representa inúmeras realidades. É um choque cultural que possibilita um ganho de qualidade, de conhecimento extraordinário. Depois disso ainda tem esse outro movimento, com Emicida e Criolo. Esses caras tão hackeando a MPB. Milton Nascimento e Jorge Ben são pretos desde o começo. A gente não tá falando da mestiçagem, da integração. Tá falando de uma tradição de escravizados que subverteram as suas condições de negação de existência pra fazer uma das coisas mais extraordinárias do Brasil. É preto isso. Se tão falando que não é, é preciso subverter isso.
MC Martina – É muito isso. Sobre esses processos de inclusão e exclusão, acho que tem dois lados da moeda. Eu sou artista de rua e comecei a fazer minha correria primeiro na favela, depois eu fui pro metrô, pro bar, pro trem. Fui recitar minhas letras e é muito louco como as pessoas demonstram nitidamente que não queriam nossa presença ali. Essa reprodução, de até alguns preconceitos, quando a gente fazia poética nos transportes públicos, não é nem maldade, não. Não é algo como a pessoa não tem cultura e não entende que a gente tá fazendo cultura. Não confunda o oprimido com o opressor. Eu acho que é questão de, primeiro, cansaço emocional; depois, falta de acesso. Você voltando do trabalho, cansadão, aí vem as pessoas falar várias verdades da tua realidade, tu vai ficar é sem paciência mesmo. Às vezes a pessoa não quer pensar em nada, porque a realidade dela é muito complicada, entendeu? Então, no meu ponto de vista, todas as culturas no Brasil – que é um país tão diverso –, hoje em dia, elas acabam muitas das vezes embranquecidas. E é importante falar sobre esse processo de embranquecimento porque é uma realidade que é desde sempre. A maior parte das apresentadoras, desde sempre, são brancas. Na literatura, se você for jogar no Google, quais são os poetas, artistas, escritores mais consumidos? São autores brancos heteronormativos. Agora que eles viram que estão perdendo – como eu posso dizer? Dinheiro –, que passaram a escrever de forma mais popular. Porque se você fosse numa livraria não dava nem pra entender o que estava escrito em praticamente todos os livros. Tipo assim, nada contra não, mano, porque me amarro num Machado de Assis, mas se eu for ler um Dom Casmurro, eu tenho que ler duas, três vezes pra entender o que tá escrito. A cultura muda, a linguagem muda. Só que esse embranquecimento acontece desde sempre e na indústria também. Se você for pegar, qual é um dos filmes brasileiros mais famosos que foi indicado ao Oscar? Cidade de Deus! Cadê o elenco de Cidade de Deus? Quanto o elenco de Cidade de Deus ganhou no filme? Cadê esses atores? A maior parte dos atores não tiveram oportunidade no mercado de trabalho porque – e eu me boto nesse papel também porque eu faço teatro – as pessoas quase sempre só enxergam a gente pra fazer papel de bandido. Papel de ladrão, papel de empregada, papel de faxineira. Eu sei que é mais do mesmo o que eu tô falando, que parece um discurso repetido, mas é a minha realidade. Trazendo um pouco pra música, a maior parte dos cantores de todos os gêneros musicais, que ganham dinheiro mesmo com isso, são brancos. O cara que criou o slam se chama Marc Smith, ele criou o slam lá na década de 1970, numa área industrial. Era algo como um sarau pra galera que saía do trabalho ir recitar. Mas o slam não nasceu no intuito de ser uma denúncia social. Ele pegou essa característica aqui no Brasil. Se você for ver, o slam existe no mundo todo. Durante a Copa do Mundo de slam o conteúdo dos poetas de outros países é diferente da denúncia social. Tem gente que fala de amor, tem gente que fala sobre imigração. Eu conheço um poeta que é de um país do continente africano, um dos primeiros poetas publicados depois do processo de ditadura. Ou seja, o cara é pioneiro. Mas mesmo o slam é embranquecido à beça! Se você for ver as pessoas, no Brasil, que mais ganham dinheiro com isso, são pessoas brancas. Então não tem porque eu falar uma realidade que eu não vivo.
Acauam – Tu tava falando, Martina, dos ataques poéticos. De ir apresentar poesia no metrô, no ônibus e encontrar todo mundo cansado depois do trabalho, não querendo se concentrar em nada. Eu queria perguntar como é que você fez, ou você faz, para conquistar o coração e a alma da galera? Qual estratégia, se é que tem uma, pra ganhar o trabalhador mesmo?
MC Martina – A estratégia não existe, não tem um macete, uma fórmula. Mas, com o dia a dia a gente vai pegando o jeito. Por exemplo, eu me apresentei na barca, no trem, no ônibus, no BRT, na rua e nas escolas. Cada um é um público diferente. Normalmente, a gente pega e dá bom dia, pergunta se tudo bem a gente recitar naquele espaço e as pessoas normalmente ignoram. Se geral não levantar a mão, a gente recita. Tem uns que levantam, que fazem até ataque racista com a gente. Eu já sofri muito racismo no transporte público. Normalmente, a gente tenta recitar as coisas mais leves, entendeu? Pra não fazer o trabalhador ficar transtornado com o sistema. Mas depende do horário. Se você pega o transporte público no feriado, a pessoa tá tranquila, vai curtir o rolê. Se é de noite e tá querendo voltar do trabalho, aí tu já lança uma poesia de amor, uma poesia de mãe, que ele se identifica. No início do dia, geral tá indo pro trabalho, daí se tu manda uma poesia tem que ser pra pessoa começar o dia, aí tu dá um papo de esperança. Aí no meio do dia, já dá uma mensagem cheia de ódio do sistema. “Pô, caraca, meu décimo terceiro não caiu; fui no médico porque passei mal, meu patrão me chamou de vagabundo”. É tudo uma questão de sentir o momento e apostar no diálogo. O slam nasceu na década de 1970, nos Estados Unidos, na mesma década que o hip-hop. A diferença que o slam é um rolê embranquecido. No Brasil, chegou em 2007, por aí. Quem trouxe foi uma moça paulista, chamada Roberta Estrela D’Alva, e aí ela criou o primeiro slam do Brasil, o Zap Slam – Zona Autônoma da Palavra. Depois surgiu o Slam Guilhermina, e em seguida surgiu o Slam do Tresor, esses foram os primeiros slams do Brasil. Aconteceram todos em São Paulo e foram se espalhando para outros estados. Chegou aqui no Rio de Janeiro também por outras pessoas. Só que no início, quando chegou no Brasil, não tinha esse cunho social tão grande, tão enfatizado. Eram mais denúncias sobre feminicídio, questões sobre feminismo, questões populares, nem digo sociais, mas sociais de certa forma. Depois de 2015, 2016, começou a se popularizar cada vez mais. Aí, o que aconteceu foi que a gente, pretinhos, hackeamos a cena, dando um cunho mais social porque falamos a nossa realidade. É interessante falar sobre o slam porque a maior parte do perfil dos poetas é mulher. O que é diferente do rap. O cenário do rap é mais masculino. No slam, as mulheres têm um pouco mais de espaço. E até pra realizar as letras. No Rio de Janeiro, eu realizei a primeira Batalha de Poesia de Favela, aqui no Alemão, e depois vieram outras. Tem o Slam das Minas, que é um slam com recorte de gênero, só pode mulher, é uma outra temática. Hoje em dia já existe uma frente de favelas de slam. Não existe uma organização oficial, mas existe entre nós.
Acauam – O slam se aproxima muito do rap, inclusive nas origens históricas, mas com uma questão, com um diálogo muito grande de ideias mesmo, de ideologia. Porque o rap, na música brasileira, ele representou uma ruptura radical. Enquanto o Chico Buarque cantava “o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, mestre soberano Antônio brasileiro…”, o Racionais cantava Homem na Estrada. Um dizia que nós, todos juntos, somos o Brasil – preto, pobre, branco –, enquanto isso o rap cantava que “ó, os de cima tão lucrando com a morte dos debaixo”, porque é essa visão que o rap coloca. O slam também, muito claramente, coloca essa ideia do que o Brasil significa, o que define o Brasil, antes de mais nada, o Brasil oficial. O Brasil oficial é uma máquina de extermínio, de matar preto, pobre e periférico. Isso define o Brasil. Aquilo que sobrevive, que é o que tem de mais bonito aqui, por exemplo, poesia na quebrada, isso é o que resiste ao Brasil. Não é aquilo que o Brasil dá para o seu povo. O que o Brasil oficial oferece ao seu povo é morte, extermínio e ausência de perspectiva de futuro. O que que tem de bom aqui é aquilo que resiste a essa tragédia. E eu acho que o rap e o slam colocam essa questão de uma maneira incontornável. Depois desse banho de realidade, da força que esse discurso vai ganhando, não tem mais como pensar em formas de integração. Aí você vai ter uma galera de quebrada com uma visão muito do conflito mesmo. Uma visão de que a sociedade é conflito. A cultura brasileira, tudo bem, ela é linda, mas aquilo que tem de positivo na cultura foi criado pela gente, e onde estamos até hoje? Então tem alguma coisa de errado. E não é por acaso que eu acho que esse discurso ganha força dentro do slam também. Pensando em história do rap norte-americano, o rap brasileiro ficou crítico durante muito mais tempo. Eu acho que Racionais é um dos grupos mais críticos da história do rap mundial. Mais radical do que Tupac, e olha que Tupac é Tupac…
MC Martina – Eu também acho, hein?
Acauam – E a galera fica em choque quando você fala isso. O que os Racionais fizeram pouca gente faz. Eu acho que não é por acaso que o slam aqui é tão fortemente marcado pelo discurso de crítica social, mas porque o rap brasileiro trouxe isso. A ideia de “rap é compromisso” tomou uma dimensão aqui que tem em poucos lugares do mundo, porque significa compromisso com a sobrevivência da galera mais pobre. Você falou da questão das mulheres no slam e no rap, eu queria que você falasse um pouco mais. Por que que você acha que tem mais? Porque isso é muito notório. A gente percebe muito claramente que elas têm um espaço muito maior – não que não tenha no rap, mas que tomaram a cena de assalto de uma maneira muito mais radical no slam. No rap parece ter um machismo maior, uma misoginia, não sei. Por que que você acha que isso acontece?
MC Martina – Não é querer falar mal do rap, não, entendeu? O rap é brabo, mas, como acontece em qualquer outro grupo social, o rap é o reflexo da sociedade. E aí reproduz, sim, muito machismo. Se você for ver os trabalhos que têm na pista, é muito mais fácil, no consenso geral mesmo, você escutar o trabalho – mesmo inconsciente isso acontece – de um homem do que de uma mulher. Isso não quer dizer que o da mulher é inferior, mas inconscientemente ele já enxerga como se fosse. Como se tivessem lugares diferentes. No trabalho é a mesma coisa. Mas acho que a gente tem que se rever. Eu, enquanto MC, eu denuncio essa parada que parece que tudo que nós, mulheres, fazemos tem uma qualidade menor. E não, mano. Não é sobre isso. E outras coisas também, homofobia, todo o grupo da sociedade reproduz homofobia. O rap também reproduz. Eu reconheço, não preciso falar que não. Mas acho que isso é algo que a gente tá revendo. Hoje em dia a gente tem poucos nomes, mas temos aí o Quebrada Queer, tem o Rico Dalasam – Dalasam veio do rap, entendeu? E tem outras pessoas LGBT no rap também. Tem o Mana Brutal, a Bicharte, outras mulheres trans, outras pessoas foda que eu tenho ouvido. Porque só precisa de espaço. A minha crítica não é nem ao cara que tá ouvindo, não. Mas a galera que tá ouvindo precisa se ligar porque a gente consome. Mas a galera que tá nos pagando, que tá contratando, precisa pensar numa política antirracista também. Não é só pra fazer show pontualmente, não. Tem que nos colocar no espaço e em cargos de poder mesmo.
Acauam – É interessante pensar que a universidade hoje, como um espaço de poder, tem os Racionais quase como um cânone marginal dentro da sala de aula. Tem bastante pesquisa e inclusive apareceu no vestibular da Unicamp. Isso significa que esses espaços estão sendo tomados… Mas é o que eu costumo dizer: o disco do Racionais, Sobrevivendo o inferno, está na Unicamp. Vitória do povo preto, vitória do Racionais, vitória do rap, vitória do slam. Sim. Mas, os pretos estão lá? Os pretos estão na Unicamp? Porque esse movimento de abrir espaço, entre aspas, pra cultura negra periférica, existe na universidade desde sempre, desde que seja como objeto e não como sujeito, não como agente. Se estuda a escravidão desde que a escravidão existe. Desde que tem universidade no Brasil, se estuda escravidão. Isso não significa que os negros estejam na universidade. A gente segue como objeto, não como sujeito. Então é importante celebrar essas conquistas, é importante reconhecê-las e é importante reforçá-las. E dizer que tem que ter cada vez mais um espaço maior, sim. Hoje eu, por exemplo, dou aula de literatura afro-brasileira e educação étnico-racial. Isso não seria uma realidade dez anos atrás. Seria impossível pensar numa coisa dessas aqui no Brasil. E, no entanto, hoje eu estou dando uma cadeira titular de literatura afro-brasileira. Mas, por exemplo, meus colegas, a maioria dos meus colegas professores não são pretos. Tá longe de ser. Então é preciso nunca perder de vista essa perspectiva do conflito. Celebrar as nossas vitórias, celebrar as nossas alegrias. É por isso que eu acho que o slam é incrível. Ele celebra as nossas alegrias, celebra nossa coletividade, mas sem perder de vista que o conflito é constante. E só pode ser assim pra gente conseguir conquistar alguma coisa no Brasil, porque nada é dado pra gente nessa sociedade.
MC Martina – Pra mim, eu tenho até respeito por essas instituições, porque hoje em dia a gente tem um pouco mais de abertura, mas acontece que costumam pensar que a gente só existe em novembro. Aí todo mundo quer falar de racismo. Outro problema é pensar que a gente só sabe falar sobre racismo, como se nós não tivéssemos inteligência o suficiente pra falar de tecnologia, meio ambiente, urbanização, segurança pública. Segurança pública é outro tema que nos chamam pra falar , principalmente quando tu mora em favela, porque eles querem saber como que é ser morador. Eu tenho conhecimento também. Não tenho diploma, pô, mas meu conhecimento é oral, e aí? Eu sei coisas que uma pessoa de doutorado de Harvard não vai saber fazer. Assim como ele também sabe umas coisas que eu não vou saber fazer, cada um tem seu conhecimento. Eu boto fé que o diploma é importante mesmo. Mas por que a minha sabedoria é menos que a outra? A minha crítica não é nem sobre os espaços, mas enquanto um corpo que realiza atividades pontuais nas instituições culturais do Brasil e que quer humanizar os artistas pretos nesse ambiente. Queria dizer que a gente é muito aberto pra conversar, pra trocar ideia e que é preciso parar de ver a gente como um produto, ou uma mercadoria. Acho que a cultura nunca foi protagonista em nenhum governo, não que eu saiba. Às vezes tem um investimento no esporte, porque esporte também não tem investimento nenhum. Mas se tu for ver, os medalhistas são tudo preto de favela. A gente precisa de política pública. Um governo que nos dê mais edital e que os editais tenham uma linguagem mais acessível pra gente poder se inscrever e fazer mais shows. Que as escolas públicas e particulares nos deem oportunidades também. Conteúdo pra falar nós temos. Algumas letras de slam são uma aula de sociologia em três minutos. E os estudantes vão se identificar, porque a gente tem a mesma idade, ou quase isso.

Em 1918, Gabrielle Chanel se instalou no segundo andar da 31 Rue Cambon. Ali criou uma decoração atemporal, barroca e harmoniosa, um convite para uma viagem que reflete as suas amizades artísticas e abre as portas para sua imaginação.
Perfeitamente preservado desde que ela faleceu em 1971 e classificado como monumento histórico pelo Ministério da Cultura em 2013, este lugar inspirador oferece uma visão fascinante da personalidade de Mademoiselle Chanel.
O apartamento, localizado acima de seus Salões de Alta Costura, é um talismã repleto de talismãs. A composição parece ter poderes mágicos ou sobrenaturais, o espaço é delicadamente edificado por detalhes dotados de história, força, memória e intenção.
Há, ao redor de cada centímetro, uma aura aromática. Uma experiência traduzida por contrastes e sensações. Para além da profundidade narrativa de cada escolha, há uma relação invisível entre os objetos. Como se juntos formassem um alfabeto – signos tridimensionais que até hoje inspiram criações e coleções Chanel.
Entre seus amigos que ali estiveram, um episódio em específico nos mostra o quanto o seu pensamento, tanto em sua vida particular como em seu trabalho, enaltecia as mulheres e o poder do feminino. Durante um jantar, com o seu então marido Richard Burton, Elizabeth Taylor parecia apreensiva. Quando Chanel a perguntou o que estava acontecendo, Taylor respondeu que estava ansiosa pois em alguns dias iria conhecer a rainha da Inglaterra.

Gabrielle disse para ela não ficar nervosa, explicou os protocolos, como ela deveria se portar e no final disse: “Mas lembre-se que foi a rainha que pediu para conhecer você.”
As paredes absorvem força estética, bem como um longo passado de encontros e segredos. Os espelhos e biombos chineses que as cobrem, parecem resguardar portais. É muito impactante adentrar o apartamento-talismã da 31 Rue Cambon. A imersão afeta o corpo todo e transborda fascínio para os outros andares. É como um amuleto que mantém pulsante o legado e as virtudes valorizadas e cuidadosamente materializadas por Gabrielle Chanel.
Conheça mais sobre o apartamento-talismã de Coco Chanel aqui.
Sofia Borges (Ribeirão Preto, 1984) vive em São Paulo e, no momento, realiza residência artística em Jerusalém. É uma artista conceitual, que se utiliza do meio fotográfico há mais de uma década para estudar noções filosóficas sobre a relação entre matéria e significado. Ao se valer da colagem, da performance, do fogo e das camadas de pigmentos, Borges cria imagens que parecem irreais, muitas vezes interpretadas erroneamente como projetadas ou manipuladas por software. A estética radicalmente estranha de suas “fotografias tradicionais” vem do fato de construir cenários fotográficos complexos, que nascem ora de algo existente, ora de algo que é construído e depois fotografado.
Em uma prática espiralada de busca pela origem e densidade da imagem, Sofia Borges explora um exercício de observação e adição de camadas de sentido — conteúdo e material — sobre o que é a superfície do visto e o que somente se faz possível desvelar por trás dessa superfície. Sua prática é antitética à mídia fotográfica, que se propõe a registrar o visível, quase em uma atividade ontológica prática, abordando a concepção do entendimento sobre o todo. Nessa perspectiva, Borges nos dá a dúvida do inverso: imagens materiais, documentando o lado invisível da percepção.
Na capa desta Amarello, Sofia apresenta obra inédita, criada especialmente para concluir os três atos que propôs como sua participação na exposição Imagens que não se conformam, realizada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em parceria com o Museu de Arte do Rio. Ao trabalhar com a coleção do Brasil Império, a artista realizou, nesse terceiro ato, uma performance dentro da instalação que criou para a exposição. A instalação (segundo ato de sua proposição) era composta por fotografias de Borges, cortinas de veludo dourado, a pintura de uma indígena Tapuia sem autoria conhecida e, à frente da pintura, a “mão moldada em bronze do Imperador Menino”, uma das insígnias da monarquia brasileira durante a coroação do imperador D. Pedro II. Nesse terceiro ato, a artista se fotografa entregando ou devolvendo a mão do imperador à Tapuia, investindo nesse gesto uma vontade infinita de reparação, bem como de futuro.
Rudy Ricciotti vê a arquitetura como um produto do seu contexto, combinando o poder da criação com uma genuína cultura de reconstrução e amplificação dos ecos de outrora. Nascido em 1952, o arquiteto e engenheiro francês já apresentou ao mundo uma série de trabalhos experimentais premiados, que se caracterizam pelo uso inovador de materiais – em especial, o concreto –, aplicados com preciosa imaginação aos mais diversos ambientes.
Ao longo de toda a carreira, Ricciotti nunca quis tomar de refém aquilo que já existe. Distinguindo-se da abordagem arquitetônica praticada amiúde, a destruição não faz parte da sua construção. Sua visão contribui para a fluidez dos espaços, formulando um diálogo entre épocas, sem que uma projete sombras sobre a outra. Como o próprio arquiteto diz, mais do que nunca isso se faz necessário, pois é a partir do discurso e da poesia plural que se faz resistência. Indo contra os ditames da globalização, num só tempo Ricciotti resgata e amplia a beleza, a legibilidade e a funcionalidade da história. Nutrido de uma particular inovação-preservação, prova que é possível agarrar o real com uma mão e, com a outra, reescrevê-lo.

Para citar alguns de seus prêmios e ilustrar a dimensão do impacto de sua obra, só no ano de 2006 ele foi galardoado com o Grand Prix National d’Architecture e com a Médaille d’or de l’Académie d’Architecture. Teve participações marcantes, grifadas pelo pioneirismo, em projetos como:

Departamento de Artes Islâmicas (Louvre) – Cercado pelas fachadas neoclássicas do pátio Cour Visconti, um véu ondulante de vidro tesselado surge imponente. É o teto da ala dedicada à cultura islâmica, representada pelo tapete, tão presente no ideário do Islã. Com o cuidado de não se sobrepôr às fachadas que a rodeiam, a ala foi elaborada ao lado de Mario Bellini.

Museu Jean Cocteau – Inspirada no clássico de Cocteau, A Bela e a Fera, de 1946, essa concepção cria uma mistura de linhas serpenteantes que, qual o filme, brinca com a luz e a sombra, jogando fumaça sobre o que é sólido e o que é poesia. Ricciotti resgata, assim, um pouco do aspecto sonhador de uma das figuras mais importantes da cultura francesa.

Com o 19M, edifício parisiense que reuniu 11 ateliês do Métiers d’Art da Maison Chanel, também pôs em prática suas principais ideias como criador. O número presente no nome representa o dia 19 de agosto de 1883, data de nascimento de Gabrielle Chanel; já o “M” é uma somatória das palavras métiers, mode, mains e maisons – todas relacionadas ao artesanato. Vê-se, portanto, a necessidade latente de abraçar capítulos passados para só então desenvolver o condão de recontá-los, como Ricciotti tanto gosta de fazer.
Evocando visualmente a malha de um tecido de alta costura, o 19M é um edifício triangular de 25 mil metros quadrados e de pura cronologia. Por acolher uma coleção de empresas especializadas, é tido como um manifesto arquitetônico do alardeado savoir-faire francês. Antigo, mas atual; jovem, mas reverente. Mais um típico projeto ricciottesco, em que os microcosmos do agora se adaptam ao macrocosmos de antes – nunca ao contrário.
Em visita ao espaço, vimos de perto o trabalho do arquiteto, além de entrevistar cinco jovens artistas que dividiram com a gente suas concepções sobre moda, alta-costura, modernidade e o relacionamento do setor com a nova geração.
Assista aqui


A Mão no Brasil é uma série de reportagens originais, produzida para apresentar e valorizar histórias da manufatura e do trabalho artesanal brasileiro.
Em Cunha, município localizado no leste de São Paulo, o sol se levanta cedo. Não diferente, às luzes laranjas da alvorada, os ceramistas logo despertam para desfrutar de um café da manhã reforçado e, no calor que começa a se manifestar com imponência, encontrar a inspiração para o que estão prestes a confeccionar — é mais um dia de produção no Atelier Suenaga & Jardineiro.

Neste cenário rural que mais parece um Haikai vivo, além das cigarras que não deixam de cantar e da cadela Maru, que fareja o chão como se não conhecesse cada centímetro dele, as lenhas de eucalipto estão empilhadas, a argila está descansando e um deslumbrante forno está construído sobre uma rampa. Tudo faz parte de um cotidiano cuidadoso e carinhoso de artesanato, desse bonito ciclo que é a cerâmica em um dos polos ceramistas mais famosos do país.
Na ativa desde 1985, fundado pelo casal Kimiko Suenaga e Gilberto Jardineiro, o ateliê produz principalmente cerâmica de alta temperatura, por meio do forno Noborigama — ou “Dragão de fogo de Cunha”, como também é conhecido nas internas. Na língua japonesa, Noboro é o verbo “subir” e Gama equivale a “forno”, resultando num termo que quer dizer algo parecido com “forno construído na subida”. Ou seja, essa arte milenar japonesa se dá na forma de um forno de dimensões gigantescas, capaz de comportar de 1500 a 2000 peças por vez. Com câmaras refratárias sucessivas, interligadas e construídas em aclive, o fogo vai sendo alimentado em etapas por cada uma das bocas, chegando a até 1400°C.
O Noborigama em si representa bem o espírito do Suenaga & Jardineiro e da gênese por trás de cada um de seus produtos: tradição e sofisticação solidificados em uma só fórmula. De olho nos antepassados, faz-se um presente inesperado e místico que evoca proximidade e afeto com a natureza.

Primeiro, alimenta-se a fornalha a partir da boca de baixo; depois, a boca mais elevada é que recebe as lenhas de eucalipto; por último, é a vez das câmaras intermediárias serem aquecidas, no momento em que o forno crepita em uníssono e as temperaturas chegam ao ápice. O processo de queima pode chegar a até 30 horas de duração, culminando no ponto da transformação do barro em pedra e da fusão do esmalte. No decurso de queimação, lenhas de todos os tamanhos são usadas, variando entre pequenas, médias e grandes, cada qual com o seu propósito.
Uma vez que terminado, chegamos ao clímax glorioso do ciclo: a abertura da fornada.
Chamadas de Kamabiraki, as aberturas acontecem 5 vezes ao ano e são empolgantes por apresentarem resultados imprevisíveis, surpreendendo até os ceramistas mais experientes, que já sabem que não devem se apegar a uma visão fechada do que vai ser aquele produto final. O processo, como qualquer dinâmica da natureza, contém variáveis que criam belezas raras e únicas. Adornadas com o pincel habilidoso de Kumiko, as peças de cada Kamabiraki são inigualáveis. Gilberto Jardineiro, que costumava ser mestre-de-cerimônia dos rituais de abertura até passar o bastão ao filho Giltaro, não à toa gosta de dizer que a cerâmica é uma atividade ligada, acima de tudo, às pessoas, que, em suas individualidades, são singulares como cada vaso, pote ou tigela que sai do Noborigama.



No final das contas, dia após dia, há pessoas envolvidas na preparação e na modelagem de toda a argila, assim como nas queimadas, pinturas e vendas que vêm depois. Saber de quem vem e para quem vai: é esse o ideal que move as estruturas instaladas em Cunha há quase quatro décadas.
Gilberto finaliza: “Vejo a cerâmica como uma analogia da vida — expostas às mesmas circunstâncias, cada peça é um fruto diferente, e, dentro em breve, pra alegria de todos nós, o ciclo se reinicia.”

Já é quase noite e a cadela Maru se refestela na porta de entrada com a língua para fora, tão cansada quanto os ceramistas, que botaram a mão na massa ao longo de mais um dia produtivo. O repouso é necessário não só para eles e Maru, mas para toda a moção ceramista, que se faz também de pausas — seja da argila, da lenha ou das peças em modulação. Quando a noite chega e os grilos cricrilam, fica claro que mais um mini-ciclo se encerra.
O amanhã há de chegar no Atelier Suenaga & Jardineiro, e chegará com calma. A próxima fornada há de queimar em seu devido tempo, o próximo Kamabiraki há de acontecer quando for propício, o processo há de se reiniciar com espaço de sobra para o novo se criar.
Pessoal e paciente assim, a cerâmica da natureza acontece.

Em março de 1915, num Estados Unidos ainda neutro em plena Primeira Guerra Mundial, chegava ao mundo Rosetta Nubin. Filha de pais religiosos que participavam ativamente das atividades da igreja, desde cedo Rosetta foi incentivada a fazer o mesmo: aos 6 anos de idade, juntou-se à mãe para se apresentar regularmente pelo sul dos EUA com um itinerante grupo musical evangélico. Daí em diante, nada parou a menina de desenvolver seu talento musical prodigioso — dona de vocais potentes, arrebatou as pessoas trovejando uma gravidade emocional ímpar, e, com a sua guitarra sempre a tiracolo, fez o mundo tremer.

No auge dos 19 anos, já no norte do país, casou-se com o pastor Thomas Thorpe. O casamento durou pouco, mas serviu a um grande propósito: ao adotar oficialmente o sobrenome do pastor e assumir o erro de grafia que veio junto (um “o” que virou um “a”), encarnou o nome artístico Sister Rosetta Tharpe, que nunca deixou de ser usado. Com vinte e poucos anos nas costas, apesar da pouca idade, Rosetta amadurecia um estilo inigualável de tocar, unindo o blues, jazz e gospel com distorções elétricas mirabolantes, em uma fórmula que jamais havia sido ouvida. Tamanha era a intensidade com que se apresentava e tamanho era o peso do que esmerilhava na guitarra que voos maiores não demoraram a acontecer. No final da década de 30, lançava o seu primeiro disco.
Era o rock’n’roll tomando forma.
Em 1945, lançava aquela que é considerada a primeira gravação do gênero, “Strange Things Happening Every Day“. A versão acelerada, cheia de arpejos e com aquela levada típica que hoje conhecemos como os primeiros estágios do rock, chamou a atenção de muitos e as revoluções não arredaram o pé: Rosetta seguiu influenciando gerações e mais gerações. Munida de seu virtuosismo na guitarra, em suas performances gostava de conclamar a plenos pulmões, para o mundo inteiro ouvir: “Nenhum homem toca como eu!”

A frase icônica ecoa em alto e bom som. Como as palavras escritas no violão de Woody Guthrie (“Esta máquina mata fascistas”), a mensagem era um berro de alguém que vivera a vida lutando contra o establishment. Contra tudo e contra todos, era uma ameaça viva ao conservadorismo vigente. Além da inventividade musical, que, por si só, era um alerta à preponderância masculina no meio musical, por não ter medo de se relacionar com mais de um sexo, Rosetta ainda foi uma grande representante na luta pela ampliação de espectros sexuais — e tudo isso na sociedade americana de mais de 60 anos atrás, fazendo parte de uma comunidade religiosa, sendo mulher, sendo mulher negra.
É seguro dizer: nenhum homem tocou como ela.
No filme recém-lançado de Baz Luhrmann, Elvis, Sister Rosetta Tharpe é interpretada por Yola, musicista britânica. Como não podia ser diferente, com um quê de justiça histórica, ela é apresentada pelo roteiro como uma influência gigantesca sobre o desengonçado adolescente de Memphis, Tennessee, que amava sua música e que, sem ela, nada teria conseguido. A cultura negra, como um todo — indo de Arthur “Big Boy” Crudup até Chuck Berry e B.B. King —, recebe atenção especial na produção, que deixa claro que o “rei do rock’n’roll” seguiu passos que já haviam sido pisados, ainda que à sua maneira.

Morta em 1973, após um derrame, foi introduzida ao prestigiado Rock’n’roll Hall of Fame somente em 2018. Para dizer o mínimo, a honraria tardou a acontecer, com bons 40 anos de atraso. Pelo menos, aos poucos, vem-se falando mais sobre o impacto para lá de substancial causado pela artista, por aquela menina negra oriunda de família humilde e religiosa. Rosetta traçou um “pré” e um “pós” na história da música que, felizmente, estão cada vez mais evidentes a quem estiver disposto a enxergar.
Quem sabe, com o sucesso do blockbuster protagonizado por Austin Butler e Tom Hanks, não se ventila por Hollywood a ideia de jogar luz sobre uma das principais pioneiras da música popular, conferindo à ela o devido reconhecimento e contando de forma categórica, de uma vez por todas, a história de quem foi a verdadeira mãe do rock’n’roll.
Pois, se Chuck Berry e Elvis Presley inventaram o rock, Chuck Berry e Elvis Presley foram inventados por Sister Rosetta Tharpe.
Talvez você tenha assistido ao filme O Menu ou à série The Bear e acabou horrorizado com o que viu, sem conseguir ignorar aquela voz no fundo da sua cabeça resgatando a velha máxima — toda brincadeira tem um fundo de verdade, não é? A partir de abordagens bem distintas, cada qual com seus exageros, esses dois hits retratam algo em comum: o trato desumano que corre solto pelas cozinhas dos restaurantes mais badalados (comportamento esse que influencia, inclusive, estabelecimentos de menor porte). As duas produções, que pintam ambientes gastronômicos dos mais maníacos e desesperadores, se inspiram em casos recentes de grandes restaurantes e chefs acusados de assédio, sub-remuneração e mais todo o tipo de maus tratos. Na caldeira dessas denúncias, e com as problemáticas expostas por O Menu e The Bear tão presentes no ideário popular atual, o Noma, restaurante de Copenhague considerado cinco vezes como melhor do mundo (a última em 2021), anuncia que vai encerrar as atividades em 2024. Uau. O que isso tudo quer dizer?

O anúncio foi feito no Instagram pelo chef e fundador René Redzepi, de 45 anos, argumentando que “financeiramente e emocionalmente, como empregador e como ser humano, [o modelo] simplesmente não funciona.” Alguns ex-funcionários, no entanto, contaram uma versão um pouco diferente. Alegaram que, na verdade, as portas do Noma estão para fechar porque trata-se de um local de trabalho insustentável, com um ambiente reinado pela hostilidade e o prazer doentio pelo controle, além de condições de trabalho precárias, sem garantias e muitas vezes não remuneradas. Seja como for, a mensagem impactou o mundo gastronômico.

Desde de sua inauguração em 2003, o Noma —junção das palavras nordisk (nórdico) e mad (comida)— representou a chegada de uma nova era. Fez isso ao desafiar os conceitos da alta gastronomia, virando as costas para a cozinha francesa, mas sem quebrar a formalidade de uma experiência de elite. A revolução começou a partir de 2004, com a publicação do Manifesto da Nova Culinária Nórdica, um registro dogmático assinado por doze chefs que definia a nova identidade gastronômica de cinco países (Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia) e três regiões autônomas (Groenlândia, Ilhas Faroé e Åland). O manifesto ressalta, sobretudo, a importância do uso de ingredientes locais e a promoção de produtos regionais na confecção de porções pequenas servidas com apuro, em apresentações inspiradas na estética escandinava. Depois do Noma, vários restaurantes reproduziram tais ideais e reafirmaram a influência da cozinha nórdica. Foram anos e anos de trabalho árduo para chegar aos mais altos patamares.
Hoje em dia, é importante levantar a questão: tudo isso foi alcançado a que custo?

O famoso índice Michelin, que entrega, e principalmente não entrega, estrelas de acordo com diretrizes arbitrárias e um tanto anacrônicas, demanda algo que não bate com a mentalidade contemporânea. Para estabelecer um suposto alto padrão, o processo de inspeção se baseia, em tese, nos seguintes critérios: domínio do sabor e técnicas culinárias; a personalidade do chef na sua cozinha; relação qualidade/preço; e consistência entre visitas. Mas a verdade é que os critérios usados pelos inspetores são enigmáticas, para não dizer escusos, e os meios para se atingir essas estrelas são extremamente custosos. “Nenhum chef faz fortuna por causa de estrelas Michelin”, diz o jargão — afinal, até que se chegue ao panteão, já se gastou todo o dinheiro do mundo mortal. Há ainda a vida pós-estrela e a dificuldade de atender às expectativas dos clientes. Uma estrela já é suficiente para fazer com que a pessoa sentada à mesa espere que cada garfada levada à boca contenha o mundo. O restaurante agraciado com o brilho Michelin tem que estar preparado não só para o sucesso, mas também para atender aos paladares mais exigentes, e a resposta para isso é… gastar (e, claro, cobrar) mais.
A própria ideia de se comer luxuosamente não é tão aceita na atualidade, uma vez que fazer isso significa financiar uma indústria que notoriamente explora estagiários, não está preocupada com medidas ambientalmente sustentáveis, e se agarra mais às aparências do que à qualquer outra coisa. A busca ensandecida pelas estrelas resulta em estilhaços e mais estilhaços, atingindo quem quer que esteja pelas proximidades. O lugar da moda “para ver e ser visto” perde força na medida em que se apresenta com toda essa bagagem negativa, uma má fama que vem reverberando em maiores decibéis nas vozes dessas pessoas trabalhadoras agora munidas dos meios de comunicar a todos os perrengues pelos quais passam.
Apesar da figura do chef exigente e indefectível ainda ser romantizada — basta tomarmos como parâmetro programas como Hell’s Kitchen, com o tirânico Gordon Ramsay, ou o equivalente brasileiro Pesadelo na Cozinha, com Erick Jacquin —, ela vem recebendo o devido questionamento. Pode uma indústria que tem se sustentado sobre as bases mais condenáveis voltar à glória fazendo valer valores mais dignos? Talvez a gastronomia de alto luxo sobreviva. Talvez não. Enquanto isso, parece mais provável que vejamos mais restaurantes renomados encerrando atividades, ou encontrando dificuldades, em meio a revelações desagradáveis e revoltas de trabalhadores em estado profundo de burnout.
Não podemos, porém, desconsiderar algo importante nessa equação: estamos falando de nada mais nada menos que comida. Simples, e complexo, assim — comida. Com menus elaborados minuciosamente ou não, com um arsenal de talheres específicos para cada um dos pratos ou não, as pessoas ainda vão se importar com o que vão comer. O clichê propalado pela ficção científica de que, num futuro não tão distante, nos alimentaremos por pílulas ou por comidas enlatadas multinutricionais, preocupados única e exclusivamente com o sustento alimentar e não com os prazeres do paladar, na verdade não acontecerá assim tão cedo. As possibilidades, os futuros e os limites da culinária sempre suscitarão interesse. Como os ingredientes são cultivados? Como são colhidos e consumidos? Quero mais disso, quero mais daquilo. Quero consumir algo que condiga com minhas visões de mundo. Quero algo que faça com que eu me sinta bem.

Difícil saber exatamente o que será do mundo gastronômico. Estamos saindo de uma pandemia que alterou conceitos de uma vez por todas; as redes sociais imprimem um ritmo insano e a ordem do dia parece mudar a cada instante; o mundo passa por mudanças climáticas que cedo ou tarde pedirão a conta, e o farão sem a famosa cortesia do braço levantado direcionado para o atendente e da mão que simula uma caneta. Acessibilidade, sustentabilidade e humanidade parecem ser o caminho. Ou melhor, parecem ser convicções mínimas que têm tudo para ditar o que se fazer daqui adiante. Pontos de partidas que tardaram a chegar, é verdade, mas que agora não podem mais ser ignorados — quem o fizer, queima na largada.
Enquanto O Menu e The Bear são sucessos, o ex-melhor-restaurante-do-mundo está para fechar. Isso é fato. Os outros Nomas, aqueles que suam sangue (se você viu O Menu, perdoe a expressão) para oferecer o melhor, estão com os dias contados. Os tempos estão mudando. Somos, ainda bem, cada vez mais humanos. E, como os seres humanos ligeiramente melhores que estamos nos tornando, nossas percepções estão mais sensíveis aos desprazeres da vida — enfim não somente aos da nossa, mas também às agruras de vidas alheias. Justamente por isso, mais do que nunca estamos em busca de respostas abrangentes que permitam o desfrutar consciente dos prazeres. O prazer, e tudo que ele quer dizer, é o conceito-chave aqui.
O paladar em êxtase nunca há de perder força. E que venham os próximos capítulos.